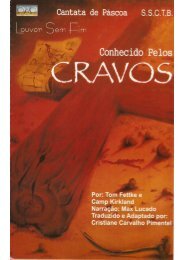INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>INTRODUÇÃO</strong> <strong>AOS</strong><br />
<strong>ESTUDOS</strong> <strong>LITERÁRIOS</strong>
SOMESB<br />
Sociedade Mantenedora de Educação Superior da Bahia S/C Ltda.<br />
Presidente ♦ Gervásio Meneses de Oliveira<br />
Vice-Presidente ♦ William Oliveira<br />
Superintendente Administrativo e Financeiro ♦ Samuel Soares<br />
Superintendente de Ensino, Pesquisa e Extensão ♦ Germano Tabacof<br />
Superintendente de Desenvolvimento e>><br />
Planejamento Acadêmico ♦ Pedro Daltro Gusmão da Silva<br />
FTC - EAD<br />
Faculdade de Tecnologia e Ciências - Ensino a Distância<br />
Diretor Geral ♦<br />
Diretor Acadêmico ♦<br />
Diretor de Desenvolvimento e Inovações ♦<br />
Diretor Comercial ♦<br />
Diretor de Tecnologia ♦<br />
Diretor Administrativo e Financeiro ♦<br />
Gerente Acadêmico ♦<br />
Gerente de Ensino ♦<br />
Gerente de Suporte Tecnológico ♦<br />
Coord. de Telecomunicações e Hardware ♦<br />
Coord. de Produção de Material Didático ♦<br />
Reinaldo de Oliveira Borba<br />
Marcelo Nery<br />
Roberto Frederico Merhy<br />
Mário Fraga<br />
Jean Carlo Nerone<br />
André Portnoi<br />
Ronaldo Costa<br />
Jane Freire<br />
Luis Carlos Nogueira Abbehusen<br />
Osmane Chaves<br />
João Jacomel<br />
EQUIPE DE ELABORAÇÃO/PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO:<br />
♦ PRODUÇÃO ACADÊMICA ♦<br />
Gerente de Ensino ♦ Jane Freire<br />
Supervisão ♦ Jean Carlo Bacelar, Leonardo Santos Suzart,<br />
Wanderley Costa dos Santos e Fábio Viana Sales<br />
Coordenação de Curso ♦ Jussiara Gonzaga<br />
Autor (a) ♦ Mônica Oliveira<br />
♦ PRODUÇÃO TÉCNICA ♦<br />
Revisão Final ♦ Carlos Magno Brito Almeida Santos<br />
Márcio Magno Ribeiro de Melo<br />
Equipe ♦ André Pimenta, Antonio França Filho, Amanda<br />
Rodrigues, Bruno Benn, Cefas Gomes, Cláuder Frederico,<br />
Francisco França Júnior, Herminio Filho, Israel Dantas,<br />
Ives Araújo, John Casais, Márcio Serafi m,<br />
Mariucha Silveira Ponte, e Ruberval da Fonseca.<br />
Editoração ♦ John Casais<br />
Ilustração ♦ John Casais<br />
Imagens ♦ Corbis/Image100/Imagemsource<br />
copyright © FTC EAD<br />
Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/98.<br />
É proibida a reprodução total ou parcial, por quaisquer meios, sem autorização prévia, por escrito,<br />
da FTC EAD - Faculdade de Tecnologia e Ciências - Ensino a Distância.<br />
www.ftc.br/ead
Sumário<br />
<strong>INTRODUÇÃO</strong> E GÊNEROS <strong>LITERÁRIOS</strong><br />
07<br />
O QUE É LITERATURA<br />
A literatura fala da literatura – Antoine Compagnon e os demônios<br />
da teoria<br />
Texto-mundo: a questão da representação em Platão e Aristóteles<br />
Mimese e Verossimilhança<br />
Ampliando a noção de “texto”<br />
07<br />
12<br />
15<br />
20<br />
OS GÊNEROS LITERARIOS<br />
A Lírica<br />
O Épico<br />
O Trágico<br />
Bakhtin em seu Epos e Romance<br />
21<br />
27<br />
35<br />
38<br />
EM TEMPO: OUTRAS QUESTÕES LITERÁRIAS<br />
42<br />
QUEM NARRA AQUI<br />
Walter Benjamin: O narrador<br />
A narração na pós-modernidade<br />
Quem é o autor?<br />
42<br />
46<br />
53<br />
Intertextualidades: o labirinto da citação 56<br />
3
OS <strong>ESTUDOS</strong> CULTURAIS<br />
Introdução aos Estudos Culturais<br />
Vozes da América Latina: a inserção de outras leituras<br />
O Cânone<br />
Revendo a noção de ‘literatura’<br />
Glossário<br />
Referências Bibliográficas<br />
59<br />
66<br />
68<br />
71<br />
77<br />
79
Apresentação da Disciplina<br />
Prezado aluno,<br />
A disciplina Introdução aos Estudos Literários tem por objetivo levar você a mergulhar<br />
no universo da crítica e das teorias da literatura e da cultura. Começamos o nosso passeio<br />
refletindo sobre a noção de literatura e sobre a antiguidade clássica, com os primeiros<br />
textos, na cultura ocidental, que tiveram por objeto de estudo a literatura. Mostraremos<br />
que esses textos tinham objetivos bem diferentes daqueles que têm orientado a teoria da<br />
literatura desde a sua constituição como disciplina, porque os autores desses primeiros<br />
textos, os filósofos Platão e Aristóteles, possuíam uma perspectiva normativa e prescritiva<br />
em relação à literatura, o que não é o objetivo da teoria literária. Procuramos, ao longo do<br />
curso, mostrar que o texto literário é um eterno devir e que as reflexões em torno dele devem<br />
sempre se pautar numa recusa a verdades e conceitos totalizadores que possam sufocar a<br />
literatura, funcionando como “camisas de força” para o seu contínuo movimento de “dançar”<br />
com o mundo, revelando-o e sendo revelada por ele. Vigilantemente numa posição de<br />
“advogados do diabo” em relação a essas verdades, compartilhamos a mesma posição de<br />
teóricos contemporâneos da literatura, como Antoine Compagnon, Eneida Maria de Souza,<br />
Jonathan Culler e Silviano Santiago. Imbuídos desse espírito crítico e atentos ao nosso<br />
tempo e ao mundo a nossa volta, revisitamos os conceitos de arte, de teoria da literatura, os<br />
antigos conceitos de mimesis, verossimilhança, catarse, passamos pelos gêneros literários,<br />
expusemos a questão do autor, questionamos a noção de cânone literário, colocamos em<br />
pauta a literatura atual. O nosso porto de chegada são as discussões contemporâneas em<br />
torno da literatura, principalmente a apresentação da perspectiva culturalista, que coloca a<br />
literatura em diálogo com outras manifestações culturais, principalmente com a cultura de<br />
massa, lançando novo desafio a nós, professores, alunos, estudiosos e críticos da literatura<br />
a “oxigenar” e potencializar as nossas formas de ver e de viver a literatura.<br />
Sorte, nos estudos e na vida!<br />
5
<strong>INTRODUÇÃO</strong> E GÊNEROS<br />
<strong>LITERÁRIOS</strong><br />
O QUE É LITERATURA<br />
A literatura fala da literatura – Antoine Compagnon e os<br />
demônios da teoria<br />
Olá! Nas refl exões que iniciaremos acerca do universo da literatura, começaremos<br />
com a questão da arte da escrita. O texto do escritor francês Gilles Deleuze, logo abaixo,<br />
apresentará algumas rápidas questões para pensarmos sobre a língua, o ato de escrever,<br />
dentre outras coisas, que nos fará perceber esse não-limite do literário, suas frestas, seus<br />
sulcos, seu modo de ser e nos fazer delirar!<br />
PRÓLOGO<br />
(Gilles Deleuze)<br />
Este conjunto de textos, dos quais alguns são inéditos, outros já publicados, organizase<br />
em torno de determinados problemas. O problema de escrever: o escritor, como diz<br />
Proust, inventa na língua uma nova língua, uma língua de algum modo estrangeira. Ele<br />
traz à luz novas potências gramaticais ou sintáticas. Arrasta a língua para fora de seus<br />
sulcos costumeiros, leva-a a delirar. Mas, o problema de escrever é também inseparável<br />
de um problema de ver e de ouvir: com efeito, quando se cria uma outra língua no interior<br />
da língua, a linguagem inteira tende para um limite “assintático”, “agramatical”, ou que<br />
se comunica com seu próprio fora.<br />
O limite não está fora da linguagem, ele é o seu fora: é feito de visões e audições<br />
não-linguageiras, mas que só a linguagem torna possíveis. Por isso, há uma pintura e<br />
uma música próprias da escrita, como efeitos de cores e de sonoridades que se elevam<br />
acima das palavras. É através das palavras, entre as palavras, que se vê e se ouve.<br />
Beckett falava em “perfurar buracos” na linguagem para ver ou ouvir “o que está escondido<br />
atrás”. De cada escritor é preciso dizer: é um vidente, um ouvidor, “mal visto mal dito”, é<br />
um colorista, um músico.<br />
Essas visões, essas audições não são um assunto privado, mas formam as fi guras<br />
de uma história e de uma geografi a incessantemente reinventadas. É o delírio que as<br />
inventa, como processo que arrasta as palavras de um extremo a outro do universo.<br />
São acontecimentos na fronteira da linguagem. Porém, quando o delírio recai no estado<br />
clínico, as palavras em nada mais desembocam, já não se ouve nem se vê coisa alguma<br />
através delas, exceto uma noite que perdeu sua história, suas cores e seus cantos. A<br />
literatura é uma saúde.<br />
7
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Esses problemas traçam um conjunto de caminhos. Os textos aqui<br />
apresentados, e os autores considerados, são tais caminhos. Uns são<br />
curtos, outros mais longos, mas eles se cruzam, tornam a passar pelos<br />
mesmos lugares, aproximam-se ou se separam, cada qual oferece<br />
uma vista sobre outros. Alguns são impasses fechados pela doença.<br />
Toda obra é uma viagem, um trajeto, mas que só percorre tal ou qual caminho exterior<br />
em virtude dos caminhos e trajetórias interiores que a compõem, que constituem sua<br />
paisagem ou seu concerto.<br />
DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. São Paulo: Ed.34, 1997.<br />
O texto de Deleuze abre possibilidades de escrita e<br />
rabisca a difi culdade de caracterizar de forma mais precisa<br />
a literatura. Esse trabalho com a linguagem, seu modos<br />
de fazê-la delirar, traçam redes que desembocarão em<br />
questões híbridas (glossário): a literatura fala da literatura,<br />
fala da vida, fala dos estudos literários, da sociedade, das<br />
culturas.<br />
Feito esse primeiro diálogo com o rápido texto de<br />
Deleuze, viajemos, agora, ao lado de Compagnon.<br />
O que este outro escritor-pensador nos oferece é<br />
uma tentativa de historicizar o conceito de literatura e<br />
suas questões, assim como demonstrar sua expansão<br />
para outros âmbitos da vida. Vamos lá?<br />
A LITERATURA<br />
(Antoine Compagnon)<br />
Os estudos literários falam da literatura das mais diferentes maneiras. Concordam,<br />
entretanto, num ponto: diante de todo estudo literário, qualquer que seja seu objetivo,<br />
a primeira questão a ser colocada, embora pouco teórica, é a da defi nição que ele<br />
fornece (ou não) de seu objeto: o texto literário. O que torna esse estudo literário? Ou<br />
como ele defi ne as qualidades literárias do texto literário? Numa palavra, o que é para<br />
ele, explícita ou implicitamente, a literatura?<br />
Certamente, essa primeira questão não é independente das que se seguirão.<br />
Indagaremos sobre seis outros termos ou noções, ou, mais exatamente, sobre a<br />
relação do texto literário com seis outras noções: a intenção, a realidade, a recepção,<br />
a língua, a história e o valor. Essas seis questões poderiam, portanto, ser reformuladas,<br />
acrescentando-se a cada uma o epíteto literário, o que, infelizmente, as complica mais<br />
do que as simplifi ca:<br />
O que é intenção literária?<br />
8
O que é realidade literária?<br />
O que é recepção literária?<br />
O que é língua literária?<br />
O que é história literária?<br />
O que é valor literário?<br />
Ora, emprega-se, freqüentemente, o adjetivo literário, assim como o substantivo<br />
literatura, como se ele não levantasse problemas, como se se acreditasse haver um consenso<br />
sobre o que é literário e o que não o é. Aristóteles, entretanto, já observava, no início de sua<br />
Poética, a inexistência de um termo genérico para designar, ao mesmo tempo, os diálogos<br />
socráticos, os textos em prosa e o verso: “A arte que usa apenas a linguagem em prosa ou<br />
versos [...] ainda não recebeu um nome até o presente” (1447a 28-b9). Há o nome e a coisa.<br />
O nome literatura é, certamente, novo (data do início do século XIX; anteriormente, a literatura,<br />
conforme a etimologia, eram as inscrições, a escritura, a erudição, ou o conhecimento das<br />
letras; ainda se diz “é literatura”), mas isso não resolveu o enigma, como prova a existência<br />
de numerosos textos inti¬tulados Qu ‘Est-ce que l’Art? [O que É a Arte?] (Tolstoï, 1898),<br />
“Qu’Est-ce que Ia Poésie?” [O que É a Poesia?] (Jakobson, 1933¬-1934), Qu’Est-ce que Ia<br />
Littérature? [O que É Literatura?] Charles Du Bos, 1938; Jean-Paul Sartre, 1947. A tal ponto<br />
que Barthes renunciou a uma defi nição, contentando-se com esta brincadeira: “A literatura<br />
é aquilo que se ensina, e ponto fi nal.” 1 Foi uma bela tautologia. Mas pode-se dizer outra<br />
coisa que não “Literatura é literatura?”, ou seja, “Literatura é o que se chama aqui e agora de<br />
literatura?” O fi lósofo Nelson Goodman (1977) propôs substituir a pergunta “O que é arte?”<br />
(What is art?) pela pergunta “Quando é arte?” (When is art?) Não seria necessário fazer o<br />
mesmo com a literatura? Afi nal de contas, existem muitas línguas nas quais o termo literatura<br />
é intradu¬zível, ou não existe uma palavra que lhe seja equivalente.<br />
Qual é esse campo? Essa categoria, esse objeto? Qual é a sua “diferença específi ca?”<br />
Qual é a sua natureza? Qual é a sua função? Qual é sua extensão? Qual é sua compreensão?<br />
É necessário defi nir literatura para defi nir o estudo literário, mas qualquer defi nição de literatura<br />
não se torna o enunciado de uma norma extraliterária? Nas livrarias britânicas encontra-se,<br />
de um lado, a estante Literatura e, de outro, a estante Ficção; de um lado, livros para a escola<br />
e, de outro, livros para o lazer, como se a Literatura fosse a fi cção entediante, e a Ficção, a<br />
literatura divertida. Seria possível ultrapassar essa classifi cação comercial e prática?<br />
A aporia resulta, sem dúvida, da contradição entre dois pontos de vista possíveis e<br />
igualmente legítimos; ponto de vista contextual (histórico, psicológico, sociológico, institucional)<br />
e ponto de vista textual (lingüístico). A literatura, ou o estudo literário, está sempre imprensada<br />
entre duas abordagens irredutíveis: uma abordagem histórica, no sentido amplo (o texto como<br />
documento); e uma abordagem lingüística (o texto como fato da língua, a literatura como arte<br />
da linguagem). Nos anos sessenta, uma nova querela entre antigos e modernos despertou<br />
a velha guerra de trincheiras entre partidários de uma defi nição externa e partidários de uma<br />
defi nição interna de literatura, aceitáveis às duas, mas ambas limitadas. Genette, que julga<br />
“tola” a pergunta “O que é literatura?” - ela é mal colocada -, sugeriu, entretanto, distinguir dois<br />
regimes literários complementares: um regime constitutivo, garantido pelas convenções, logo<br />
fechado - um soneto, um romance pertencem de direito à literatura, mesmo que ninguém os<br />
leia -, e um regime condicional, logo aberto, dependente de uma apreciação revogável - a<br />
inclusão, na literatura, dos Pensées [Pensamentos] de Pascal ou de Ia Sorciere [A Feiticeira]<br />
de Michelet depende dos indivíduos e das épocas 2 .<br />
Descrevamos a literatura sucessivamente: do ponto de vista da extensão e da<br />
1 BARTHES. Réfl exions sur un manuel, p. 170.<br />
2 GENETTE. Fiction et diction, p. 11.<br />
9
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
compreensão, depois da função e da forma, em seguida, da forma do<br />
conteúdo e da forma da expressão. Avancemos dissociando, seguindo<br />
o método familiar da dicotomia platônica, mas sem demasiadas ilusões<br />
sobre nossas chances de sucesso.<br />
A EXTENSÃO DA LITERATURA<br />
No sentido mais amplo, literatura é tudo o que é impresso (ou mesmo manuscrito),<br />
são todos os livros que a biblioteca contém (incluindo-se aí o que se chama literatura oral,<br />
doravante consignada). Essa acepção corresponde à noção clássica de “belas-letras” as<br />
quais compreendiam tudo o que a retórica e a poética podiam produzir, não somente a<br />
fi cção, mas também a história, a fi losofi a e a ciência, e, ainda, toda a eloqüência. Contudo,<br />
assim entendida, como equivalente à cultura, no sentido que essa palavra adquiriu desde<br />
o século XIX, a literatura perde sua “especifi cidade”: sua qualidade propriamente literária<br />
lhe é negada. Entretanto, a fi lologia do século XIX ambicionava ser, na realidade, o estudo<br />
de toda uma cultura, da qual a literatura, na acepção mais restrita, era o testemunho mais<br />
acessível. No conjunto orgânico assim constituído, segundo a fi lologia, pela língua, pela<br />
literatura e pela cultura, unidade identifi cada a uma nação, ou a uma raça, no sentido<br />
fi lológico, não biológico do termo, a literatura reinava absoluta, e o estudo da literatura era<br />
a via régia para a compreensão de uma nação, estudo que os gênios não só perceberam,<br />
mas no qual também forjaram o espírito.<br />
No sentido restrito, a literatura (fronteira entre o literário e o não-literário) varia<br />
consideravelmente segundo as épocas e as culturas. Separada ou extraída das belasletras,<br />
a literatura ocidental, na acepção moderna, aparece no século XIX, com o<br />
declínio do tradicional sistema de gêneros poéticos, perpetuado desde Aristóteles. Para<br />
ele, a arte poética - a arte dessa coisa sem nome, descrita na Poética - compreendia,<br />
essencialmente, o gênero épico e o gênero dramático, com exclusão do gênero Lírico,<br />
que não era fi ctício nem imitativo - uma vez que, nele, o poeta se expressava na primeira<br />
pessoa - vindo a ser, conseqüentemente, e por muito tempo, julgado um gênero menor.<br />
A epopéia e o drama constituíam ainda os dois grandes gêneros da idade clássica, isto<br />
é, a narração e a representação, ou as duas formas maiores da poesia, entendida como<br />
fi cção ou imitação (Genette, 1979; Combe). Até então, a literatura, no sentido restrito (a<br />
arte poética), era o verso. Mas um deslocamento capital ocorreu ao longo do século XIX:<br />
os dois grandes gêneros, a narração e o drama, abandonavam cada vez mais o verso para<br />
adotar a prosa. Com o nome de poesia, muito em breve não se conheceu senão, ironia<br />
da história, o gênero que Aristóteles excluía da poética, ou seja, a poesia lírica a qual, em<br />
revanche, tornou-se sinônimo de toda poesia. Desde então, por literatura compreendeuse<br />
o romance, o teatro e a poesia, retomando-se à tríade pós-aristotélica dos gêneros<br />
épico, dramático e lírico, mas, doravante, os dois primeiros seriam identifi cados com a<br />
prosa, e o terceiro apenas com o verso, antes que o verso livre e o poema em prosa<br />
dissolvessem ainda mais o velho sistema de gêneros.<br />
O sentido moderno de literatura (romance, teatro e poesia) é inseparável do<br />
romantismo, isto é, da afi rmação da relatividade histórica e geográfi ca do bom gosto,<br />
em oposição à doutrina clássica da eternidade e da universalidade do cânone estético.<br />
Restrita à prosa romanesca e dramática, e à poesia lírica, a literatura é concebida, além<br />
disso, em suas relações com a nação e com sua história. A literatura, ou melhor, as<br />
literaturas são, antes de tudo, nacionais.<br />
10
Mais restritamente ainda: literatura são os grandes escritores. Também essa<br />
noção é romântica: Thomas Carlyle via neles os heróis do mundo moderno. O cânone<br />
clássico eram obras-modelo, destinadas a serem imitadas de maneira fecunda; o<br />
panteão moderno é constituído pelos escritores que melhor encarnam o espírito de uma<br />
nação. Passa-se, assim, de uma defi nição de literatura do ponto de vista dos escritores<br />
(as obras a imitar) a uma defi nição de literatura do ponto de vista dos professores<br />
(os homens dignos de admiração). Alguns romances, dramas ou poemas pertencem<br />
à literatura porque foram escritos por grandes escritores, segundo este corolário<br />
irônico: tudo o que foi escrito por grandes escritores pertence à literatura, inclusive a<br />
correspondência e as anotações irrisórias pelas quais os professores se interessam.<br />
Nova tautologia: a literatura é tudo o que os escritores escrevem.<br />
Voltarei, no último capítulo, ao valor ou à hierarquia literária, ao cânone como<br />
patrimônio de uma nação. No momento, notemos apenas este paradoxo: o cânone é<br />
composto de um conjunto de obras valorizadas ao mesmo tempo em razão da unicidade<br />
da sua forma e da universalidade (pelo menos em escala nacional) do seu conteúdo;<br />
a grande obra é reputada simultaneamente única e universal. O critério (romântico) da<br />
relatividade histórica é imediatamente contraposto à vontade de unidade nacional. Donde<br />
a zombaria irônica de Barthes: “A literatura é aquilo que se ensina”, variação da falsa<br />
etimologia consagrada pelo uso: “Os clássicos são aqueles que lemos em classe.”<br />
Evidentemente, identifi car a literatura com o valor literário (os grandes escritores)<br />
é, ao mesmo tempo, negar (de fato e de direito) o valor do resto dos romances, dramas e<br />
poemas, e, de modo mais geral, de outros gêneros de verso e de prosa. Todo julgamento<br />
de valor repousa num atestado de exclusão. Dizer que um texto é literário subentende<br />
sempre que um outro não é. O estreitamento institucional da literatura no século XIX<br />
ignora que, para aquele que lê, o que ele lê é sempre literatura, seja Proust ou uma<br />
fotonovela, e negligencia a complexidade dos níveis de literatura (como há níveis de<br />
língua) numa sociedade. A literatura, no sentido restrito, seria somente a literatura culta,<br />
não a literatura popular (a Fiction das livrarias britânicas).<br />
Por outro lado, o próprio cânone dos grandes escritores não é estável, mas conhece<br />
entradas (e saídas): a poesia barroca, Sade, Lautréamont, os romancistas do século<br />
XVIII são bons exemplos de redescobertas que modifi caram nossa defi nição de literatura.<br />
Segundo T. S. Eliot, que pensava como um estruturalista em seu artigo “La Tradition et le<br />
Talent Individuel” [A Tradição e o Talento Individual] (1919), um novo escritor altera toda<br />
a paisagem da literatura, o conjunto do sistema, suas hierarquias e suas fi liações:<br />
Os monumentos existentes formam entre si uma ordem ideal que é modifi cada<br />
pela introdução, entre eles, da nova (da verdadeiramente nova) obra de arte. A ordem<br />
existente é completa antes da chegada da nova obra; para que a ordem subsista,<br />
depois da intervenção da novidade, o conjunto da ordem existente deve ser alterado,<br />
ainda que ligeiramente; e assim as relações, as proporções, os valores de todas as<br />
obras de arte em relação ao conjunto são reajustados 3 .<br />
A tradição literária é o sistema sincrônico dos textos literários, sistema sempre<br />
em movimento, recompondo-se à medida que surgem novas obras. Cada obra nova<br />
provoca um rearranjo da tradição como totalidade (e modifi ca, ao mesmo tempo, o<br />
sentido e o valor de cada obra pertencente à tradição).<br />
Após o estreitamento que sofreu no século XIX, a literatura reconquistou desse<br />
modo, no século XX, uma parte dos territórios perdidos: ao lado do romance, do drama<br />
3 ELIOT. Tradition and the Individual Talent, p. 38.<br />
11
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
e da poesia lírica, o poema em prosa ganhou seu título de nobreza, a<br />
autobiografi a e o relato de viagem foram reabilitados, e assim por diante.<br />
Sob a etiqueta de paraliteratura, os livros para crianças, o romance policial,<br />
a história em quadrinhos foram assimilados. Às vésperas do século XXI,<br />
a literatura é novamente quase tão liberal quanto as belas-letras antes da<br />
profi ssionalização da sociedade.<br />
O termo literatura tem, pois, uma extensão mais ou menos vasta segundo os<br />
autores, dos clássicos escolares à história em quadrinhos, e é difícil justifi car sua<br />
ampliação contemporânea. O critério de valor que inclui tal texto não é, em si mesmo,<br />
literário nem teórico, mas ético, social e ideológico, de qualquer forma extraliterário.<br />
Pode-se, entretanto, defi nir literariamente a literatura?<br />
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Belo<br />
Horizonte: Ed. UFMG, 2001.<br />
Espero que você tenha apreciado o texto durante sua leitura. Escolhemos este fragmento de<br />
texto pelo fato de, nele, o autor colocar questões que já fazem parte de uma espécie de tradição<br />
no mundo literário. Essas questões perseguem todos os alunos, professores, pesquisadores<br />
de literatura que se debruçam sobre a árdua tarefa de continuar repassando e repensando os<br />
conhecimentos literários. Tarefa que Compagnon faz com gosto e leveza: repensa a literatura dentro<br />
de uma forma não-prescritiva, sem estancar os movimentos pelos quais ela passou ou tem passado,<br />
sem fazer uso de uma predileção crítica ou teórica que exclua leitores menos preparados.<br />
Ao distinguir literatura de fi cção, o autor caminha com o cotidiano, propondo um diálogo<br />
com o senso comum como aquele que também determina um status para a noção do literário,<br />
ainda que essa determinação surja recheada de possíveis mitifi cações acerca do mesmo.<br />
Para saber mais, visite o site abaixo. Nele, você encontrará uma entrevista bem interessante<br />
com o escritor Gilles Deleuze. Fatores extra-literários nos ajudando a pensar a literatura...<br />
http://www.oestrangeiro.net/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=51<br />
Texto-mundo: a questão da representação em Platão e Aristóteles<br />
A Grécia clássica se constituiu como base do pensamento ocidental não somente com<br />
relação à Filosofi a, mas, também, com relação à Poética. O estudo de fi lósofos como Platão<br />
e Aristóteles é fundamental para que possamos discutir os conceitos de representação que<br />
permeiam a noção de literatura no Ocidente. Iniciemos, pois, com Platão.<br />
Mas, quem foi Platão?<br />
Platão foi discípulo de Sócrates e é o autor de obras importantes para a<br />
discussão sobre a literatura e a estética, tais como A República, O Banquete,<br />
O Fedro, etc. Platão interpretou o universo como essencialmente espiritual e<br />
obedecendo a um plano (uma idéia). Desenvolveu a doutrina das Idéias, em<br />
que a Virtude tinha base no conhecimento. O racional, portanto, seria a parte<br />
nobre e boa do homem, enquanto seu corpo se constituiria um obstáculo no<br />
12
alcance das Idéias. Os artistas, de modo geral, e os poetas, em particular, não poderiam<br />
fazer parte do Estado Ideal, a República, por imitarem o mundo das Idéias.<br />
Segundo Platão, o universo obedece a uma ordem. Para tanto, Platão supõe a existência<br />
de um criador, o Demiurgo, que modelou o mundo e todos os seres a partir das idéias já<br />
existentes. O mundo, então, se constitui como o Mesmo, ou as Idéias; seu oposto, o nada,<br />
é o Outro, algo que não são as idéias, portanto, imperfeito.<br />
Platão afi rmava que o homem percebe o mundo através dos sentidos, prefi gurando<br />
o mundo sensível. O mundo sensível se apresenta como o mundo das aparências, ou<br />
seja, o modo como as coisas aparecem aos homens, portanto, o “não - real”, o imperfeito.<br />
Nele, cada homem se apega àquilo que lhe parece real, resultando daí a ocorrência de<br />
divergências de opiniões entre os indivíduos. A noção platônica, portanto, crê em mundos<br />
diferentes: o mundo perfeito ou real, equivalente ao das Idéias; e o imperfeito, aquele que<br />
reproduz as idéias a partir da percepção realizada pelos sentidos. O mundo das idéias e o<br />
mundo sensível, embora separados, encontram-se relacionados, uma vez que as coisas<br />
sensíveis representam “imitações” de idéias que lhe correspondem, do mesmo modo, por<br />
exemplo, como um pintor imita a natureza, pintando-a. Entretanto, é também desta forma que<br />
os homens poderão conhecer as idéias – como um modelo do qual lhe tiramos cópias.<br />
Conhecer é assim reconhecer, lembrar-se das idéias que foram contempladas<br />
pela alma, mas esquecidas por causa do apego do corpo às coisas sensíveis. (p.<br />
51, Abrão, 1999)<br />
A alma, imaterial, incorpórea, e impalpável, participa do mundo inteligível, ou das<br />
idéias, e tem a capacidade de reconhecê-las, tornando-se, então, a conexão entre os dois<br />
mundos. O corpo, entretanto, se constitui como um obstáculo para o espírito (ou alma),<br />
uma vez que veicula as sensações pelas quais o ser assimila a doutrina das Idéias. Como<br />
fi lósofo político, Platão, em seu livro A República, prega a construção de um Estado em<br />
que a população estivesse distribuída em três classes: a classe mais baixa, formada pelos<br />
artesãos, seria responsável pela produção e distribuição; a segunda classe ou intermediária,<br />
pelos guardiões ou soldados, responsáveis pela defesa da sociedade; e fi nalmente, a classe<br />
mais alta, a aristocracia, formada pelos dirigentes do Estado, devido à sua capacidade em<br />
fi losofar. Note-se, porém, que na República não havia lugar para os poetas.<br />
Segundo Platão, os prosadores e os poetas reportam acontecimentos passados, presentes<br />
e futuros através da simples narrativa ou imitação, ou através de ambas (Platão, p.115). Citando<br />
Homero, Platão o critica da seguinte forma: quando ele profere um discurso como se fosse outra<br />
pessoa, acaso não diremos que ele assemelha o mais possível o seu estilo ao da pessoa cuja<br />
fala anunciou? (Platão, p. 117), ou seja, ao narrar um acontecimento, o narrador, no caso Homero,<br />
estaria procurando assemelhar a sua fala à do sujeito que viveu o acontecido, confi gurando-se<br />
assim em uma imitação de alguém que fala. Alegando que os artistas, de modo geral, e os poetas<br />
e prosadores, em particular, poderiam fazer com que a população, especialmente os jovens, se<br />
desviasse do mundo real (das idéias) e o confundisse com a imitação, Platão os impede de fazer<br />
parte da República. E aconselha a vigiar também os outros artistas e impedi-los de introduzir<br />
na sua obra o vício, a licença, a baixeza, o indecoro, quer na pintura de seres vivos, quer nos<br />
edifícios, quer em qualquer outra obra de arte (Platão, p. 132).<br />
Platão não foi o único fi lósofo a pensar a questão da representação, Aristóteles, que foi<br />
seu discípulo, em seus primeiros textos apresenta uma forte infl uência de seu mestre. Entretanto,<br />
Aristóteles, homem dedicado ao estudo da natureza e dos seres vivos, diverge de Platão no tocante<br />
à observação das coisas que se apresentam aos sentidos, e amplia a teoria platônica buscando<br />
a integração dos sentidos como meio de alcançar o conhecimento científi co e fi losófi co.<br />
13
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Para Aristóteles, o conhecimento é um processo de abstração pelo qual o intelecto<br />
produz conceitos universais que, ao contrário das idéias de Platão, não existem<br />
separadamente das coisas e do intelecto. (p 56. Abrão,1999).<br />
Aristóteles acreditava que o mais alto bem para o homem se constituía na auto-realização,<br />
e para tanto, o homem deveria proceder com o controle das emoções, e a conservação do corpo<br />
em boa saúde. Com relação à fi losofi a política, diferentemente de Platão, Aristóteles defendia a<br />
idéia de um Estado governado por uma classe “intermediária” entre a aristocracia e a democracia,<br />
a politéia, na qual haveria lugar para os poetas e os artistas, e onde a tragédia seria o gênero<br />
preferido por levar o homem à catarse.Vejamos ,então, qual o signifi cado da catarse.<br />
Saiba mais !<br />
O termo Katharsis, ou catarse, esteve ligado ao culto de Dionísio, ou Baco, pelo<br />
fato de as danças realizadas neste culto levarem o indivíduo a uma liberação de temor<br />
e malefícios, produzindo, assim, a cura no portador de doenças. O termo, portanto,<br />
associa-se às ciências médicas. Entretanto, justamente devido à sua associação<br />
com a liberação de emoções, a palavra passou a designar a liberação da emoção<br />
causada pela apreciação de um objeto artístico de qualquer natureza. Para Platão,<br />
a catarse surtia um efeito negativo; Aristóteles, porém, ligando a catarse à idéia de<br />
música, aconselha-a com fi ns de “purifi cação”, fato que passou a gerar controvérsias<br />
a respeito da signifi cação do termo, uma vez que Aristóteles não a explica. A palavra<br />
catarse, portanto, encontra-se traduzida como “purgação” no sentido médico, e como<br />
“purifi cação” no sentido religioso.<br />
A catarse tem como função liberar o indivíduo de uma emoção forte, geralmente o<br />
terror ou a compaixão. Desse modo, Aristóteles associa a catarse à poesia trágica, já que na<br />
tragédia, o prazer é o efeito causado pela liberação dos sentimentos de terror e compaixão<br />
acumulados pelos espectadores durante a sua apresentação.<br />
A tragédia é a imitação de uma ação importante e completa; de certa extensão;<br />
num estilo agradável pelo emprego separado de cada uma das suas formas,<br />
segundo as partes: ação apresentada não com ajuda de uma narrativa, mas por<br />
atores, e que suscitando a compaixão e o terror, tem por efeito obter a purgação<br />
dessas emoções (Aristóteles, p. 229).<br />
14
Para Aristóteles, a catarse exerce uma função de controle, uma vez que impede<br />
o excesso passional nos indivíduos, “purgando-os”, e, conseqüentemente, levando-os<br />
a uma clareza racional.<br />
Indicação de site:<br />
http://www.espirito.com.br/portal/artigos/diversos/filosofia/a-arte-poetica.html<br />
Mimese e Verossimilhança<br />
Platão, em A República, considera os artistas como imitadores do “terceiro grau”. O que<br />
signifi ca isso? Platão situa os seres em três categorias, ou graus, e, tomando como exemplo<br />
uma mesa, estabelece o seguinte critério: em primeiro lugar estaria Deus, Criador da idéia;<br />
em segundo lugar estaria o artífi cie, o materializador da idéia; e em terceiro grau e último grau<br />
encontra-se o artista, como por exemplo, um pintor, pelo fato de copiar ou imitar a realidade,<br />
no caso através da pintura. O interesse de Platão residia em identifi car a utilidade do poeta, ou<br />
do artista de modo geral, e o efeito da sua arte, ou seja, o efeito da tragédia no espectador.<br />
Mas ainda não formulamos a mais séria acusação contra a poesia. O que nela há de<br />
mais terrível é a sua capacidade de fazer danos aos homens de real valor, e poucos são os<br />
que escapam à essa infl uência. (Platão)<br />
A concepção platônica pressupõe um efeito negativo da arte sobre o seu apreciador,<br />
pois a emoção causada pela obra de arte, a catarse, prejudicaria o indivíduo no entendimento<br />
da verdade. O platonismo concebe a arte como mimesis, ou seja, a reprodução de algo<br />
que existe na realidade, e que deve ser reconhecido pela razão. As imitações são danosas<br />
aos indivíduos por não se tratarem de objetos reais na essência, mas por se constituírem –<br />
segundo a ótica platônica - de uma visão espelhada da realidade, uma aparência ilusória,<br />
levando os cidadãos ao engano.<br />
Por outro lado, Aristóteles, embora infl uenciado por<br />
Platão, afasta-se da concepção platônica e, considerando<br />
a arte não somente como imitação da realidade – imitatioidentifi<br />
ca a mímesis como a imitação da ação humana,<br />
ou seja, uma representação. Por exemplo, na tragédia, a<br />
representação de um drama envolve a ação do(s) ator(es)<br />
e do texto representado, e que gera uma reação no público<br />
espectador. O objeto artístico, portanto, supõe uma interação<br />
entre o autor e o receptor, considerando que a obra só se<br />
realiza pelo efeito causado no receptor (público).<br />
Enquanto Platão considera a obra de arte como apenas uma imitação, Aristóteles<br />
amplia esta noção considerando a arte não apenas uma mera imitação da realidade, mas<br />
15
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
também como uma imitação do imaginário, ou daquilo que poderia ser,<br />
instituindo, portanto, o conceito de verossimilhança. A verossimilhança é o<br />
resultado do processo artístico da mimese. Conceitualmente, diz respeito<br />
à realidade, mas à realidade fi ccional. Para Aristóteles, a mimese na obra<br />
de arte se daria tanto pela sua semelhança com o mundo real, como pelo<br />
seu afastamento dessa mesma realidade.<br />
Não compete ao poeta narrar exatamente o que aconteceu, mas sim o que poderia ter acontecido,<br />
o possível, segundo a verossimilhança ou necessidade (Aristóteles, p.306).<br />
Mostrando a diferença entre o historiador e o poeta em A Poética, Aristóteles aponta<br />
para o fato que a história tradicional se caracteriza pelo discurso científi co e objetivo, no qual<br />
encontra-se documentado a realidade empírica; a obra de arte, todavia, possui a equivalência<br />
da verdade, isto é, mesmo não sendo verdadeira, tem na sua verossimilhança a característica<br />
responsável pela possibilidade de algo vir a ser ou acontecer.<br />
E a literatura?<br />
A literatura é fi cção, algo que existe na imaginação de seu<br />
criador, e, portanto, não pode ser submetido à uma verifi cação extratextual<br />
(fora do texto).<br />
A literatura cria seu próprio universo, semanticamente autônomo<br />
em relação ao mundo em que vivemos. Ela traz seus seres fi ccionais,<br />
seu ambiente imaginário, seu código ideológico, sua própria verdade:<br />
pessoas metamorfoseadas em animais, animais que falam a<br />
linguagem humana, tapetes voadores, cidades fantásticas, amores<br />
incríveis, situações paradoxais, sentimentos contraditórios, etc. 4<br />
A realidade criada pela fi cção poética tem relação signifi cativa<br />
com o real, uma vez que a criação não parte de um vazio, e sim de algo<br />
que já existe. As estruturas lingüísticas, sociais, e ideológicas, reais,<br />
fornecem o material para que o artista crie o mundo imaginário.<br />
É importante observar que mesmo a literatura de cunho realista é, contudo, fruto da<br />
imaginação do artista, que faz um recorte da realidade que pretende mostrar, mesmo quando<br />
4 - Autor desconhecido. Fonte: Apostila de Teoria da Literatura I-A. Ufba. Profas. Lívia Ma. Santos e Viviane Freitas, 2004.<br />
16
não tem consciência disso e pretenda uma reprodução fi dedigna da realidade. Embora o<br />
texto de Aristóteles não avance a tal ponto, admite-se que a diferença entre o texto “fi ccional”<br />
e o “histórico” ou “científi co” reside no fato que na fi cção existe a consciência do real como<br />
“construção”, enquanto que no segundo, se crê estar reproduzindo os acontecimentos com<br />
fi delidade. Ambos os discursos são, digamos assim, “construções”: enquanto o artista<br />
“constrói” a realidade de forma consciente, o historiador tradicional crê estar se reportando<br />
à realidade dos acontecimentos.<br />
Verossimilhança Interna e Externa<br />
Com relação ao texto artístico podemos observar dois tipos de verossimilhança,<br />
de acordo com o grau de “semelhança” ou “afastamento” da obra diante do mundo<br />
físico, caracterizando, assim, a verossimilhança como interna ou externa. Quando há a<br />
predominância, na obra, de aspectos físicos que se relacionam com o mundo em que vivemos,<br />
chamamos de verossimilhança externa. Por exemplo, Manuel Bandeira, no poema Evocação<br />
do Recife retrata a cidade do Recife, mesmo que em outra época, a partir de lugares reais,<br />
aproximando-se do contexto de realidade e provocando a verossimilhança externa:<br />
Evocação do Recife<br />
Manoel Bandeira<br />
Recife<br />
Não a Veneza americana<br />
Não a Mauritsstaad dos armadores das Índias Ocidentais<br />
Não Recife dos mascates<br />
Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois Recife das revoluções libertárias<br />
Mas o Recife sem história nem literatura<br />
Recife sem mais nada<br />
Recife da minha infância<br />
A Rua da União onde eu brincava de chicote-queimado e partia as vidraças da casa<br />
de Dona Aninha Viegas<br />
Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz<br />
Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas<br />
A gente brincava no meio da rua<br />
Os meninos gritavam:<br />
Coelho sai!<br />
Não sai!<br />
A distância as vozes macias das meninas politonavam:<br />
Roseira dá-me uma rosa<br />
Craveiro dá-me um botão<br />
(Dessas rosas muita rosa<br />
Terá morrido em botão...)<br />
De repente<br />
Nos longes da noite<br />
Um sino<br />
Uma pessoa grande dizia:<br />
Fogo em Santo Antonio!<br />
Outra contrariava: São José!<br />
Totônio Rodrigues achava sempre que era São José.<br />
Os homens punham o chapéu e saíam fumando<br />
E eu tinha raiva de ser menino porque não podia ver o fogo<br />
17
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Rua da União...<br />
Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância<br />
Rua do Sol<br />
(Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de Tal)<br />
Atrás de casa fi cava a Rua da Saudade...<br />
... onde se ia fumar escondido<br />
Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora...<br />
...onde se ia pescar escondido<br />
Capiberibe<br />
Capibaribe<br />
Lá longe o sertãozinho de Caxangá<br />
Banheiros de palha<br />
Um dia eu vi uma moça nuinha no banho<br />
Fiquei parado o coração batendo<br />
Ela se riu<br />
Foi o meu primeiro alumbramento<br />
Cheia! As cheias! Barro boi morto árvores destroços redemoinho sumiu<br />
E nos pegões da ponte do trem de ferro os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras<br />
Novenas<br />
Cavalhadas<br />
Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos<br />
Capiberibe<br />
Capibaribe<br />
Rua da União onde todas as tardes passava a preta das bananas com o xale<br />
vistoso de pano da Costa<br />
E o vendedor de roletes de cana<br />
O de amendoim<br />
Que se chamava midubim e não era torrado era cozido<br />
Me lembro de todos os pregões:<br />
Ovos frescos e baratos<br />
Dez ovos por uma pataca<br />
Foi há muito tempo...<br />
A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros<br />
Vinha da boca do povo na língua errada do povo<br />
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil<br />
Ao passo que nós<br />
O que fazemos<br />
É macaquear<br />
A sintaxe lusíada<br />
A vida com uma porção de coisas que eu não entendia nem<br />
Terras que não sabiam onde fi cavam...<br />
Recife...<br />
Rua da União...<br />
A casa de meu avô...<br />
Nunca pensei que ela acabasse!<br />
Tudo lá parecia impregnado de eternidade<br />
Recife...<br />
Meu avô morto.<br />
Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro como a casa de meu avô.<br />
Rio, 1925.<br />
18
A verossimilhança interna diz respeito à linguagem no que tange a elaboração formal<br />
do texto, aos elementos estruturais e a concepção de que a linguagem utilizada é a criadora<br />
do universo fi ccional. Neste caso, observa-se um maior “afastamento” do mundo exterior e o<br />
autor criará seu universo fi ccional. Como exemplo disso, podemos citar o gênero fantástico,<br />
situado por Todorov como entre o estranho e o maravilhoso, como O asno de ouro, de<br />
Apuleio, ou A Metamorfose, de Kafka. Nessas obras, seres não humanos são inteligentes,<br />
têm sentimentos, mas não fazem parte do mundo real, e sim do universo fi ccional. Vejamos,<br />
como exemplo, o início do texto de A Metamorfose, de Kafka:<br />
Quando certa manhã Gregor Samsa despertou, depois de uma noite mal dormida,<br />
achou-se em sua cama transformado em um monstruoso inseto. Estava deitado sobre a<br />
dura carapaça de suas costas, e ao levantar um pouco a cabeça, viu a fi gura convexa de<br />
seu ventre escuro, sulcado por pronunciadas ondulações, em cuja proeminência a colcha<br />
mal podia agüentar, pois estava visivelmente a ponto de escorregar até o solo. Inúmeras<br />
patas, lamentavelmente esquálidas em comparação com a grossura comum de suas pernas,<br />
ofereciam a seus olhos o espetáculo de uma agitação sem consistência.<br />
Que me aconteceu? 6<br />
Observem que em ambas as concepções de verossimilhança, interna e externa,<br />
o receptor, ou leitor encontra-se envolvido no reconhecimento. Podemos verifi car que<br />
a verossimilhança de caráter externo é comum nas obras realistas, cujas descrições de<br />
cenário e personagens se afi nam mais ao senso comum, ao universo que nos é conhecido.<br />
A verossimilhança interna, contudo, é facilmente encontrada nas obras ditas de “vanguarda”,<br />
e pressupõem um leitor já familiarizado com a linguagem utilizada na obra. Exemplos de<br />
verossimilhança interna podem ser verifi cados na poesia concreta e em enredos que envolvem<br />
elementos sobrenaturais, fl uxo de consciência, etc. Assim, quando a descrição do cenário<br />
está mais próxima da realidade, denominamos de verossimilhança externa; a verossimilhança<br />
interna por sua vez é construída através da linguagem.<br />
6 - KAFKA, Franz. A Metamorfose Um Artista da Fome Cartas a Meu Pai. São Paulo: Martins Claret, 2001.p.17.<br />
19
Ampliando a noção de “texto”<br />
Introdução aos<br />
Após um primeiro contato com a teoria literária, alguns textos críticos e<br />
o diálogo rápido que tivemos com a antiguidade clássica grega, precisamos<br />
reler todas essas ‘impressões’ para pensarmos o presente. Em que instância<br />
a noção de literatura estaria situada na contemporaneidade? Qual seria o<br />
âmbito do literário? Quais seriam as formas de se ‘ler’ o tempo do agora?<br />
Diante do numeroso leque que nos foi oferecido por Compagnon para pensarmos o<br />
Estudos<br />
Literários<br />
que seria essa instância do literário, podemos perceber que, se a literatura fala da vida,<br />
ela se expande para as mais diversas formas de movimentação cultural. Textos diversos,<br />
imagens do cotidiano, grafi tes, músicas, paisagens, fotografi as, arquitetura, enfi m, todos<br />
esses elementos seriam focos de interesse do literário. A literatura se aproveita de todos<br />
esses “textos”, pois eles narram a sociedade, o homem, sua relação com o mundo.<br />
A seguir, trazemos para você uma história em quadrinhos de Robert Crumb. O autor<br />
norte-americano apresenta uma narrativa via imagens que historicizam o caminho que a<br />
América vem fazendo e que representa uma das grandes questões que enfrentamos na<br />
atualidade. Para tanto, o que predomina na sua história não é a linguagem escrita, tal como<br />
estamos habituados, mas uma linguagem plástica, que caminha pelo sensível dos detalhes.<br />
E que se torna extremamente bem sucedida em sua comunicação. Leia, atentamente, a<br />
história a seguir para podermos ‘visualizar’ sua linguagem, tentando pensar, para a literatura,<br />
uma noção de texto que se expande.<br />
Feita essa leitura da HQ de Crumb, percebemos o quão intensa é sua narrativa, mesmo<br />
que esta não seja permeada de ‘palavras escritas’. A noção de texto se amplia para outras<br />
formas que ventilam as palavras e atribuem novos sentidos ao espaço da enunciação. Um<br />
fi lme mudo, a imagem estática de um objeto, o caminhar silencioso de cada um pelas ruas...<br />
todos eles formam um grande texto. A literatura faz dobras na sua forma e, no espaço da<br />
contemporaneidade, qualquer manifestação artística nos ajuda a compreender as instâncias<br />
da arte, da cultura. Pensando uma noção de texto para além das palavras, o olhar da literatura<br />
alcança o longe e fragmentado cotidiano.<br />
Atividades<br />
Complementares<br />
1. Lidos os dois textos, o de Deleuze e o de Compagnon, como você caracterizaria<br />
a literatura, suas formas, seu sentido? E, voltando à pergunta de Compagnon: é possível,<br />
fi nalmente, defi nir a literatura? Por quê?<br />
20
2. Comente a postura de Platão e a de Aristóteles em relação à mimesis. O que você<br />
pensa sobre a concepção de cada fi lósofo? Como você consegue pensar essa noção de<br />
mimesis sendo transformada até os dias de hoje?<br />
OS GÊNEROS <strong>LITERÁRIOS</strong><br />
Os Gêneros Literários são as várias formas de trabalhar a linguagem, de registrar<br />
a história, e fazer com que a essa linguagem seja um instrumento de conexão entre os<br />
diversos contextos literários que estão dispersos ao redor do mundo. Desde a antiguidade,<br />
os gêneros literários são conhecidos e geralmente são divididos, segundo Aristóteles, como:<br />
Lírico, Narrativo ou Épico e Dramático.<br />
Neste segundo bloco, estudaremos cada um dos gêneros literários em particular e as<br />
relações mantidas entre eles. Veremos a lírica, o épico e o dramático, assim como suas<br />
particularidades e, posteriormente, veremos como cada gênero não se estabiliza em uma<br />
fórmula única e totalizante.<br />
A lírica<br />
Minhocas arejam a terra; poetas, a linguagem.<br />
Manoel de Barros.<br />
Ao longo dos anos, o termo “lírica” tem sido<br />
associado à poesia. A etimologia do vocábulo “lírica”<br />
encontra-se ligada à palavra canção. A associação<br />
entre a palavra e a canção deu origem à poesia<br />
cantada, datada da Grécia clássica, e que permaneceu<br />
como tradição até a Renascença quando entrou em<br />
desuso. Entretanto, a partir do século XIX a lírica<br />
passou a ser utilizada para denominar um conteúdo<br />
relacionado com a subjetividade, o “eu”.<br />
Podemos, então, sintetizar e dizer que a lírica se<br />
refere à expressão subjetiva do poeta: suas alegrias,<br />
suas dores, suas incertezas, sua consciência de si<br />
mesmo, sua visão de mundo. O poeta lírico é acima<br />
de tudo um ser solitário; o mundo que o circunda não o importa. Seu interesse reside<br />
21
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
antes de tudo na sua vivência interior; os elementos exteriores servem<br />
como mero pretexto para o poeta explicitar o seu íntimo.<br />
Mesmo quando exprime a natureza, esta não passa da sua própria<br />
visão do que se constitui aquela paisagem, que, por sua vez, dependerá<br />
do “estado de alma” do poeta. Deste modo, portanto, um soneto será lírico<br />
não porque é um soneto, mas por conter uma dada experiência e uma dada<br />
postura mental perante a realidade do mundo. 7<br />
Segundo Hegel, a verdadeira poesia lírica, como toda a verdadeira poesia, tem por<br />
missão o conteúdo autêntico da alma humana. Porém, enquanto líricos, até os conteúdos<br />
mais positivos, mais concretos e mais substanciais devem ser o refl exo de sentimentos,<br />
intuições, idéias ou refl exões subjetivas. 8<br />
A poesia lírica se conceitua como a poesia da subjetividade, da emoção, e do “eu”, e<br />
como decorrência da autocontemplação do poeta tem a sua mais forte característica no conteúdo<br />
ambíguo. O esforço do poeta em traduzir em palavras toda a carga emocional que invade o seu<br />
interior culminará em reduzi-la, valendo-se, constantemente, de metáforas, que, por sua vez,<br />
acarreta uma distorção no seu conteúdo, tornando-o incerto, com mais de um sentido.<br />
Um poema puro seria aquele em que as palavras abandonassem seus signifi cados<br />
particulares e suas referências a isto ou aquilo, para signifi car somente o ato de poetizarexigência<br />
que acarretaria o seu desaparecimento, pois as palavras não são outra coisa<br />
que signifi cados de isto ou aquilo, isto é, de objetos relativos e históricos. Um poema<br />
puro não poderia ser composto de palavras e seria, literalmente, indizível. Ao mesmo<br />
tempo, um poema que não lutasse contra a natureza das palavras, obrigando-as a ir<br />
mais além de si mesmas e de seus signifi cados relativos, um poema que não tentasse<br />
fazê-las dizer o indizível, permaneceria uma simples manipulação verbal. 9<br />
As palavras de Octavio Paz, acima, defi nem o poema como algo que, não podendo<br />
prescindir da palavra para se tornar possível, procura sempre transcender o seu sentido<br />
semântico; esta defi nição confi rma o conceito hegeliano em que as palavras não dão conta<br />
daquilo que o poeta pretende dizer, embora, concomitantemente, aponte para o fato que as<br />
palavras são os recursos dos quais se vale o poeta para poder se exprimir.<br />
Assim, diante da impossibilidade de estabelecer um conceito exato e defi nitivo sobre<br />
poesia, resta-nos mostrar o que ela representa. Mauro Faustino 10 , em seu texto Que é<br />
poesia?, considera que a maneira mais próxima de se conceituar a poesia seria dizer que se<br />
trata simplesmente de uma forma de literatura, a arte da palavra, ou a maneira de organizar<br />
palavras em padrões lógicos, musicais e visuais. A poesia, portanto, é uma excitação dos<br />
sentidos: visuais, auditivos e, sobretudo, um exercício de pensamento. A polis ou a cidade,<br />
ambiente que propiciou o nascimento da poesia para os gregos, permanece como referencial<br />
para os poetas modernos. Contudo, embora os poetas gregos se relacionassem com o<br />
mundo exterior, se distinguiram de seus sucessores, pelo fator “subjetividade.” Enquanto no<br />
mundo grego o poeta narra o mundo do ponto de vista da onipotência, o poeta romântico<br />
acreditava na poesia como expressão da sua subjetividade, do seu “eu”; o poeta moderno,<br />
por sua vez, percebe que a sua relação com o mundo é relativa, justamente porque passa<br />
pelo fi ltro da subjetividade: o poeta moderno sabe perfeitamente que qualquer recorte do<br />
mundo será apenas linguagem. 11<br />
7 - MOISÉS, Massaud. Dicionário de Termos Literários. São Paulo: Ed. Cultrix, 1974. p. 306.<br />
8 - HEGEL. Estética. Poesia. 1964.<br />
9 - PAZ, Octavio. A consagração do instante.<br />
10 - FAUSTINO, Mauro. Que é poesia? In: Poesia e experiência. São Paulo: Perspectiva, 1977. p.60<br />
11 - CARA, Salete de Almeida. O lirismo moderno. In: A poesia lírica. São Paulo: Ática, 1995. p. 40.<br />
22
Isto equivale a dizer que o poeta moderno reconhece a sua incapacidade de apresentar<br />
o mundo de forma verdadeira e inquestionável, ou, ainda, na sua totalidade; o poeta sabe<br />
que a sua visão de mundo é parcial e segmentada.<br />
Observem o soneto abaixo:<br />
Correspondências<br />
Baudelaire<br />
Como longos ecos que de longe se confundem<br />
numa tenebrosa e profunda unidade,<br />
vasta como a noite e a claridade,<br />
os perfumes, as cores e os sons se correspondem.<br />
Baudelaire é o poeta da modernidade por excelência, e conceituou o poema como<br />
uma relação de sons, ritmos e imagens. É o poeta dos boulevares, do novo, da nova<br />
confi guração da cidade, é também o poeta do “feio” e do “transitório” em oposição à beleza<br />
e à eternidade cantada pelos dos seus precursores. Tratando-se, historicamente, de uma<br />
época cuja principal característica se apresenta como a transformação concretizada através<br />
da construção de novas vias públicas (boulevares) e novas descobertas tecnológicas e<br />
científi cas, a modernidade e as mudanças decorrentes deste processo ocasionaram também<br />
a degradação, incluindo, por conseguinte, o que se torna feio e grotesco. À medida que o<br />
progresso se instalou na modernidade, os meios de comunicação evoluíram e o predomínio<br />
da técnica infl uenciou a arte de modo geral. Na poesia, a linguagem expressiva foi sendo<br />
percebida como mediação entre poeta e realidade, perdendo o seu caráter de verdade e<br />
desestabilizando a função do poeta. 12<br />
A fotografi a como a mais moderna técnica de linguagem na ocasião (1829) veio a<br />
infl uenciar a arte de modo decisivo, no que tange ao modo de captar “a realidade”. A fotografi a<br />
desloca o papel do artista revelando-lhe uma nova forma de desvelar o mundo: através de<br />
uma visão pessoal, recortada e, sobretudo, inventiva, de um instante perenizado.<br />
Dica:<br />
Para ver fotos de escritores, entre no site de Lygia Fagundes Telles e vasculhe seu baú!<br />
http://portalliteral.terra.com.br/ligia_fagundes_telles/bau/fotos.shtml?bau<br />
12 - CARA, Salete de Almeida. Op. cit. loc. cit. p. 43.<br />
23
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Evidentemente, a infl uência exercida pela fotografi a predominou no<br />
âmbito da arte pictórica, entretanto, a possibilidade de escolher sob qual<br />
perspectiva se queria revelar o mundo inspirou, inegavelmente, também a<br />
escrita, no caso, a poesia. Ilustrando a situação do poeta versus a nova<br />
cidade, o poeta português, Cesário Verde escreveu:<br />
Nas nossas ruas, ao anoitecer,<br />
Há tal soturnidade, há tal melancolia,<br />
Que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia,<br />
Despertam-me um desejo absurdo de sofrer.<br />
O céu parece baixo e de neblina,<br />
O gás extravasado enjoa-me, perturba;<br />
E os edifícios, com as chaminés, e a turba,<br />
Toldam-se duma cor monótona e londrina.<br />
Donde antes natureza e a sua conciliação com o sujeito, na modernidade, a cidade<br />
surge como paisagem predominante: ruas e lojas engolfam o poeta e seu mundo. Solto na<br />
grande cidade, o poeta moderno busca na História sentido para a sua condição atual, e,<br />
espelhando a sua perplexidade diante do mundo novo, surge uma linguagem alegórica e<br />
fragmentada a dialogar com a tradição. Nessa busca, elementos característicos da poesia<br />
como o ritmo, a sonoridade, a ambigüidade de sentidos, a organização de idéias e associações<br />
criativas, abandonam os antigos modelos e regras, se expandindo e emancipando.<br />
O sujeito lírico moderno não mais existe como referente, ou alguém em particular;<br />
torna-se oculto quanto poeta e como leitor, na medida em que a sua existência surge com<br />
o texto, e o leitor participa através do ato de leitura.<br />
Na lírica moderna, a fala do sujeito lírico não refl ete necessariamente a voz do autor;<br />
o sujeito lírico se encontra imbricado na trama do texto poético. ...sua existência brota da<br />
melodia, do canto, da sintaxe, do ritmo: o sujeito lírico é o próprio texto,e é no texto que o<br />
poeta real transforma-se em sujeito lírico 13 .<br />
A partir do Simbolismo, o sujeito lírico moderno passa a perceber que a subjetividade<br />
pode também ser ilusória, já que o espaço da poesia não se constitui nem do espaço da<br />
realidade nem do “eu”, dando lugar à “precariedade do sujeito”, estabelecida pela via da<br />
própria linguagem. Vejamos o que Fernando Pessoa nos diz sobre o poeta:<br />
O poeta é um fi ngidor<br />
Finge tão completamente<br />
Que chega a fi ngir que é dor<br />
A dor que deveras sente.<br />
Fernando Pessoa<br />
A poesia lírica moderna vem abarcar, portanto, todos os tipos de digressões da “alma”<br />
e do “eu”. Suas audácias resultam num conceito de poesia que se assemelha à transgressão<br />
lógica e num direcionamento à utopia e ao mundo do desejo, uma vez que o poeta liberta-<br />
13 - CARA, Salete de Almeida. Op. cit. loc. cit. p. 46.<br />
24
se de regras e modelos pela via do poema alcançando um outro espaço, o espaço possível<br />
da liberdade e do sonho.<br />
Tomando como exemplo alguns poetas modernos brasileiros poderemos perceber que<br />
o texto se constitui como uma fotografi a ou uma pintura, em que o sujeito lírico é o elemento<br />
que une as escolhas de linguagem que forma o texto em si.<br />
Pensão familiar 14<br />
Manoel Bandeira<br />
Jardim da pensãozinha burguesa,<br />
Gatos espapaçados ao sol.<br />
A tiririca sitia os canteiros chatos.<br />
O sol acaba de crestar as boninas que murcharam.<br />
Os girassóis<br />
amarelo!<br />
resistem.<br />
E as dálias, rechonchudas, plebéias, dominicais,<br />
Um gatinho faz pipi.<br />
Com gestos de garçom de restaurant-Palace<br />
Encobre cuidadosamente a mijadinha.<br />
Sai vibrando com elegância a patinha direita:<br />
– É a única criatura fi na na pensãozinha burguesa.<br />
É pela construção do texto que se revela o sujeito do/no texto, ponto de encontro com o leitor,<br />
elemento indispensável para que o efeito leitura-tradução seja realizado, e tenha signifi cação.<br />
Algumas outras questões a respeito da poesia ainda merecem destaque, como as<br />
suas características e a diferenciação de outros gêneros literários. Vamos ver?<br />
Ezra Pound 15 resume os aspectos representativos da poesia em melopéia, logopéia<br />
e fanopéia, em que cada um desses aspectos corresponde às características rítmicas,<br />
organização/combinação de palavras (forma), e visuais, respectivamente. A fanopéia consiste<br />
na projeção do objeto na imaginação visual; a melopéia se refere à musicalidade ou ritmo; e<br />
a logopéia designa a arte de combinar palavras, dando-lhes forma e conteúdo, e provocando<br />
efeitos e associações através das duas características anteriores, a fanopéia e a melopéia.<br />
Mauro Faustino ainda ressalta dois aspectos importantes na poesia: o prosaico e o<br />
poético. Ambos estão contidos de modo implícito na escrita, considerando que não haveria uma<br />
literatura que, por mais prosaica que fosse, como por exemplo, um relatório, não contivesse<br />
sequer uma palavra, ou uma organização de palavras que não se confi gurasse como “poética”;<br />
por outro lado, não haveria uma poesia tão pura que não abordasse algo prosaico.<br />
Todavia, esclarecemos que a distinção entre a prosa e a poesia se faz por alguns outros<br />
aspectos, a saber: do ponto de vista formal citamos os aspectos concretos, ou exteriores,<br />
da poesia como a sua representação gráfi ca. Acrescente-se também o fato que o poema<br />
possui um caráter mais musical que a prosa – lembremos que no que pese a poética ter se<br />
desvinculado da música, esta ainda se faz presente, marcando a poesia através do ritmo e da<br />
rima, fl uindo e confi gurando o poema. Considerando a prosa e a poesia, ou especifi camente<br />
prosa e verso, como idéias contrastantes, observamos que ambas as formas se distinguem<br />
14 - BANDEIRA, Manoel. Op.cit.loc.cit. p. 27.<br />
15 - POUND, Ezra. Apud MOISÉS, Massaud. Dicionário de Termos Literários. São Paulo: Ed. Cultrix, 1974. p. 316 e 323.<br />
25
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
como expressão verbal, e, embora nitidamente reconhecidas por parte do<br />
leitor, são de difícil restrição a este ou aquele campo de delimitação entre o<br />
prosaico do poético.<br />
Observemos que, neste caso, a defi nição de “prosaico” diz respeito<br />
ao arranjo de palavras que narram, ou descrevem o objeto, enquanto<br />
que poético denomina o arranjo das palavras em padrões que sintetizam,<br />
suscitam, apresentam, criam e recriam o objeto 16 .<br />
Quando o escritor se vale de palavras que descrevem, comentam, personifi cam, ou<br />
analisam o objeto de sua criação, estará adentrando a seara da prosa. Entretanto, quando o<br />
escritor se utiliza de palavras que inovam e recriam o objeto de sua criação, estará se inserindo<br />
no campo da poética. Ou em outras palavras, prosaico é o discurso e poético é o canto 17 .<br />
A prosa é clara; a poesia é ambígua. A poesia é dependente da palavra, e a linguagem<br />
poética, portanto, delas se utiliza para criar e/ou recriar; é no seu uso que o poeta faz e refaz<br />
o objeto de sua criação.<br />
Dando-lhes um novo sentido, o poeta cria imagens que<br />
ampliam o conteúdo semântico desses vocábulos; entretanto, à<br />
medida que as imagens expandem e transcendem o signifi cado<br />
das palavras, promovem também uma multiplicidade de<br />
interpretações nas quais o leitor, e a sua experiência pessoal,<br />
estará inevitavelmente envolvido. A imagem nunca diz só isto; a<br />
imagem diz isto e aquilo, ao mesmo tempo; ou ainda: a imagem<br />
diz que isto é aquilo.<br />
As imagens são produtos imaginários, designadas pelas<br />
palavras organizadas em um conjunto de frases, que, unidas,<br />
compõem um poema. Essas expressões verbais, classifi cadas pela<br />
retórica, são chamadas de comparações, metáforas, símiles, jogos<br />
de palavras, paronomásias, símbolos, alegorias, mitos, fábulas, etc,<br />
tendo todos em comum a pluralidade de signifi cados. Os elementos<br />
que constituem uma imagem não perdem seu caráter concreto e<br />
específi co, entretanto, na constituição da imagem podem provocar<br />
uma signifi cação contrária ou até mesmo paradoxal, como, por<br />
exemplo, quando o poeta afi rma: “as pedras são plumas”. Sabemos que as pedras são<br />
pesadas e que as plumas são leves, entretanto, ao lançar mão desses vocábulos para criar<br />
uma imagem, opõe seus signifi cados alcançando outra signifi cação que não as próprias dos<br />
elementos, individualmente. Daí dizermos que o poema não diz o que é, e, sim, o que poderia<br />
ser. O poeta, através da imagem suscitada, cria e recria realidades que faz sentido para ele. A<br />
imagem poética reproduz a pluralidade da realidade e, ao mesmo tempo, outorga-lhe unidade 18 .<br />
Vejamos a poesia a seguir e refl ita:<br />
O sertanejo falando 19<br />
João Cabral de Melo Neto<br />
A fala a nível do sertanejo engana:<br />
As palavras dele vêm, como rebuçadas<br />
16 - FAUSTINO, Mauro.Op. cit. loc. cit.. p.61.<br />
17 - FAUSTINO, Mauro.Op.cit.loc.cit.p.66.<br />
18 - PAZ, Octavio. A imagem. In: O arco e a lira. Trad. Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. p.131<br />
19 - MELO NETO, João Cabral de. In: A Educação pela Pedra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. p.16.<br />
26
(palavras, confeito, pílula), na glace<br />
de uma entonação lisa, de adocicada.<br />
Enquanto que sob ela, dura e endurece<br />
O caroço de pedra, a amêndoa pétrea,<br />
Dessa árvore pedrenta (o sertanejo)<br />
Incapaz de não se expressar em pedra.<br />
2<br />
Daí porque o sertanejo fala pouco:<br />
As palavras de pedra ulceram a boca<br />
E no idioma pedra se fala doloroso;<br />
O natural desse idioma fala à força.<br />
Daí também porque ele fala devagar:<br />
Tem de pegar as palavras com cuidado,<br />
Confeitá-las na língua, rebuçá-las;<br />
Pois toma tempo todo esse trabalho.<br />
Visite o site:<br />
http://www.ufrgs.br/proin/versao_2/paz/index01.html<br />
Neste endereço você encontrará um texto do escritor mexicano Octavio Paz, no qual<br />
ele pretende construir uma suave distinção entre poesia e poema pelas vias metafóricas e<br />
abstratas. O texto vale a pena ser lido, pois a partir dele você terá maior acesso às teorias<br />
que demarcam esse assunto, se entrosando mais e mais com o tema e com essa linguagem<br />
que coloca em suspensão diariamente, a vida e o tempo.<br />
O épico<br />
O gênero épico, já mencionado algumas vezes<br />
durante as explanações temáticas, é um gênero<br />
mais objetivo que os demais. O mundo objetivo é<br />
emancipado da subjetividade do narrador que não<br />
exprimirá seu estado de alma, mas narrará o estado<br />
de alma dos seres que povoam a obra. O narrador<br />
épico participa da obra na medida em que está<br />
sempre presente no ato de narrar, mesmo quando<br />
os personagens dialogam é o narrador que indica as<br />
ações e que lhes descreve as reações (por exemplo,<br />
João disse, exclamou, gritou, etc). O narrador épico<br />
deseja comunicar alguma coisa a alguém, e como o seu desejo de contar histórias não<br />
envolve a expressão do seu estado de alma, ele possui o distanciamento necessário a fi m<br />
de tornar a sua narrativa objetiva.<br />
O épico tem como característica o tratamento de “um vasto assunto”. Daí ocorrendo<br />
a sua linguagem ser menos sintética do que os demais gêneros, e a menor utilização de<br />
recursos sonoros e rítmicos, como por exemplo, na Lírica. Por este motivo também, o<br />
27
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
narrador épico dispõe de tempo para contar a sua história com maior calma<br />
e lucidez. O gênero épico é constituído por dois “horizontes”: o maior, ou do<br />
narrador, e o menor, ou dos personagens, ambos de pleno conhecimento<br />
do narrador a história já decorreu, o que vem a diferenciar, mais uma vez,<br />
este gênero da Lírica.<br />
Mesmo na narração em que o narrador conta uma estória acontecida<br />
a ele mesmo, o eu que narra tem horizonte maior que o eu narrado e ainda<br />
envolvido nos eventos, visto já conhecer o desfecho do caso.<br />
A distância do narrador também o possibilita a não necessitar se metamorfosear<br />
nos personagens dos quais narra os destinos; poderá imitá-los, fi ngir estar presente nos<br />
acontecimentos, conhecer os sentimentos dos protagonistas, mas nunca se transforma neles.<br />
Estará sempre mostrando, ou ilustrando, as ações dos personagens.<br />
A epopéia e o poema épico, embora vistos como sinônimos, apresentam uma característica<br />
curiosa: nem todo poema épico é, necessariamente, uma epopéia; entretanto, uma epopéia será<br />
sempre um poema épico. Isto se explica pelo fato de que, quando um poema épico torna-se<br />
representativo da história de um povo, torna-se, concomitantemente, uma epopéia. O poema<br />
épico, contudo, não conseguiu se alçar à altura de se realizar como uma epopéia, ou como uma<br />
lenda histórica de uma comunidade. Isto pode ocorrer tanto pela falta de criatividade, ou “engenho<br />
e arte”, ou por estar concentrado em um recorte: um acontecimento secundário, historicamente,<br />
como, por exemplo, Caramuru, O Uraguai, etc. As epopéias podem ser anônimas, ou de criação<br />
coletiva, como, por exemplo, A Odisséia, Ilíada, A Canção de Rolando, El Cid, e a essas se<br />
denomina de epopéia natural, folclórica ou primitiva. As epopéias de autoria conhecida como<br />
Eneida e Os Lusíadas são denominadas de epopéia erudita ou artifi cal 20 .<br />
O personagem central da epopéia, o herói representa o destino de uma comunidade,<br />
e passa por uma série de provas ou aventuras das quais sairá consagrado pela comunidade.<br />
O herói representa os valores éticos do povo ou nação a que a lenda se refere.<br />
A epopéia, como gênero, encontra-se caracterizada por Bakthin por três traços: o<br />
primeiro, pelo passado nacional épico, objeto da epopéia; o segundo, a lenda nacional,<br />
e não a experiência pessoal, atua como fonte da epopéia; e o terceiro, é que o mundo<br />
épico é o tempo do autor e dos ouvintes, distante.<br />
O primeiro traço diz respeito ao passado nacional, isto é, ao mundo da origem da<br />
história de uma nação, constituído pelo que houve de “primeiro” e de “melhor”. O tempo da<br />
epopéia é sempre o passado, inacessível, que atua como referência e orientação para os<br />
descendentes de uma nação, ou povo.<br />
Qualquer que tenha sido a sua origem, a epopéia que chegou até nós é a forma de<br />
um gênero acabado de maneira absoluta e muito perfeita, cujo traço constitutivo é a relação<br />
do mundo por ela representado no passado absoluto das origens e dos fastígios nacionais.<br />
O passado absoluto é uma categoria (hierarquia) de valores específi cos. Para a visão do<br />
mundo épico, o “começo”, o “primeiro”, o “fundador”, o “ancestral”, o “predecessor”, etc.,<br />
não são apenas categorias temporais, mas igualmente axiológicas e temporais, este é o<br />
grau superlativo axiológico-temporal que se realiza tanto pela atitude das pessoas, como<br />
também pela atitude de todas as coisas e fenômenos do mundo épico: neste passado tudo<br />
é bom, e tudo é essencialmente bom (o “primeiro”) unicamente neste passado. O passado<br />
épico absoluto é a única fonte e origem de tudo que é bom para os tempos futuros. Assim<br />
afi rma a forma da epopéia.<br />
A epopéia tem como objeto o tempo e, como única fonte, a lenda. Podemos afi rmar,<br />
portanto, que a força da epopéia reside na memória de um tempo remoto, inacessível, e<br />
20 - MOISÉS, Massaud. Op. Cit.p. 188.<br />
21 - BAKTHIN, Mikhail. Epos e Romance. In: Questões de Literatura e de Estética (Teoria do Romance).São Paulo: Unesp, 1998. p.407.<br />
28
eferencial para as futuras gerações de um grupo social, apresentando valores inquestionáveis<br />
para este grupo. A tradição se apresenta como sagrada. Chamamos de “passado absoluto”<br />
o tempo que não possui nenhuma ligação com o presente; é circular, perfeito, concluído.<br />
A epopéia apóia-se numa lenda nacional; seu discurso é enunciado em forma de lenda. O<br />
mundo épico é longínquo, distante e acabado, não deixando brechas para contestação, ou<br />
avaliação, nisto residindo a sua perfeição. Por isso, exemplos clássicos de epopéia são A<br />
Ilíada e A Odisséia.<br />
O passado épico é uma forma particular de percepção literária do homem e do<br />
acontecimento. Ela coincidia quase que completamente com a percepção literária e com<br />
a representação em geral. A representação literária é uma forma “sub specie aeternitatis”.<br />
Representar e imortalizar pelo discurso literário só é possível e viável para aquilo que é digno<br />
de ser comemorado e mantido na memória dos descendentes; e é no plano antecipado de sua<br />
longínqua memória que ele assume a forma. Para os seus contemporâneos, a atualidade (que<br />
não virá a ser memória) é comemorada em argila, e aquela que visa o futuro (a posteridade)<br />
é comemorada em mármore e bronze 22 .<br />
De acordo com excerto acima, podemos inferir que as epopéias se constituem de fatos<br />
notáveis para um dado grupo social na sua origem, e que por sua vez, irão se confi gurar em<br />
uma lenda, ou uma representação literária, que, sobrevivendo na memória dos descendentes<br />
do grupo será comemorada e valorizada de forma inquestionável pela comunidade.<br />
A epopéia e o poema épico, embora vistos como sinônimos, apresentam uma<br />
característica curiosa: nem todo poema épico é, necessariamente, uma epopéia; entretanto,<br />
uma epopéia será sempre um poema épico. Isto se explica pelo fato que um poema épico<br />
que torna-se representativo da história de um povo, torna-se uma epopéia. O poema épico,<br />
contudo, não conseguiu se alçar à altura de se realizar como uma epopéia, ou como uma<br />
lenda histórica de uma comunidade. Isto pode ocorrer tanto pela falta de criatividade, ou<br />
“engenho e arte”, ou por estar concentrado em um recorte: um acontecimento secundário,<br />
historicamente, como, por exemplo, Caramuru, O Uraguai, etc.<br />
As epopéias podem ser anônimas, ou de criação coletiva, como, por exemplo, A<br />
Odisséia, Ilíada, A Canção de Rolando, El Cid, e a essas se denomina de epopéia natural,<br />
folclórica, ou primitiva. Às epopéias de autoria conhecida como Eneida e Os Lusíadas<br />
denomina-se de epopéia erudita ou artifi cal 23 .<br />
O personagem central da epopéia, o herói representa o destino de uma comunidade, e<br />
passa por uma série de provas ou aventuras das quais sairá consagrado pela comunidade.<br />
O herói representa os valores éticos do povo ou nação a que a lenda se refere.<br />
22 - BAKTHIN, Mikhail. Op.cit. p. 410.<br />
23 - MOISÉS, Massaud. Op. Cit.p. 188.<br />
29
O Romance & o Conto<br />
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
O gênero épico consiste em uma narrativa seqüenciada, na qual o agente<br />
é o narrador, que possui o distanciamento necessário a fi m de apresentar o<br />
mundo narrado de forma objetiva.<br />
O romance se constitui de uma narrativa longa, com vários personagens,<br />
e uma pluralidade de confl itos que se desdobram a partir da história do<br />
narrador. O modelo da narrativa origina-se na oralidade, no contar de experiências individuais.<br />
É herdeiro da epopéia clássica, no que pese ser uma forma “híbrida”, pois, como a épica, o<br />
romance trata de um “vasto assunto”, e como na lírica, o narrador apresenta um ponto de<br />
vista individual, diferindo do “heroi” da epopéia que representa um grupo social; também<br />
possui a dialógica do drama através da polifonia de estruturas, e pode englobar outras<br />
formas narrativas, como, por exemplo, o diário, vide Robinson Crusoé, que, segundo alguns<br />
teóricos se apresenta como um divisor de águas neste gênero narrativo, por já manifestar<br />
características de hibridismo; outros autores consideram Dom Quixote como precursor do<br />
gênero por apresentar um questionamento de mundo.<br />
No romance moderno, os valores coletivos anteriormente confi rmados pelo herói épico<br />
passam a ser questionados; o herói do romance é um sujeito perplexo diante do mundo<br />
que vive, e que busca o sentido da vida, conforme explica Georg Lukács, em Teoria do<br />
Romance. O herói do romance moderno busca valores; o herói da epopéia já os tinha,<br />
apenas confi rmava-os. O protagonista principal do romance, ou herói, é “problemático”, se<br />
questiona e está dividido entre a vida interior e exterior; o narrador narra de acordo com a<br />
sua perspectiva, como mostra o delírio de Dom Quixote no texto abaixo:<br />
(...) é mister andar pelo mundo buscando as aventuras como escola prática, para<br />
que, saindo com alguns feitos em limpo, se cobre nome e fama tal, que, quando depois, se<br />
chegar à corte de algum grande monarca, já o cavaleiro seja conhecido por suas obras, e<br />
que, apenas o houverem visto entrar pelas portas da cidade, os rapazes da rua o rodeiem<br />
e acompanhem, vozeando entre vivas: “Este é o Cavaleiro do Sol”, ou da “Serpente”, ou de<br />
outra qualquer insígnia, debaixo da qual houver acabado grandes façanhas.”Este é”, dirão, “o<br />
que venceu em singular batalha o gigante Brocabruno da Grande Força; o que desencantou<br />
o grande Mameluco da Pérsia do largo encantamento em que tinha permanecido quase<br />
novecentos anos”; e assim de mão em mão irão pregoando os seus feitos; e logo, com o<br />
alvoroto dos rapazes da rua, e de todo outro gentio, sairá às janelas do seu real palácio o<br />
rei daquele reino; e assim que vir o cavaleiro, conhecendo-o pelas armas, ou pela empresa<br />
do escudo, forçosamente há de dizer: “Eia! Sus! Saiam meus cavaleiros, quantos em minha<br />
corte são, a receber a fl or da cavalaria que ali vem;” 24<br />
O conto representa um momento de crise, no sentido que é o momento que “assinala<br />
o encontro decisivo de forças em confl ito”. O registro de histórias em forma de conto iniciase<br />
na França, no século XVII, com a transcrição dos contos chamados “fada”por Charles<br />
Perrault, seguido por outros autores como os Irmãos Grimm e La Fontaine, culminando com<br />
o conto moderno no século XX por Edgar Alan Poe. O conto é uma história condensada,<br />
um momento de “crise”, que se caracteriza por “seqüestrar” o leitor pelo tempo da narrativa.<br />
Recorta um episódio signifi cativo que tem um efeito sobre o leitor, “seqüestrando-o”.<br />
O Menino<br />
Lygia Fagundes Telles<br />
Sentou-se num tamborete, fi ncou os cotovelos nos joelhos, apoiou o queixo nas mãos e<br />
fi cou olhando para a mãe. Agora ela escovava os cabelos muito louros e curtos, puxando-os<br />
24 - CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote. São Paulo: Nova Cultural, 2003. p. 130.<br />
30
para trás. E os anéis se estendiam molemente para em seguida voltarem à posição anterior,<br />
formando uma coroa de caracóis sobre a testa. Deixou a escova, apanhou um frasco de<br />
perfume, molhou as pontas dos dedos, passou-os nos lóbulos das orelhas, no vértice do decote<br />
e em seguida umedeceu um lencinho de rendas. Através do espelho, olhou para o menino. Ele<br />
sorriu também, era linda, linda, linda! Em todo o bairro não havia uma moça linda assim.<br />
– Quantos anos você tem, mamãe?<br />
– Ah, que pergunta! Acho que trinta ou trinta e um, por aí, meu amor, por aí... Quer se<br />
perfumar também?<br />
– Homem não bota perfume.<br />
– Homem, homem! Ela inclinou-se para beijá-lo. – você é um nenenzinho, ouviu bem?<br />
É o meu nenenzinho.<br />
O menino afundou a cabeça no colo perfumado. Quando não havia ninguém olhando,<br />
achava maravilhoso ser afagado como uma criancinha. Mas era preciso mesmo que não<br />
houvesse ninguém por perto.<br />
Agora vamos que a sessão começa às oito, avisou ela, retocando apressadamente<br />
os lábios.<br />
O menino deu um grito, montou no corrimão da escada e foi esperá-la embaixo. Da<br />
porta, ouviu-a dizer à empregada que avisasse ao doutor que tinham ido ao cinema.<br />
Na rua, ele andava pisando forte, o queixo erguido, os olhos acesos. Tão bom sair<br />
de mãos dadas com a mãe. Melhor ainda quando o pai não ia junto porque assim fi cava<br />
sendo o cavalheiro dela. Quando crescesse haveria de casar com uma moça igual. Anita<br />
não servia que Anita era sardenta. Nem Maria Inês com aqueles dentes saltados. Tinha que<br />
ser igualzinha à mãe.<br />
– Você acha a Maria Inês bonita, mamãe?<br />
– É bonitinha, sim.<br />
– Ah! tem dentão de elefante.<br />
E o menino chutou um pedregulho. Não, tinha que ser assim como a mãe, igualzinha<br />
à mãe. E com aquele perfume.<br />
– Como é o nome do seu perfume?<br />
–Vent Vert. Por quê, fi lho? Você acha bom?<br />
– Que é que quer dizer isso?<br />
–Vento Verde.<br />
– Vento Verde, vento verde. Era bonito, mas existia vento verde? Vento não tinha cor,<br />
só cheiro. Riu.<br />
– Posso te contar uma anedota, mãe? Posso?<br />
– Se for anedota limpa, pode.<br />
– Não é limpa não.<br />
– Então não quero saber.<br />
– Mas por que, pô!?<br />
– Eu já disse que não quero que você diga pô.<br />
Ele chutou uma caixa de fósforos. Pisou-a em seguida.<br />
– Olha mãe, a casa do Júlio...<br />
Júlio conversava com alguns colegas no portão. O menino fez questão de cumprimentálos<br />
em voz alta para que todos voltassem e fi cassem assim mudos, olhando. Vejam, esta<br />
é minha mãe!, teve vontade de gritar-lhes. Nenhum de vocês tem uma mãe linda assim! E<br />
lembrou-se deliciado que a mãe de Júlio era grandalhona e sem graça, sempre de chinelo<br />
e consertando meia. Júlio devia estar agora roxo de inveja.<br />
– Ele é bom aluno? Esse Júlio.<br />
– Que nem eu.<br />
– Então não é.<br />
31
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
O menino deu uma risadinha.<br />
– Que fi ta a gente vai ver?<br />
– Não sei meu bem.<br />
– Você não viu no jornal? Se for fi ta de amor, não quero! Você não viu<br />
no jornal, hein, mamãe?<br />
Ela não respondeu. Andava agora tão rapidamente que às vezes o<br />
menino precisava andar aos pulos para acompanhá-la. Quando chegaram<br />
à porta do cinema, ele arfava. Mas tinha no rosto uma vermelhidão feliz.<br />
A sala de espera estava vazia. Ela comprou os ingressos e em seguida, como se tivesse<br />
perdido toda a pressa, fi cou tranqüilamente encostada a uma coluna lendo o programa. O<br />
menino deu-lhe um puxão na saia.<br />
– Mãe, mas o que é que você está fazendo?! A sessão já começou, já entrou todo o<br />
mundo, pô!<br />
Ela inclinou-se para ele. Falou num tom muito suave, mas os lábios se apertavam<br />
comprimindo as palavras e os olhos também tinham aquela expressão que o menino conhecia<br />
muito bem: nunca se exaltava, nunca elevava a voz. Mas ele sabia que quando ela falava<br />
assim, nem súplicas nem lágrimas conseguiam fazê-la voltar atrás.<br />
– Sei que já começou, mas não vamos entrar agora, ouviu? Não vamos entrar<br />
agora, espera.<br />
O menino enfi ou as mãos nos bolsos e enterrou o queixo no peito. Lançou à mãe um<br />
olhar sombrio. Por que é que não entravam logo? Tinham corrido feito dois loucos e agora<br />
aquela calma, espera. Esperar o que, pô?!...<br />
– É que a gente já está atrasado, mãe.<br />
– Vá ali no balcão comprar chocolate ordenou ela, entregando-lhe uma nota<br />
nervosamente amarfanhada.<br />
Ele atravessou a sala num andar arrastado, chutando as pontas de cigarro pela frente.<br />
Ora, chocolate. Quem é que quer chocolate? E se o enredo fosse de crime, quem é que<br />
ia entender chegando assim começado? Sem nenhum entusiasmo, pediu um tablete de<br />
chocolate. Vacilou um instante e pediu em seguida um tubo de drágeas de limão e um pacote<br />
de caramelos de leite, pronto, também gastava à beca. Recebeu o troco de cara fechada.<br />
Ouviu então os passos apressados da mãe que lhe estendeu a mão com impaciência:<br />
– Vamos, meu bem, vamos entrar.<br />
Num salto, o menino pôs-se ao lado dela. Apertou-lhe a mão freneticamente.<br />
– Depressa que a fi ta já começou, não está ouvindo a música?<br />
Na escuridão, fi caram por um instante parados, envolvidos por um grupo de pessoas,<br />
algumas entrando, outras saindo. Foi quando ela resolveu.<br />
– Venha vindo atrás de mim.<br />
Os olhos do menino devassavam a penumbra. Apontou para duas poltronas vazias.<br />
– Lá, mãezinha, lá tem duas, vamos lá!<br />
Ela olhava para um lado, para outro, e não se decidia.<br />
– Mãe, aqui tem mais duas, está vendo? Aqui não está bom? insistiu ele, puxando-a elo<br />
braço. E olhava afl ito para a tela, e olhava de novo para as poltronas vazias que apareciam<br />
aqui e ali como coágulos de sombra. Lá tem mais duas, está vendo?<br />
Ela adiantou-se até as primeiras fi las e voltou em seguida até o meio do corredor.<br />
Vacilou ainda um momento. E decidiu-se. Impeliu-o suave, mas resolutamente.<br />
– Entre aí.<br />
Licença? Licença? ... ele foi pedindo. Sentou-se na primeira poltrona desocupada que<br />
encontrou, ao lado de uma outra desocupada também. Aqui, não é, mãe?<br />
– Não, meu bem, ali adiante murmurou ela, fazendo-o levantar-se. Indicou os três<br />
lugares vagos quase no fi m da fi leira. Lá é melhor.<br />
32
Ele resmungou, pediu “licença, licença?”, e deixou-se cair pesadamente no primeiro<br />
dos três lugares. Ela sentou-se em seguida.<br />
– Ih, é fi ta de amor, pô!<br />
– Quieto, sim?<br />
O menino pôs-se na beirada da poltrona. Esticou o pescoço, olhou para a direita, para<br />
a esquerda, remexeu-se:<br />
– Essa bruta cabeçona aí na frente!<br />
– Quieto, já disse!<br />
– Mas é que não estou enxergando direito, mãe! Troca comigo que não estou enxergando!<br />
Ela apertou-lhe o braço. Esse gesto ele conhecia bem e signifi cava apenas: não insista!<br />
– Mas, mãe...<br />
Inclinando-se até ele, ela falou-lhe baixinho, naquele tom perigoso, meio entre os dentes<br />
e que era usado quando estava no auge: um tom tão macio que quem a ouvisse julgaria que<br />
ela lhe fazia um elogio. Mas ele sabia o que havia debaixo daquela maciez.<br />
– Não quero que mude de lugar, está me escutando? Não quero. E não insista mais.<br />
Contendo-se para não dar um forte pontapé na poltrona da frente, ele enrolou o pulôver<br />
como uma bola e sentou-se em cima. Gemeu. Mas por que aquilo tudo? Por que a mãe lhe<br />
falava daquele jeito, por quê? Não fi zera nada de mal, só queria mudar de lugar, só isso... Não,<br />
desta vez ela não estava sendo nem um pouquinho camarada. Voltou-se então para lembrarlhe<br />
que estava chegando muita gente, se não mudasse de lugar imediatamente, depois não<br />
poderá mais porque aquele era o último lugar vago que restava, “olha aí, mamãe, acho que<br />
aquele homem vem pra cá!” Veio. Veio e sentou-se na poltrona vazia ao lado dela.<br />
O menino gemeu, “ai! Meu Deus...”Pronto. Agora é que não haveria mesmo nenhuma<br />
esperança. E aqueles dois enjoados lá na fi ta numa conversa comprida que não acabava mais, ela<br />
vestida de enfermeira, ele de soldado, mas por que o tipo não ia pra guerra, pô!... E a cabeçona<br />
da mulher na sua frente indo e vindo para a esquerda, para a direita, os cabelos armados a<br />
fl utuarem na tela como teias monstruosas de uma aranha. Um punhado de fi os formava um<br />
frouxo topete que chegava até o queixo da artista. O menino deu uma gargalhada.<br />
– Mãe, daqui eu vejo a mocinha de cavanhaque!<br />
– Não faça assim, fi lho, a fi ta é triste... Olha, presta atenção, agora ele vai ter que fugir<br />
com outro nome... O padre vai arrumar o passaporte.<br />
– Mas por que ele não vai pra guerra duma vez?<br />
– Porque ele é contra a guerra, fi lho, ele não quer matar ninguém sussurrou-lhe a mãe<br />
num tom meigo. Devia estar sorrindo e ele sorriu também, ah! que bom, a mãe não estava<br />
mais nervosa, não estava mais nervosa! As coisas começavam a melhorar e para maior<br />
alegria, a mulher da poltrona da frente levantou-se e saiu. Diante dos seus olhos apareceu<br />
o retângulo inteiro da tela.<br />
– Agora sim! disse baixinho, desembrulhando o tablete de chocolate. Meteu-o inteiro<br />
na boca e tirou os caramelos do bolso para oferece-los à mãe. Então viu: a mão pequena<br />
e branca, muito branca, deslizou pelo braço da poltrona e pousou devagarinho nos joelhos<br />
do homem que acabara de chegar.<br />
O menino continuou olhando, imóvel. Pasmado. Por que a mãe fazia aquilo?! Ficou<br />
olhando sem nenhum pensamento, nenhum gesto. Foi então que as mãos grandes e morenas<br />
do homem tomaram avidamente a mão pequena e branca. Apertaram-na com tanta força<br />
que pareciam querer esmagá-la.<br />
O menino estremece. Sentiu o coração bater descompassado, bater como só batera<br />
naquele dia na fazenda, quando teve de correr como louco, perseguido de perto por um<br />
touro. O susto ressecou-lhe a boca. O chocolate foi-se transformando numa massa viscosa<br />
e amarga. Engoliu-o com esforço, como se fosse uma bola de papel. Redondos e estáticos,<br />
os olhos cravaram-se na tela. Moviam-se as imagens sem sentido num sonho fragmentado.<br />
33
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Os letreiros dançavam e se fundiam pesadamente, como chumbo derretido.<br />
Mas o menino continuava imóvel, olhando obstinadamente. Um bar em<br />
Tóquio, brigas, a fuga do moço de capa perseguido pela sereia da polícia,<br />
mais brigas numa esquina, tiros. A mão pequena e branca a deslizar no<br />
escuro como um bicho. Torturas e gritos nos corredores paralelos da prisão,<br />
os homens agarrando as portas de grade, mais conspirações. Mais homens.<br />
A mão pequena e branca. A fuga, os faróis na noite, os gritos, mais tiros,<br />
tiros. O carro derrapando sem freios. Tiros. Espantosamente nítido em meio do fervilhar<br />
de sons e falas e ele não queira, não queria ouvir! O ciciar delicado dos dois num diálogo<br />
entre os dentes.<br />
Antes de terminar a sessão, mas isso não acaba mais, não acaba? , ele sentiu, mais do<br />
que sentiu, adivinhou a mão pequena e branca desprender-se das mãos morenas. E, do mesmo<br />
modo manso como avançara, recuar deslizando pela poltrona e voltar a se unir à mão que<br />
fi cara descansando no regaço. Ali fi caram entrelaçadas e quietas como estiveram antes.<br />
– Está gostando, meu bem? perguntou ela, inclinando-se para o menino.<br />
– Ele fez que sim com a cabeça, os olhos duramente fi xos na cena fi nal. Abriu a boca<br />
quando o moço também abriu a sua para beijar a enfermeira. Apertou os olhos, enquanto<br />
durou o beijo. Então o homem levantou-se embuçado na mesma escuridão em que chegara.<br />
O menino retesou-se, os maxilares contraídos, trêmulo. Fechou os punhos. “Eu pulo no<br />
pescoço dele, eu esgano ele!”<br />
O olhar desvairado estava agora nas espáduas largas interceptando a tela como um<br />
muro negro. Por um brevíssimo instante fi caram paradas em sua frente. Próximas, tão<br />
próximas. Sentiu a perna musculosa do homem roçar no seu joelho, esgueirando-se rápida.<br />
Aquele contato foi como ponta de um alfi nete num balão de ar. O menino foi-se descontraindo.<br />
Encolheu-se murcho no fundo da poltrona e pendeu a cabeça para o peito.<br />
Quando as luzes se acenderam, teve um olhar para a poltrona vazia. Olhou para a<br />
mãe. Ela sorria com aquela mesma expressão que tivera diante do espelho, enquanto se<br />
perfumava. Estava corada, brilhante.<br />
– Vamos, fi lhote?<br />
Estremeceu quando a mão dela pousou no seu ombro. Sentiu-lhe o perfume. E voltou<br />
depressa a cabeça para o outro lado, a cara pálida, a boca apertada como se fosse cuspir.<br />
Engoliu penosamente. De assalto, a mão dela agarrou a sua. Sentiu-a quente, macia.<br />
Endureceu a ponta dos dedos, retesado: queria cravar as unhas naquela carne.<br />
– Ah, não que mais andar de mãos dadas comigo? Hein, fi lhote?<br />
Ele inclinara-se, demorando mais do que o necessário para dobrar a barra da calça<br />
rancheira.<br />
– É que não sou mais criança.<br />
– Ah, o nenenzinho cresceu? Cresceu? Ela riu baixinho. Beijou-lhe o rosto. Não anda<br />
mais de mão dada?<br />
– O menino esfregou as pontas dos dedos na umidade dos beijos no queixo, na orelha.<br />
Limpou as marcas com a mesma expressão com que limpava as mãos nos fundilhos da<br />
calça quando cortava as minhocas para o anzol.<br />
Na caminhada de volta, ela falou sem parar, comentando excitada o enredo do fi lme.<br />
Explicando. Ele respondia por monossílabos.<br />
– Mas que é que tem, fi lho? Ficou mudo...<br />
– Está me doendo o dente.<br />
– Outra vez? Quer dizer que fugiu do dentista? Você tinha hora ontem, não tinha?<br />
Ele botou uma massa. Está doendo murmurou, inclinando-se para apanhar uma folha<br />
seca. Triturou-a no fundo do bolso. E respirou abrindo a boca. Como dói, pô. Assim que<br />
chegarmos você toma uma aspirina. Mas não diga, por favor, essa palavrinha que detesto.<br />
34
– Não digo mais.<br />
Diante da casa de Júlio, instintivamente ele retardou o passo. Teve um olhar para a<br />
janela acesa. Vislumbrou uma sombra disforme passar através da cortina.<br />
– Dona Margarida.<br />
– Hum?<br />
– A mãe do Júlio.<br />
Quando entraram na sala, o pai estava sentado na cadeira de balanço, lendo o jornal.<br />
Como todas as noites, como todas as noites. O menino estacou na porta. A certeza de<br />
que alguma coisa terrível ia acontecer paralisou-o atônito, obumbrado. O olhar em pânico<br />
procurou as mãos do pai.<br />
– Então, meu amor, lendo o seu jornalzinho? – perguntou ela, beijando o homem na<br />
face. Mas a luz não está muito fraca?<br />
– A lâmpada maior queimou, liguei essa por enquanto, disse ele, tomando a mão da<br />
mulher. Beijou-a demoradamente. Tudo bem?<br />
– Tudo bem.<br />
O menino mordeu o lábio até sentir gosto de sangue na boca. Como nas outras<br />
noites, igual. Igual.<br />
– Então, fi lho? Gostou da fi ta? Perguntou o pai, dobrando o jornal. Estendeu a mão ao menino<br />
e com a outra começou a acariciar o braço nu da mulher. Pela sua cara, desconfi o que não.<br />
– Gostei, sim.<br />
– Ah, confessa, fi lhote, você detestou, não foi? Contestou ela. Nem eu entendi direito,<br />
uma complicação dos diabos, espionagem, guerra, máfi a... Você não podia ter entendido.<br />
– Entendi. Entendi tudo! – Ele quis gritar e a voz saiu num sopro tão débil que só ele ouviu.<br />
– E ainda com dor de dente! – Acrescentou ela, desprendendo-se do homem e subindo<br />
a escada. Ah, já ia esquecendo a aspirina!<br />
O menino voltou para a escada os olhos cheios de lágrimas.<br />
– Que é isso? Estranhou o pai. – Parece até que você viu assombração. Que foi?<br />
O menino encarou-o demoradamente. Aquele era o pai. O pai. Os cabelos grisalhos.<br />
Os óculos pesados. O rosto feio e bom.<br />
– Pai... murmurou, aproximando-se. E repetiu num fi o de voz: Pai...<br />
– Mas meu fi lho, que aconteceu? Vamos, diga!<br />
– Nada. Nada.<br />
Fechou os olhos para prender as lágrimas. Envolveu o pai num apertado abraço.<br />
O trágico<br />
Assim como na Lírica, em que não há oposição<br />
entre o sujeito e objeto, no gênero Dramático<br />
também este aspecto se faz característico.<br />
Entretanto, enquanto na Lírica o mundo é<br />
subjetivado, ou seja, o poeta “abarca” o mundo, no<br />
gênero Dramático se dá o contrário: o mundo não<br />
se encontra relativizado pelo sujeito, independe<br />
do poeta. Neste gênero podemos dizer que o<br />
narrador, comum no gênero épico, é absorvido<br />
pelos personagens tanto quanto o “eu” da lírica.<br />
35
Introdução aos<br />
Tratando-se de gêneros literários, Anatol Rosenfeld 25 , autor aqui escolhido<br />
como referência, diverge da concepção hegeliana a respeito do Drama, entre<br />
outros aspectos, devido ao fato de Hegel colocar o gênero Dramático como uma<br />
síntese dos outros gêneros, e estabelecer uma hierarquia em que este gênero seria<br />
superior ao Lírico e ao Épico. Rosenfeld, por sua vez, não advoga a superioridade<br />
de nenhum gênero e os classifi ca de acordo com a relação do mundo imaginário<br />
para com o “autor”, sujeito fi ctício de quem emana o texto literário.<br />
Ainda segundo Rosenfeld, na Lírica, o mundo é conteúdo do “eu lírico”, enquanto que<br />
Estudos<br />
Literários<br />
na Épica, embora o narrador se encontre afastado do mundo objetivo ainda se encontra<br />
presente, situado como um mediador deste mundo. No gênero dramático não existe quem<br />
apresente os acontecimentos como nos gêneros anteriormente citados; os acontecimentos se<br />
apresentam como fato, sem a interferência de mediador, daí resultando a força deste gênero.<br />
Os personagens se manifestam sem dialogar com o “autor” – se apresentam, simplesmente,<br />
em cenários que se tornam ambiente, e com atores que desaparecem para dar lugar aos<br />
personagens. No gênero Dramático não há um narrador nem oposição entre sujeito e objeto.<br />
Os fatos se apresentam sem mediador.<br />
Associada à noção de Drama<br />
encontra-se a Tragédia, já mencionada<br />
aqui quando falamos de Aristóteles e a<br />
concepção de verossimilhança. A Tragédia<br />
consistiria em imitação de ações sérias e<br />
praticadas por indivíduos de uma classe<br />
elevada, idéia que permaneceu até o<br />
século XVIII, quando, inspirados pela<br />
Revolução Industrial, instituiu-se o drama<br />
burguês. A tragédia clássica apresentava a<br />
seguinte estrutura: o prólogo, em forma de<br />
diálogo; o “párodo” ou entrada do coro; os<br />
episódios, em número de três; e o êxodo,<br />
ou desfecho da peça. Durante os séculos<br />
seguintes, o Drama passou por diversas modifi cações e, fi nalmente, a partir do século XIX<br />
passou a apresentar três atos. Ou seja, tudo o que retardava a ação foi, gradativamente,<br />
removido. A Tragédia, na contemporaneidade, não é mais encenada com as suas características<br />
originais, e, segundo especialistas, só se pode rotulá-la como tal em algumas obras de Henrik<br />
Ibsen, ou em algumas peças características do Teatro do Absurdo.<br />
A Comédia, oriunda também da Tragédia, era considerada uma forma “menor” de<br />
entretenimento. Na Grécia clássica, a comédia se desenvolveu em três fases diferentes, de<br />
acordo com o assunto abordado: a “comédia antiga” dizia respeito aos assuntos políticos ou<br />
sociais; a “comédia mediana” tratava de mitologia, ou de assuntos literários; e fi nalmente, a<br />
“comédia nova” que discorria sobre temas amorosos como a paixão.<br />
O Drama obedece a uma hierarquia estabelecida de acordo com a classe social dos<br />
indivíduos representados nas peças: classe alta, Tragédia; classe inferior, Comédia. O teatro<br />
“cômico” se consagrou a partir da Renascença, inaugurando uma nova era para o Drama<br />
com Gil Vicente (Portugal), Calderon de La Barca (Espanha), Shakespeare (Inglaterra),<br />
Moliére (França), entre outros.<br />
As situações apresentadas na Comédia e na Tragédia se distinguem pelas ações dos<br />
indivíduos: enquanto na tragédia os indivíduos, pertencentes à aristocracia ou à uma classe<br />
privilegiada, eram movidos por temas de acordo com a sua esfera de ação, na Comédia<br />
25 - ROSENFELD, Anatol. O Teatro Épico. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1985.<br />
36
essas ações estavam circunscritas à cenas cotidianas, próximas à gente vulgar, comuns<br />
aos indivíduos de classes “inferiores”.<br />
Um dos traços mais marcantes da Dramática é o fato de seu autor não “aparecer” na<br />
obra, confundindo-se muitas vezes com os personagens ou com o próprio texto. Isto, porém,<br />
incorre em algumas exigências a fi m de que o seu desenvolvimento ocorra de forma adequada,<br />
como, por exemplo, o recorte dado ao tema. Uma vez que não existe a intermediação do<br />
narrador que inicie um “desenrolar” de um enredo, faz-se necessário que a peça se inicie já<br />
dentro de um contexto, histórico. No Drama a ação se desenrola no presente, no “agora”,<br />
não havendo um narrador que a situe no tempo, nem que a faça tornar ao passado, muito<br />
menos ao futuro. O tempo da ação é sempre o presente, e o futuro desconhecido. A evocação<br />
do passado só pode ser realizada através dos diálogos travados pelos personagens, já que<br />
o tempo no Drama é linear e sucessivo, como na realidade.<br />
A ação dramática acontece agora e não aconteceu no passado, mesmo quando se<br />
trata de um drama histórico. Lessing, na sua Dramaturgia de Hamburgo (11o capítulo), diz<br />
com acerto que o dramaturgo não é um historiador; ele não relata o que se acredita haver<br />
acontecido, mas faz com que aconteça novamente perante os nossos olhos. Mesmo o<br />
novamente é demais. Pois a ação dramática, na sua expressão mais pura, se apresenta<br />
sempre “pela primeira vez”. Não é a representação secundária de algo primário. Origina-se,<br />
cada vez, em cada representação, “pela primeira vez”; não acontece “novamente” o que já<br />
aconteceu, mas, o que acontece, acontece agora, tem a sua origem agora; a ação é “original”,<br />
cada réplica nasce agora, não é citação ou variação de algo dito há muito tempo. 26<br />
Na ação dramática a catarse é gerada pela verossimilhança, cuja ocorrência se dá pelo<br />
funcionamento da peça, que, como um organismo, todas as partes interagem dinamicamente<br />
e são determinadas pelo todo. As funções de coro, prólogo e epílogo no contexto do drama<br />
se manifestam como uma intervenção do autor, no sentido que deslocam cenas e sugerem<br />
um mediador, insinuando uma função lírico-narrativa. Na ausência de um narrador, a ação se<br />
realiza pelo diálogo; Rosenfeld aponta para o fato que o diálogo constitui a Dramática como<br />
literatura e como teatro declamado (apartes e monólogos não afetam a situação essencialmente<br />
dialógica) 27 . Os diálogos representam a tensão suscitada pelo entrechoque de vontades que<br />
caracterizam o confl ito, afi rmando o seu caráter dialético como propulsor da afi rmação e réplica<br />
através dos choques de intenção. Caracterizando a função lingüística dos gêneros literários,<br />
Rosenfeld racionaliza que se o pronome da Lírica é o “eu”, e o do Épico, “ele”, o do Drama seria<br />
o “tu” ou “vós”. Portanto, a sua linguagem, preponderante, seria “apelativa”, diferentemente da<br />
expressiva e comunicativa da Lírica e da épica, respectivamente.<br />
Por não possuir um mediador que componha, descrevendo, seus personagens em seus<br />
aspectos físicos nem psicológicos, nem tampouco o ambiente que a peça se situa, o texto dramático<br />
necessita de um palco, ou local que o complete cenicamente. As representações visuais, as rubricas,<br />
a coreografi a, a música e a pantomima assumem as funções do narrador, situando a platéia acerca<br />
do contexto da peça e seus personagens. O paradoxo da literatura dramática é que ela não se<br />
contenta em ser literatura, já que, sendo “incompleta”, exige a complementação cênica.<br />
O teatro como representação, portanto, depende fortemente de um público presente,<br />
mesmo quando o ato de representar aparentemente não se dirija a ninguém presente. Na<br />
realidade, na maioria das vezes, a platéia inexiste para os personagens. Os atores sabem<br />
da existência do público, porém, desempenham os seus papéis como se ignorassem a<br />
platéia, porque estão metamorfoseados em seus personagens. É importante ressaltar que as<br />
observações aqui realizadas dizem respeito ao Drama “puro”, ou peças “fechadas”; quanto<br />
mais distante a obra dramática se situar da Dramática “pura”, mais se aproximarão do que<br />
chamamos de épica, ou lírica-épicas, ou “abertas”.<br />
26 - ROSENFELD, Anatol. O Teatro Épico. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1985.p.31.<br />
27 - Op. Cit. p.34.<br />
37
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Bakhtin em seu Epos e Romance<br />
Depois de termos visto a questão dos gêneros literários e a especifi cidade<br />
de cada um deles, veremos agora um pouco do seu hibridismo, ou seja, como<br />
cada gênero não funciona de forma totalizante e encerrada em si mesma. Pensar<br />
o épico como uma narrativa permeada de fatos heróicos não nos impede de<br />
encontrar em sua estrutura alguns lances que, possivelmente, podem soar<br />
trágicos ou que contenham um lirismo intenso. O que é preciso perceber é o que predomina em<br />
cada gênero, percebendo sua escrita, sua estrutura, a forma como se é contada a história, para,<br />
daí, tirar as inferências sobre se tal história seria épica, trágica ou um poema lírico.<br />
No texto a seguir, a autora trabalha com alguns pensamentos<br />
de M. Bakhtin, refl etindo sobre o nascimento do romance a partir<br />
da épica e suas transformações. Para Bakhtin, o romance é<br />
um gênero que se constitui em forma de expressão inacabada,<br />
apresentando um ciclo contínuo do homem. Em seus estudos, o<br />
autor aborda o romance como “gênero que está por se constituir,<br />
levando-se em conta o processo de evolução de toda a literatura<br />
nos tempos modernos...” (1988, p. 403). Assim, desenvolve uma<br />
análise comparativa entre o romance e a epopéia e, a partir daí, vê<br />
esta última como forma de expressão da memória e o romance como forma de conhecimento,<br />
já que nele o herói passa por um processo de conhecimento de si mesmo no momento atual,<br />
no contato com as pessoas da época e suas opiniões, revelando-se como uma quebra da<br />
representação do mundo do modo fechado e defi nido do épico.<br />
Vamos a algumas reflexões propostas pelo texto que segue abaixo:<br />
A TEORIA DO ROMANCE E A ANÁLISE ESTÉTICO-CULTURAL DE M. BAKHTIN<br />
Irene A. Machado (professora da PUC-SP e autora de Analogia do dissimilar<br />
(Editora Perspectiva)<br />
(...)<br />
Considerando que o processo de interação dialógica, desenvolvido nas diversas esferas<br />
da atividade humana, gera infi nitas modalidades comunicativas, são igualmente infi nitas<br />
as espécies de gêneros discursivos que Bakhtin reuniu. Dentre esta variedade de gêneros<br />
discursivos, destacam-se os gêneros do discurso literário, mais especifi camente a prosa<br />
romanesca. É nesta modalidade de discurso que Bakhtin vai encontrar elementos concretos<br />
para a explicitação da forma signifi cante, a que aludira no ensaio anterior, pois acreditava<br />
que nos gêneros do discurso literário se acumulam, durante séculos, formas de compreensão<br />
de determinados aspectos do mundo, cujos sentidos explicitam o caráter de uma época e<br />
seu desdobramento futuro. E, segundo Bakhtin, o único gênero que soube representar toda<br />
a dinâmica desse grande tempo foi o romance. Suas refl exões sobre o romance estão de<br />
tal modo tomadas pela preocupação de desvelar, na forma enunciativa, o dimensionamento<br />
ideológico, que se tornaram um verdadeiro manifesto sobre a cultura de nossa era. Bakhtin<br />
empreende uma leitura entusiástica e apaixonada do romance, pois entende ser ele não só a<br />
síntese das representações culturais formadas ao longo do tempo, como também um embrião<br />
de procedimentos para composições futuras. O romance é um gênero que, ao debruçar-se<br />
sobre o presente, descobre um tempo que não é o seu. Este diálogo transtemporal estimula<br />
o fascínio de Bakhtin e o leva a elaborar uma das mais notáveis teorias do romance, cujos<br />
pontos principais se concentram neste ensaio.<br />
38
A idéia central desta teoria é a noção de romance como um gênero em devir. Além de<br />
desestabilizar a clássica teoria dos gêneros poéticos, assentada sobre formações precisas<br />
e estruturas canônicas, esta concepção de Bakhtin polemiza com algumas tendências<br />
atuais que entendem o romance como um gênero que viveu a plenitude de suas formas no<br />
século XIX, encontrando-se defi nitivamente morto neste século. Bakhtin não compactua<br />
com esta tendência e considera o inacabamento da estrutura composicional do romance<br />
o traço maior de sua poeticidade. Daí a inoperância da estilística tradicional na apreensão<br />
deste tipo de formação poética. O estilo do romance é antes uma combinação de estilos<br />
agenciados, sobretudo, pela diversidade social de linguagens que organizam artisticamente<br />
sua composição, difi cultando, assim, a consolidação de uma estrutura canônica, premissa<br />
elementar dos gêneros poéticos. Aliás, a verdadeira premissa da prosa romanesca é,<br />
para Bakhtin, a estratifi cação interna da linguagem, que torna o romance um fenômeno<br />
pluriestilístico, plurilíngüe e plurivocal. É por estas vias que Bakhtin envereda no sentido de<br />
apreender os níveis de poeticidade da palavra no romance.<br />
Bakhtin reconhece que o romance trouxe um dilema para a estilística e fi losofi a do<br />
discurso, colocadas, assim, diante de um impasse: ou reconheciam o romance e a prosa<br />
literária que gravita em torno dele como gêneros não-literários, ou seriam obrigadas a rever<br />
de maneira radical a concepção de discurso poético. Bakhtin parte exatamente de uma<br />
revisão da noção de gênero, pois entende que a poeticidade do discurso literário, depois<br />
do surgimento do romance, não podia ser pensada fora do contexto da dialogia interna da<br />
linguagem. A dialogia supera o símbolo poético do tropo e torna-se, conseqüentemente, o<br />
traço distintivo deste discurso a que Bakhtin chama prosa poética. Um discurso moldado<br />
pelo arranjo de vozes através das quais ressoa a voz do poeta prosador. O discurso poético<br />
assim concebido não é mais emanação de um ‘Eu lírico’ individual e soberano, que oculta<br />
a vida plena de dialogia em que o poeta vive.<br />
É importante ressaltar que ao eleger o romance como um discurso poético privilegiado,<br />
Bakhtin não depõe contra a poesia (poema), nem a nega enquanto discurso, como pode parecer à<br />
primeira vista. O problema é que Bakhtin opera com um aspecto não-previsto pela clássica teoria<br />
dos gêneros poéticos. Tornar a dialogia da prosa como um traço distintivo do discurso poético<br />
signifi ca reverter totalmente as regras do gênero. Para Bakhtin, o poema que exclui a interação<br />
entre discursos e em que o poeta não acede ao pensamento de outrem não é poesia. Poesia<br />
é manifestação de uma consciência poética que vê, imagina e compreende o mundo, não com<br />
os olhos de sua linguagem individual, mas com os olhos de outrem. Por isso, a linguagem dos<br />
gêneros poéticos canonizados é, para Bakhtin, autoritária, dogmática, conservadora.<br />
Tudo isso levou Bakhtin a considerar a poesia como um discurso monológico, a temer<br />
a linguagem única da poesia e a condenar com veemência o conceito de linguagem poética<br />
defendido pelos poetas simbolistas (Balmont, Ivanov), pelos futuristas (V. Khliébnikov) e<br />
se tornado a chave do formalismo russo. Devemos esclarecer, contudo, que pelo menos<br />
no que se refere a Khliébnikov, o temor de Bakhtin não procede, visto que a poesia zaúm<br />
assumiu a poeticidade articulada na (in)tensa vivência da palavra no contexto dinâmico da<br />
língua e num universo pluralista de linguagens. Embora este exercício de linguagem tenha<br />
escapado a Bakhtin, ele não deixou de perceber a riqueza dialógica do discurso poético de<br />
Horácio, Villon, Heine, Laforgue, Ânienski e de Púchkin, de quem analisa alguns fragmentos<br />
do notável Evguiênin Oniêguin. Estas poucas páginas, que ocupam dois capítulos do ensaio<br />
sobre o discurso no romance (pp. 85-133), merecem uma leitura particular daqueles que<br />
desejam entender o conceito de poesia que Bakhtin tinha em mente ao se propor estudar a<br />
poética da prosa romanesca (...)<br />
A romancização, o metacriticismo e o drama da evolução literária<br />
Quando Bakhtin atribui ao romance a característica de gênero em devir, seu objetivo<br />
principal é apresentar uma estrutura poética cujas possibilidades plásticas ainda não foram<br />
39
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
totalmente exploradas. Quer dizer, o romance é um gênero novo, constituído<br />
a partir das línguas vivas e das novas formas de recepção advindas da<br />
escrita e do livro. Este dado novo provoca o interesse de Bakhtin pelas<br />
relações entre a épica e o romance, com objetivo de delimitar com maior<br />
rigor a “metodologia do estudo do romance”, preocupação central do ensaio<br />
“Epos e romance”, escrito em 1941 (pp. 397-428).<br />
Operando contra o pano de fundo da épica, Bakhtin observa que o<br />
romance não é um gênero entre outros, mas o único que está evoluindo em meio a outros<br />
gêneros já consolidados (p. 398). Sua convivência com estes gêneros é, contudo, confl ituosa,<br />
não há harmonia; pelo contrário, o romance serve-se da paródia para denunciar os graus<br />
de convencionalidade das composições estáveis, reinterpretá-las e até mesmo eliminá-las.<br />
O romance, enfi m, põe em crise o próprio conceito de gênero como formação estável e se<br />
apresenta como antigênero, um metagênero, em desacordo com normas e cânones; reconhece<br />
a arbitrariedade e convencionalidade de todas as formas, inclusive de si próprio.<br />
Este olhar corrosivo e ao mesmo tempo criativo, que o romance dirige aos outros gêneros,<br />
prefi gura a performance do romance na História literária. O romance, quando surge, romanciza<br />
os outros gêneros. Romancizar não signifi ca, contudo, subjugar para mais facilmente impor um<br />
cânone estranho aos dominados, pois o próprio romance está privado deste cânone. Trata-se<br />
de liberá-los (os gêneros subjugados) de tudo o que é convencional, necrosado, empolado<br />
e amorfo, impedindo sua evolução (p. 427). O fenômeno da romancização, apontado por<br />
Bakhtin, não é apenas uma implicação direta do caráter paródico que reina na estrutura<br />
interna do romance; é sintoma das alterações e, conseqüentemente, da reordenação dos<br />
fenômenos literários dentro de um novo quadro num determinado momento do processo<br />
evolutivo. Ou seja, quando o romance se estabelece como gênero predominante, toda a<br />
literatura é afetada por uma espécie de criticismo de gêneros. Esta revisão de posições ante<br />
um novo quadro é que permite a reformulação dos constituintes dos gêneros poéticos.<br />
(...) “O romance tornou-se o principal personagem do drama da evolução literária na<br />
era moderna precisamente porque, melhor do que todos, é ele que expressa as tendências<br />
evolutivas do novo mundo; ele é, por isso, o único gênero nascido naquele mundo e em tudo<br />
semelhante a ele” (p. 400). Na verdade, todas estas propriedades do romance estudadas<br />
por Bakhtin ainda não tiveram, a meu ver, a devida acolhida nos estudos literários, que não<br />
contam com um instrumental teórico para tratar de formações inacabadas e em evolução.<br />
(...)Colocando o romance na perspectiva da épica, Bakhtin procura valorizar aqueles<br />
aspectos que fi cam fora de qualquer comparação. Por exemplo, enquanto a épica -¬ a mais<br />
sublime expressão dos gêneros elevados - só se dignifi cou ao representar o passado épico<br />
único, distante e glorioso, o romance se alimenta do presente vulgar, instável, transitório.<br />
É isso que o situa na perspectiva direta dos gêneros inferiores, as sátiras populares, que<br />
fi zeram da instabilidade do presente e do sujeito que nele vive o objeto de sua representação.<br />
O gênero sério-cômico torna-se, para Bakhtin, a primeira etapa da evolução do romance<br />
enquanto gênero em devir, em prejuízo, inclusive, da épica. É nas representações burlescas<br />
que a atualidade entra pela primeira vez como objeto de representação literária. “Quando o<br />
presente se torna o centro da orientação humana no tempo e no mundo”, estes “perdem seu<br />
caráter acabado”. “O tempo e o mundo tornam-se históricos” (p. 419). O tema do herói que<br />
tudo vence perde, assim, terreno no romance, cujos temas gravitam em torno da inadequação<br />
do homem ao seu destino; o personagem, ao invés de glorioso e invencível, é um ideólogo em<br />
potencial, como já foi referido anteriormente. E o que é mais importante: a épica não suscita<br />
nenhum questionamento, ao passo que o romance, travestido de Sherazade, “especula sobre<br />
categorias da ignorância”, mantendo aceso o interesse pelo que vem depois. As respostas<br />
adiadas são perguntas em formação nem sempre resolvidas no fi nal.<br />
40
BIBLIOGRAFIA<br />
BAKHTIN, M. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto<br />
de François Rabelais (tradução de Yara Frateschi Vieira). São Paulo, Hucitec; Brasília,<br />
Ed. da Universidade de Brasília, 1987.<br />
_________. “Arte y responsabilidad”. In Estética de la creación verbal (tradução<br />
de Tatiana Bubnova). México: Siglo Veintiuno, 1982.<br />
_________. Problemas da poética de Dostoiévski (tradução de Paulo Bezerra).<br />
Rio de Janeiro: Forense- Universitária, 1981.<br />
_________. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance (tradução de<br />
Aurora F. Bernardini e outros). São Paulo: Hucitec e Fund. para o Desenv. da Unesp, 1988.<br />
Este texto foi retirado do site de pesquisa:<br />
http://www.usp.br/revistausp/n5/fmachadotexto.html<br />
Neste texto, tivemos um breve contato sobre a forma bakhtiniana de pensar os<br />
gêneros literários. A proposta de Bakhtin pode ser uma tendência dentro da perspectiva<br />
contemporânea, quando se pretende pensar em teorias que não se aplicam de forma<br />
vasoconstritora e que propõem um diálogo com desdobramentos outros de formas de narrar<br />
que se mantém extremamente fl uidas. Para tanto, é necessário o conhecimento acerca das<br />
teorias que ele coloca em diálogo, assim como o entendimento de que, o que ele propõe,<br />
antes de tentar romper com alguma refl exão feita anteriormente, seria mais uma tentativa<br />
de compreender as teorias que vêm junto com seu tempo. Ele sugere, assim, uma leitura<br />
do passado a partir do presente. Reconhece os formatos antigos e propõe um outro olhar<br />
sobre as mudanças que esse ‘antigo’ sofrera.<br />
Atividades<br />
Complementares<br />
Após termos estudado a teoria dos gêneros literários neste bloco, escolha um gênero e tente<br />
refl etir sobre seu desdobramento na atualidade. Para efetivar essa refl exão, cite exemplos que<br />
demonstrem, com as respectivas marcas textuais, a situação que você pretende insinuar acerca<br />
deste gênero, como um processo de desdobramento e/ou transfi guração. Você pode, ao escolher<br />
a lírica, traçar um breve comentário sobre como a lírica se confi gurava e como poderia ser visto,<br />
hoje, um poema concretista como uma continuidade da lírica clássica na contemporaneidade.<br />
41
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
EM TEMPO:<br />
OUTRAS QUESTÕES<br />
LITERÁRIAS<br />
QUEM NARRA AQUI<br />
Walter Benjamin: O narrador<br />
De acordo com Walter Benjamin 28 , as fi guras arcaicas de narradores estão representados<br />
por dois grupos: o marinheiro comerciante e o camponês sedentário, que transmitiam suas<br />
diferentes experiências: de viagens e mundos desconhecidos pelo marinheiro comerciante,<br />
e a vivência da terra pelo narrador sedentário, o camponês. Com o surgimento das ofi cinas<br />
na Idade Média, os dois grupos se fundiram trocando histórias e experiências narradas ao<br />
longo da jornada de trabalho passada nas ofi cinas.<br />
O mestre sedentário e os aprendizes migrantes trabalhavam juntos na mesma ofi cina;<br />
cada mestre tinha sido um aprendiz ambulante antes de se fi xar em sua pátria ou no<br />
estrangeiro. Se os camponeses e os marujos foram os primeiros mestres da arte de narrar,<br />
foram os artífi ces que a aperfeiçoaram. No sistema corporativo associava-se o saber das<br />
terras distantes, trazidos para casa pelos migrantes, com o saber do passado, recolhido<br />
pelo trabalhador sedentário. 29<br />
Walter Benjamin, no texto O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov<br />
enfatiza a importância da troca de experiências nas narrativas de tradição oral, nas quais<br />
a palavra do narrador aglutinava e transmitia valores sociais e morais ao(s) ouvinte(s). Ao<br />
narrar a experiência sua ou alheia a fi gura do narrador se confundia com o próprio discurso.<br />
A riqueza em sabedoria manifestada nessas narrativas foi se apagando ao longo do tempo,<br />
à medida que o indivíduo se distanciou de valores coletivos, e passou a buscar respostas<br />
particulares, isoladas. Destituído dos antigos pactos sociais, o narrador clássico desapareceu,<br />
dando lugar ao romancista questionador, perplexo, desorientado.<br />
Vamos ler alguns trechos do texto O narrador, de Walter Benjamin para termos uma<br />
maior compreensão sobre os fatos que ele nos apresenta.<br />
O NARRADOR<br />
Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov<br />
(Walter Benjamin)<br />
Por mais familiar que seja seu nome, o narrador não está de fato presente entre<br />
nós, em sua atualidade viva. Ele é algo de distante, e que se distancia ainda mais.<br />
1<br />
28 - BENJAMIN, Walter. O Narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Arte e Política. Ensaios sobre literatura e<br />
história da cultura. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1987.<br />
29 - Op. Cit. p. 199.<br />
42
Descrever um Leskov* 30 como narrador não signifi ca trazê-Io mais perto de nós, e sim,<br />
pelo contrário, aumentar a distância que nos separa dele. Vistos de uma certa distância,<br />
os traços grandes e simples que caracterizam o narrador se destacam nele. Ou melhor,<br />
esses traços aparecem, como um rosto humano ou um corpo de animal aparecem<br />
num rochedo, para um observador localizado numa distância apropriada e num ângulo<br />
favorável. Uma experiência quase cotidiana nos impõe a exigência dessa distância e<br />
desse ângulo de observação. É a experiência de que a arte de narrar está em vias de<br />
extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando<br />
se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como<br />
se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a<br />
faculdade de intercambiar experiências.<br />
Uma das causas desse fenômeno é óbvia: as ações da experiência estão em<br />
baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de todo. Basta<br />
olharmos um jornal para percebermos que seu nível está mais baixo que nunca, e que<br />
da noite para o dia não somente a imagem do mundo exterior, mas também a do mundo<br />
ético sofreram transformações que antes não julgaríamos possíveis. Com a guerra<br />
mundial tornou-se manifesto um processo que continua até hoje. No fi nal da guerra,<br />
observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha não mais ricos,<br />
e sim mais pobres em experiência comunicável. E o que se difundiu dez anos depois,<br />
na enxurrada de livros sobre a guerra, nada tinha em comum com uma experiência<br />
transmitida de boca em boca. Não havia nada de anormal nisso. Porque nunca houve<br />
experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela<br />
guerra de trincheiras, a experiência econômica pela infl ação, a experiência do corpo<br />
pela guerra de material e a experiência ética pelos governantes. Uma geração que ainda<br />
fora à escola num bonde puxado por cavalos se encontrou ao ar livre numa paisagem<br />
em que nada permanecera inalterado, exceto as nuvens, e debaixo delas, num campo<br />
de forças de torrentes e explosões, o frágil e minúsculo corpo humano.<br />
2<br />
A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os<br />
narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem<br />
das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Entre estes, existem<br />
dois grupos, que se interpenetram de múltiplas maneiras. A fi gura do narrador só se<br />
torna plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos. “Quem viaja tem<br />
muito que contar”, diz o povo, e com isso imagina o narrador como alguém que vem<br />
de longe. Mas também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente<br />
sua vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições. Se quisermos<br />
concretizar esses dois grupos através dos seus representantes arcaicos, podemos<br />
dizer que um é exemplifi cado pelo camponês sedentário e outro pelo marinheiro<br />
comerciante. Na realidade, esses dois estilos de vida produziram de certo modo suas<br />
respectivas famílias de narradores. Cada uma delas conservou, no decorrer dos<br />
séculos, suas características próprias. Assim, entre os autores alemães modernos<br />
Hebel e Gotthelf pertencem à primeira família, e Sielsfi eld e Gerstäcker à segunda. No<br />
entanto essas duas famílias, como já se disse constituem apenas tipos fundamentais.<br />
30 - (*) Nikolai Leskov nasceu em 1831 na província de Orjol e morreu em 1895 em S. Petersburgo. Por seus interesses e simpatias<br />
pelos camponeses, tem certas afi nidades com Tolstoi e por sua orientação religiosa com Dostoievski. Mas os textos menos duradouros<br />
de sua obra são exatamente aqueles em que tais tendências assumem uma expressão dogmática e doutrinária - os primeiros romances.<br />
A signifi cação de Leskov está em suas narrativas, que pertencem a uma fase posterior. Desde o fi m da guerra houve várias tentativas<br />
de difundir essas narrativas nos países de língua alemã. Além das pequenas coletâneas publicadas pelas editoras Musarion e Georg<br />
Müller, devemos mencionar, com especial destaque, a seleção em nove volumes da editora C. H. Beck.<br />
43
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
A extensão real do reino narrativo, em todo o seu alcance histórico,<br />
só pode ser compreendido se levarmos em conta a interpenetração<br />
desses dois tipos arcaicos. O sistema corporativo medieval contribuiu<br />
especialmente para essa interpenetração. O mestre sedentário e os<br />
aprendizes migrantes trabalhavam juntos na mesma ofi cina; cada<br />
mestre tinha sido um aprendiz ambulante antes de se fi xar em sua<br />
pátria ou no estrangeiro. Se os camponeses e os marujos foram os primeiros mestres<br />
da arte de narrar, foram os artífi ces que a aperfeiçoaram. No sistema corporativo<br />
associava-se o saber das terras distantes, trazidos para casa pelos migrantes, com o<br />
saber do passado, recolhido pelo trabalhador sedentário.<br />
3<br />
Leskov está à vontade tanto na distância espacial como na distância temporal.<br />
Pertencia à Igreja Ortodoxa grega e tinha um genuíno interesse religioso. Mas sua<br />
hostilidade pela burocracia eclesiástica não era menos genuína. Como suas relações<br />
com o funcionalismo leigo não eram melhores, os cargos ofi ciais que exerceu não foram<br />
de longa duração. O emprego de agente russo de uma fi rma inglesa, que ocupou durante<br />
muito tempo, foi provavelmente, de todos os empregos possíveis, o mais útil para sua<br />
produção literária. A serviço dessa fi rma, viajou pela Rússia, e essas viagens enriqueceram<br />
tanto a sua experiência do mundo como seus conhecimentos sobre as condições russas.<br />
Desse modo teve ocasião de conhecer o funcionamento das seitas rurais, o que deixou<br />
traços em suas narrativas. Nos contos lendários russos, Leskov encontrou aliados em<br />
seu combate contra a burocracia ortodoxa. Escreveu uma série de contos desse gênero,<br />
cujo personagem central é o justo, raramente um asceta, em geral um homem simples<br />
e ativo,’ que se transforma em santo com a maior naturalidade. A exaltação mística é<br />
alheia a Leskov. Embora ocasionalmente se interessasse pelo maravilhoso, em questões<br />
de piedade preferia uma atitude solidamente natural. Seu ideal é o homem que aceita<br />
o mundo sem se prender demasiadamente a ele. Seu comportamento em questões<br />
temporais correspondia a essa atitude. É coerente com tal comportamento que ele tenha<br />
começado tarde a escrever, ou seja, o com 29 anos, depois de suas viagens comerciais.<br />
Seu primeiro texto impresso se intitulava: “Por que são os livros caros em Kiev?”. Seus<br />
contos foram precedidos por uma série de escritos sobre a classe operária, sobre o<br />
alcoolismo, sobre os médicos da polícia e sobre os vendedores desempregados. (...)<br />
5<br />
O primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da narrativa é o<br />
surgimento do romance no início do período moderno. O que separa o romance da<br />
narrativa (e da epopéia no sentido estrito) é que ele está essencialmente vinculado<br />
ao livro. A difusão do romance só se torna possível com a invenção da imprensa. A<br />
tradição oral, patrimônio da poesia épica, tem uma natureza fundamentalmente distinta<br />
da que caracteriza o romance. O que distingue o romance de todas as outras formas de<br />
prosa - contos de fada, lendas e mesmo novelas - é que ele nem procede da tradição<br />
oral nem a alimenta. Ele se distingue, especialmente, da narrativa. O narrador retira<br />
da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E<br />
incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes. O romancista segregase.<br />
A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplarmente<br />
sobre suas preocupações mais importantes e que não recebe conselhos nem sabe<br />
dá-los. Escrever um romance signifi ca, na descrição de uma vida humana, levar o<br />
44
incomensurável a seus últimos limites. Na riqueza dessa vida e na descrição dessa<br />
riqueza, o romance anuncia a profunda perplexidade de quem a vive. O primeiro<br />
grande livro do gênero, Dom Quixote, mostra como a grandeza de alma, a coragem e<br />
a generosidade de um dos mais nobres heróis da literatura são totalmente refratárias<br />
ao conselho e não contêm a menor centelha de sabedoria.<br />
6<br />
Devemos imaginar a transformação das formas épicas segundo ritmos comparáveis<br />
aos que presidiram à transformação da crosta terrestre no decorrer dos milênios.<br />
Poucas formas de comunicação humana evoluíram mais lentamente e se extinguiram<br />
mais lentamente. O romance, cujos primórdios remontam à Antiguidade, precisou de<br />
centenas de anos para encontrar, na burguesia ascendente, os elementos favoráveis<br />
a seu fl orescimento. Quando esses elementos surgiram, a narrativa começou pouco a<br />
pouco a tornar-se arcaica; sem dúvida, ela se apropriou, de múltiplas formas, do novo<br />
conteúdo, mas não foi determinada verdadeiramente por ele. Por outro lado, verifi camos<br />
que com a consolidação da burguesia - da qual a imprensa, no alto capitalismo é um<br />
dos instrumentos mais importantes - destacou-se uma forma de comunicação que,<br />
por mais antigas que fossem suas origens, nunca havia infl uenciado decisivamente a<br />
forma épica. Agora ela exerce essa infl uência. Ela é tão estranha à narrativa como o<br />
romance; mas é mais ameaçadora e, de resto, provoca uma crise no próprio romance.<br />
Essa nova forma de comunicação é a informação. (...)<br />
Cada manhã recebemos notícias de todo mundo. E, no entanto, somos pobres<br />
em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados<br />
de explicações. Em outras palavras: quase nada do que acontece está a serviço da<br />
narrativa, e quase tudo está a serviço da informação. Metade da arte narrativa está<br />
em evitar explicações. (...) O extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior<br />
exatidão, mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre para<br />
interpretar a história como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude<br />
que não existe na informação. (...)<br />
Trouxemos para você a seleção das partes que julgamos ser as mais interessantes para<br />
darmos continuidade à nossa conversa sobre o narrador. Repare como Benjamin fala, no<br />
início do texto, de dois tipos de narradores: o marinheiro viajante e o camponês sedentário.<br />
Todos abraçam o estereótipo do narrador que o autor quer traçar como sendo aquele que<br />
repassa a história, os ensinamentos, a experiência. Um narra sua experiência de viagem e<br />
o outro narra sua experiência de observação. Os dois, em mar ou em terra, fazem o papel<br />
do sábio, daquele que pode falar e dar conselhos porque viveu, porque pode recorrer ao<br />
acervo de toda uma vida: a sua própria e a do outro que ele também conhece muito bem. O<br />
narrador, trazido à cena por Walter Benjamin, prima por uma leveza baseada muito mais na<br />
concepção prática da vida do que na abstração de uma moral pura e simples. Ele tem suas<br />
“raízes no povo, principalmente nas camadas artesanais”. E a narrativa construída a partir<br />
dessa raiz, tira de dentro de si o substrato com o qual unifi cará um discurso cuja fabricação<br />
conta com o tempo da memória.<br />
45
A narração na pós-modernidade<br />
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Depois de termos lido o texto de Walter Benjamin sobre o narrador,<br />
voltemos um pouco os olhos para a contemporaneidade para pensarmos<br />
como esse narrador se desdobraria no agora. O texto a seguir, escrito<br />
por Silviano Santiago, ilustra um pouco a forma como esse narrador<br />
contemporâneo se confi gura.<br />
O narrador pós-moderno<br />
(Silviano Santiago)<br />
Os contos de Edilberto Coutinho servem tanto para colocar de maneira exemplar<br />
como para discutir exaustivamente uma das questões básicas sobre o narrador na pósmodernidade.<br />
Quem narra uma história é quem a experimenta, ou quem a vê? Ou seja: é<br />
aquele que narra ações a partir da experiência que tem delas, ou é aquele que narra ações<br />
a partir de um conhecimento que passou a ter delas por tê-Ias observado em outro?<br />
No primeiro caso, o narrador transmite uma vivência; no segundo caso, ele passa<br />
uma informação sobre outra pessoa. Pode-se narrar uma ação de dentro dela, ou de<br />
fora dela. É insufi ciente dizer que se trata de uma opção. Em termos concre¬tos: narro a<br />
experiência de jogador de futebol porque sou jogador de futebol; narro as experiências de<br />
um jogador de futebol porque acostumei-me a observá-Io. No primeiro caso, a narrativa<br />
expressa a experiência de uma ação; no outro, é a experiência proporcionada por um<br />
olhar lançado. Num caso, a ação é a experiência que se tem dela, e é isso que empresta<br />
autenticidade à matéria que é narrada e ao relato; no outro caso, é discutível falar de<br />
autenticidade da experiência e do relato porque o que se transmite é uma informação<br />
obtida a partir da observação de um terceiro. O que está em questão é a noção de<br />
autenticidade. Só é autêntico o que eu narro a partir do que experimento, ou pode ser<br />
autêntico o que eu narro e conheço por ter observado? Será sempre o saber humano<br />
decorrência da experiência concreta de uma ação, ou o saber poderá existir de uma forma<br />
exterior a essa experiência concreta de uma ação? Um outro exemplo palpável: digo<br />
que é autêntica a narrativa de um incêndio feita por uma das vítimas, pergunto se não é<br />
autêntica a narrativa do mesmo incêndio feita por alguém que esteve ali a observá-Io.<br />
Tento uma primeira hipótese de trabalho: o narrador pós-moderno é aquele<br />
que quer extrair a si da ação narrada, em atitude semelhante à de um repórter ou<br />
de um espectador. Ele narra a ação enquanto espetáculo a que assiste (literalmente<br />
ou não) da platéia, da arquibancada ou de uma poltrona na sala de estar ou na<br />
biblioteca; ele não narra enquanto atuante.<br />
Trabalhando com o narrador que olha para se informar (e não com o que narra<br />
mergulhado na própria experiência), a fi cção de Edilberto Coutinho dá um passo a mais no<br />
processo de rechaço e distanciamento do narrador clássico, segundo a caracterização modelar<br />
que dele fez Walter Benjamin, ao tecer considerações sobre a obra de Nicolai Leskov. É o<br />
movimento de rechaço e de distanciamento que torna o narrador pós-moderno.<br />
Para Benjamin os seres humanos estão se privando hoje da “faculdade de<br />
intercambiar experiência”, isso porque “as ações da experiência estão em baixa, e<br />
tudo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de todo”. À medida<br />
que a sociedade se moderniza, torna-se mais e mais difícil o diálogo enquanto troca<br />
de opiniões sobre ações que foram vivenciadas. As pessoas já não conseguem hoje<br />
narrar o que experimentaram na própria pele.<br />
Dessa forma, Benjamin pode caracterizar três estágios evolutivos por que passa<br />
46
a história do narrador. Primeiro estágio: o narrador clássico, cuja função é dar ao seu<br />
ouvinte a oportunidade de um intercâmbio de experiência (único valorizado no ensaio);<br />
segundo: o narrador do romance, cuja função passou a ser a de não mais poder falar<br />
de maneira exemplar ao seu leitor; terceiro: o narrador que é jornalista, ou seja, aquele<br />
que só transmite pelo narrar a informação, visto que escreve não para narrar a ação da<br />
própria experiência, mas o que aconteceu com x ou y em tal lugar e a tal hora. Benjamin<br />
desvaloriza (o pós-moderno valoriza) o último narrador. Para Benjamin, a narrativa<br />
não deve estar “interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada como uma<br />
informação ou um relatório”. A narrativa é narrativa “porque ela mergulha a coisa na<br />
vida do narrador para depois retirá-la dele”. No meio, fi ca o narrador do romance, que<br />
se quer impessoal e objetivo diante da coisa narrada, mas que, no fundo, se confessa<br />
como Flaubert o fez de maneira paradigmática: “Madame Bovary, c’est moi”.<br />
Retomemos: a coisa narrada é mergulhada na vida do narrador e dali retirada;<br />
a coisa narrada é vista com objetividade pelo narrador, embora este confesse tê-Ia<br />
extraído da sua vivência; a coisa narrada existe como puro em si, ela é informação,<br />
exterior à vida do narrador.<br />
No raciocínio de Benjamin, o principal eixo em torno do qual gira o “embelezamento”<br />
(e não a decadência) da narrativa clássica hoje é a perda gradual e constante da sua<br />
“dimensão utilitária”. O narrador clássico tem “senso prático”, pretende ensinar algo.<br />
Quando o camponês sedentário ou o marinheiro comerciante narram, respectivamente,<br />
tradições da comunidade ou viagens ao estrangeiro, eles estão sendo úteis ao ouvinte.<br />
Diz Benjamin: “Essa utilidade [da narrativa] pode consistir seja num ensinamento moral,<br />
seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida - de qualquer<br />
maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos.” E arremata: “O conselho<br />
tecido na substância viva da experiência tem um nome: sabedoria.” A informação não<br />
transmite essa sabedoria porque a ação narrada por ela não foi tecida na substância<br />
viva da existência do narrador.<br />
Tento uma segunda hipótese de trabalho: o narrador pós-moderno é o que<br />
transmite uma “sabedoria” que é decorrência da observação de uma vivência alheia<br />
a ele, visto que a ação que narra não foi tecida na substância viva da sua existência.<br />
Nesse sentido, ele é o puro fi ccionista, pois tem de dar “autenticidade” a uma ação que,<br />
por não ter o respaldo da vivência, estaria desprovida de autenticidade. Esta advém da<br />
verossimilhança, que é produto da lógica interna do relato. O narrador pós-moderno<br />
sabe que o “real” e o “autêntico” são construções de linguagem.<br />
A perda do caráter utilitário e a subtração do bom conselho e da sabedoria,<br />
características do estágio presente da narrativa, não são vistas por Benjamin como<br />
sinais de um processo de decadência por que passa a arte de narrar hoje, como<br />
sugerimos atrás, o que o retira de imediato da categoria dos historiadores anacrônicos<br />
ou catastrófi cos. Na escrita de Benjamin, a perda e as subtrações acima referidas são<br />
apontadas para que se saliente, por contraste, a “beleza” da narrativa clássica – a<br />
sua perenidade. O jogo básico no raciocínio de Benjamin é a valorização do pleno a<br />
partir da constatação do que nele se esvai. E o incompleto - antes de ser inferior - é<br />
apenas menos belo e mais problemático. As transformações por que passa o narrador<br />
são concomitantes com “toda uma evolução secular das forças produtivas”. Não se<br />
trata, pois, de olhar para trás para repetir o ontem hoje (seríamos talvez historiadores<br />
mais felizes, porque nos restringiríamos ao reino do belo). Trata-se antes de julgar<br />
belo o que foi e ainda o é – no caso, o narrador clássico –, e de dar conta do que<br />
apareceu como problemático ontem – o narrador do romance –, e que aparece ainda<br />
mais problemático hoje – o narrador pós-moderno. Aviso aos benjaminianos: estamos<br />
47
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
utilizando o conceito de narrador num sentido mais amplo do que o<br />
proposto pelo fi lósofo alemão. Reserva a ele o conceito apenas para<br />
o que estamos chamando de narrador clássico.<br />
(...) De maneira ainda simplifi cada, pode-se dizer que o narrador<br />
olha o outro para levá-Io a falar (entrevista), já que ali não está para<br />
falar das ações de sua experiência. Mas nenhuma escrita é inocente.<br />
Como correlato à afi rmação anterior, acrescente¬mos que, ao dar fala ao outro, acaba<br />
também por dar fala a si, só que de maneira indireta. A fala própria do narrador que se<br />
quer repórter é a fala por interposta pessoa. A oscilação entre repórter e romancista,<br />
vivenciada sofridamente pelo personagem (Hemingway), é a mesma experimentada,<br />
só que em silêncio, pelo narrador (brasileiro). Por que este não narra as coisas como<br />
sendo suas, ou seja, a partir da sua própria experiência?<br />
Antes de responder a essa pergunta, entremos num outro conto espanhol de<br />
Edilberto Coutinho, “Azeitona e vinho”. Em rápidas linhas, eis o que acontece: um velho<br />
e experiente homem do povoado (que é o narrador do conto), sentado numa bodega,<br />
toma vinho e olha um jovem toureiro, Pablo (conhecido como EI Mudo), cercado de<br />
amigos, admiradores e turistas ricos. Olhando e observando como um repórter diante<br />
do objeto da sua matéria, o velho se embriaga mais e mais tecendo conjeturas sobre<br />
a vida do outro, ou seja, o que acontece, aconteceu e deveria acontecer com o jovem<br />
e inexperiente toureiro, depositando nele as esperanças de todo o povoado.<br />
Os personagens e temas são semelhantes aos do conto anterior, e o que importa<br />
para nós: a própria atitude do narrador é semelhante, embora ele, no segundo conto,<br />
já não tenha mais como profi ssão o jornalismo, é alguém do povoado. O narrador tinha<br />
tudo para ser o narrador clássico: como velho e experiente, podia debruçar-se sobre<br />
as ações da sua vivência e, em reminiscência, misturar a sua história com outras que<br />
convivem com ela na tradição da comunidade. No entanto, nada disso faz. Olha o mais<br />
novo e se embriaga com vinho e a vida do outro. Permanece, pois, como válida e como<br />
vértebra da fi cção de EC uma forma precisa de narrar, ainda que desta vez a forma<br />
jornalística não seja coincidente com a profi ssão do narrador (onde a autenticidade<br />
como respaldo para a verossimilhança?). Trata-se de um estilo, como se diz, ou de uma<br />
visão do mundo, como preferimos, uma característica do conto de EC que transcende<br />
até mesmo as regras mínimas de caracterização do narrador.<br />
A continuidade no processo de narrar estabelecida entre contos diferentes<br />
afi rma que o essencial da fi cção de EC não é a discussão sobre o narrador enquanto<br />
repórter (embora o possa ser neste ou naquele conto), mas o essencial é algo de<br />
mais difícil apreensão, ou seja, a própria arte do narrar hoje. Por outro lado, paralela<br />
a esta constatação, surge a pergunta já anunciada anteriormente e estrategicamente<br />
abandonada: por que o narrador não narra sua experiência de vida? A história de<br />
“Azeitona e vinho” narra ações enquanto vivenciadas pelo jovem toureiro; ela é<br />
basicamente a experiência do olhar lançado ao outro.<br />
Atando a constatação à pergunta, vemos que o que está em jogo nos contos de<br />
EC não é tanto a trama global de cada conto (sempre é de fácil compreensão), nem a<br />
caracterização e desenvolvimento dos personagens (sempre beiram o protótipo), mas algo<br />
de mais profundo que é o denso mistério que cerca a fi gura do narrador pós-moderno.<br />
O narrador se subtrai da ação narrada (há graus de intensidade na subtração, como<br />
veremos ao ler “A lugar algum”) e, ao fazê-Io, cria um espaço para a fi cção dramatizar a<br />
48
experiência de alguém que é observado e muitas vezes desprovido de palavra. Subtraindose<br />
à ação narrada pelo conto, o narrador identifi ca-se com um segundo observador - o<br />
leitor. Ambos se encontram privados da exposição da própria experiência na fi cção e são<br />
observadores atentos da experiência alheia. Na pobreza da experiência de ambos se<br />
revela a importância do personagem na fi cção pós-moderna; narrador e leitor se defi nem<br />
como espectadores de uma ação alheia que os empolga, emociona, seduz etc.<br />
A maioria dos contos de Edilberto se recobrem e se enriquecem pelo enigma que cerca<br />
a compreensão do olhar humano na civilização moderna. Por que se olha? Para que se olha?<br />
Razão e fi nalidade do olhar lançado ao outro não se dão à primeira vista, porque se trata<br />
de um diálogo-em-literatura (isto é, expresso por palavra) que, paradoxalmente, fi ca aquém<br />
ou além das palavras. A fi cção existe para falar da incomunicabilidade de experiências: a<br />
experiência do narrador e a do personagem. A incomunicabilidade, no entanto, se recobre pelo<br />
tecido de uma relação, relação esta que se defi ne pelo olhar. Uma ponte, feita de palavras,<br />
envolve a experiência muda do olhar e torna possível a narrativa.<br />
No conto “Azeitona e vinho”, insiste o narrador: “Pablito não sabe que o estou observando,<br />
naquele grupo”. E ainda: “Não se lembrará de mim, mas talvez não tenha esquecido as coisas<br />
de que lhe falei.” Permanece a fi xidez imperturbável de um olhar que observa alguém, aquém<br />
ou além das palavras, no presente da bodega (de uma mesa observa-se a outra), ou no<br />
passado revivido pela lembrança (ainda o vejo, mas no passado).<br />
Não é importante a retribuição do olhar. Trata-se de um investimento feito pelo<br />
narrador em que ele não cobra lucro, apenas participação, pois o lucro está no próprio<br />
prazer que tem de olhar. Dou uma força, diz o narrador. Senti fi rmeza, retruca o<br />
personagem. Ambos mudos. Não há mais o jogo do “bom conselho” entre experientes,<br />
mas o da admiração do mais velho. A narrativa pode expressar uma “sabedoria”, mas<br />
esta não advém do narrador: é depreendida da ação daquele que é observado e não<br />
consegue mais narrar - o jovem. A sabedoria apresenta-se, pois, de modo invertido.<br />
Há uma desvalorização da ação em si.<br />
Eis nas suas linhas gerais a graça e o sortilégio da experiência do narrador que<br />
olha. O perigo no conto de EC não são as mordaças, mas as vendas. Como se o<br />
narrador exigisse: Dei¬xem-me olhar para que você, leitor, também possa ver.<br />
O olhar tematizado pelo narrador de “Azeitona e vinho” é um olhar de generosidade,<br />
de simpatia, amoroso até, que recobre o jovem Pablito, sem que o jovem se dê conta<br />
da dá¬diva que lhe está sendo oferecida. Mas, atenção!, o mais experiente não tem<br />
conselho a dar, e é por isso que não pode visar lucro com o investimento do olhar. Não<br />
deve cobrar, por assim dizer. Eis a razão para a briga entre Hemingway (observador e<br />
também homem da palavra) e o toureiro Dominguín (observado e homem da ação):<br />
Nessa época, Dominguín o chamava de Pai. Papá. Agora dizia que o velho andava<br />
zureta. Pai pirado. Poucos dias depois pude mostrar a Clara uma entrevista em que<br />
Dominguín contava: Eu era seu hóspede em Cuba. Vieram uns jornalistas à casa dele,<br />
para entrevistar-me. [...] Quando um jornalista quis saber se era verdade que eu procurava<br />
os conselhos [o grifo é nosso] do dono da casa, para melhorar a minha arte, compreendi<br />
bem como pudera ter surgido o despropositado boato, só de ver o rosto dele. Pensei em<br />
dar uma resposta diplomática, mas mudei de idéia e falei com toda a franqueza: Não creio,<br />
no ponto a que cheguei, precisar dos conselhos de ninguém em questão de tourada.<br />
(...) A vivência do mais experiente é de pouca valia. Primeira constatação: a ação<br />
pós-moderna é jovem, inexperiente, exclusiva e privada da palavra - por isso tudo é<br />
que não pode ser dada como sendo do narrador. Este observa uma ação que é ao<br />
mesmo tempo, incomodamente auto-sufi ciente. O jovem pode acertar errando ou errar<br />
acertando. De nada vale o paternalismo responsável no direcionamento da conduta. A<br />
49
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
não ser que o paternalismo se prive de palavras de conselho e seja<br />
um longo deslizar silencioso e amoroso pelas alamedas do olhar.<br />
Caso o olhar queira ser reconhecido como conselho, surge a<br />
incomunicabilidade entre o mais experiente e o menos. A palavra já<br />
não tem sentido porque já não existe mais o olhar que ela recobre.<br />
Desaparece a necessidade da narrativa. Existe, pesado, o silêncio.<br />
Para evitá-Io, o mais experiente deve subtrair-se para fazer valer, fazer brilhar o menos<br />
experiente. Por a experiência do mais experiente ser de menor valia nos tempos pósmodernos<br />
é que ele se subtrai. Por isso tudo também é que se torna praticamente<br />
impossível hoje, numa narrativa, o cotejo de experiências adultas e maduras sob a<br />
forma mútua de conselhos. Cotejo que seria semelhante ao encontrado na narra¬tiva<br />
clássica e que conduziria a uma sabedoria prática de vida.<br />
Em virtude da incomunicabilidade da experiência entre gerações diferentes, percebese<br />
como se tornou impossível dar continuidade linear ao processo de aprimoramento do<br />
homem e da sociedade. Por isso, aconselhar - ao contrário do que pensava Benjaminnão<br />
pode ser mais “fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está<br />
sendo narrada”. A história não é mais vislumbrada como tecendo uma continuidade entre<br />
a vivência do mais experiente e a do menos, visto que o paternalismo é excluído como<br />
processo conectivo entre gerações. As narrativas hoje são, por defi nição, quebradas.<br />
Sempre a recomeçar. Essa é a lição que se depreende de todas as grandes rebeliões<br />
menos experientes que abalaram a década de 60, a começar pelo Free speech movement,<br />
em Berkeley, e indo até os événements de mai, em Paris.<br />
(...)<br />
O velho na bodega já tinha passado por tudo pelo que passa o jovem El Mudo,<br />
mas o que conta é o mesmo diferente pelo que o observador passa, que o observado<br />
experimenta na sua juventude de agora. A ação na juventude de ontem do observador<br />
e a ação na juventude de hoje do observado são a mesma. Mas o modo de encará-Ias<br />
e afi rmá-Ias é diferente. De que valem as glórias épicas da narrativa de um velho diante<br />
do ardor lírico da experiência do mais jovem? - eis o problema pós-moderno.<br />
Aqui se impõe uma distinção importante entre o narrador pós-moderno e o seu<br />
contemporâneo (em termos de Brasil), o narrador memoralista, visto que o texto de<br />
memórias tornou-se importantíssimo com o retorno dos exilados políticos. Referimonos,<br />
é claro, à literatura inaugurada por Fernando Gabeira com o livro O que é isso,<br />
companheiro?, onde o processo de envolvimento do mais experiente pelo menos se<br />
apresenta de forma oposta ao da narrativa pós-moderna. Na narrativa memorialista o<br />
mais experiente adota uma postura vencedora.<br />
Na narrativa memorialista, o narrador mais experiente fala de si mesmo enquanto<br />
personagem menos experiente, extraindo da defasagem temporal e mesmo sentimental<br />
(no sentido que lhe empresta Flaubert em “educação sentimental”) a possibilidade de um<br />
bom conselho em cima dos equívocos cometidos por ele mesmo quando jovem. Essa<br />
narrativa trata de um processo de “amadurecimento” que se dá de forma retilínea. Já<br />
o narrador da fi cção pós-moderna não quer enxergar a si ontem, mas quer observar o<br />
seu ontem no hoje de um jovem. Ele delega a um outro, jovem hoje como ele foi jovem<br />
ontem, a responsabilidade da ação que ele observa. A experiência ingênua e espontânea<br />
de ontem do narrador continua a falar pela vivência semelhante, mas diferente do jovem<br />
que ele observa, e não através de um amadurecimento sábio de hoje.<br />
50
(...)<br />
A literatura pós-moderna existe para falar da pobreza da experiência,<br />
dissemos,<br />
mas também da pobreza da palavra escrita enquanto processo de comunicação.<br />
Trata, portanto, de um diálogo de surdos e mudos, já que o que realmente vale na<br />
relação a dois estabelecida pelo olhar é uma corrente de energia, vital (grifemos:<br />
vital), silenciosa, prazerosa e secreta.<br />
(...)<br />
De maneira sutil, Benjamin toma paralelo o embelezamento da narrativa clássica<br />
com outro embelezamento: o do homem no leito de morte. O mesmo movimento<br />
que descreve o desaparecimento gradual da narrativa clássica serve também para<br />
descrever a exclusão da morte do mundo dos vivos hoje. A partir do século XIX, informanos<br />
Benjamin, evita-se o espetáculo da morte. A exemplaridade que dá autoridade<br />
à narrativa clássica, traduzida pela sabedoria do conselho, encontra a sua imagem<br />
ideal no espetáculo da morte humana. “Ora, é no momento da morte que o saber e a<br />
sabedoria do homem e sobretudo sua existência vivida – e é dessa substância que<br />
são feitas as histórias – assumem pela primeira vez uma forma transmissível.” A morte<br />
projeta um halo de autoridade – “a autoridade que mesmo um pobre-diabo possui ao<br />
morrer” – que está na origem da narrativa clássica.<br />
Morte e narrativa clássica cruzam caminho, abrindo espaço para uma concepção<br />
do devir humano em que a experiência da vida vivida é fechada em sua totalidade,<br />
e é por isso que é exemplar. À nova geração, aos ainda vivos, o exemplo global e<br />
imóvel da velha geração. Ao jovem, o modelo e a possibilidade da cópia morta. Um<br />
furioso iconoclasta oporia ao espetáculo da morte um grito lancinante da vida vivida no<br />
momento de viver. A exemplaridade do que é incompleto. O toureiro na arena sendo<br />
atingido pelo touro.<br />
Há – não tenhamos dúvida – espetáculo e espetáculo, continua o jovem iconoclasta.<br />
Há um olhar camufl ado na escrita sobre o narrador de Benjamin que merece ser revelado e<br />
que se assemelha ao olhar que estamos descrevendo, só que os movimentos dos olhares<br />
são inversos. O olhar no raciocínio de Benjamin caminha para o leito da morte, o luto, o<br />
sofrimento, a lágrima, e assim por diante, com todas as variantes do ascetismo socrático.<br />
O olhar pós-moderno (em nada camufl ado, apenas enigmático) olha nos olhos<br />
o sol. Volta-se para a luz, o prazer, a alegria, o riso, e assim por diante, com todas<br />
as variantes do hedonismo dionisíaco. O espetáculo da vida hoje se contrapõe ao<br />
espetáculo da morte ontem. Olha-se um corpo em vida, energia e potencial de uma<br />
experiência impossível de ser fechada na sua totalidade mortal, porque ela se abre no<br />
agora em mil possibilidades. Todos os caminhos o caminho. O corpo que olha prazeroso<br />
(já dissemos), olha prazeroso um outro corpo prazeroso (acrescentemos) em ação.<br />
“Viver é perigoso”, já disse Guimarães Rosa. Há espetáculo e espetáculo, disse o<br />
iconoclasta. No leito de morte, exuma-se também o perigo de viver. Até mesmo o perigo<br />
de morrer, porque ele já é. Reina única a imobilidade tranqüila do homem no leito de<br />
morte, reino das “belles images”, para retomar a expressão de Simone de Beauvoir diante<br />
das gravuras fúnebres dos livros de história. Ao contrário, no campo da vida exposta no<br />
momento de viver o que conta para o olhar é o movimento. Movimento de corpos que<br />
se deslocam com sensualidade e imaginação, inventando ações silenciosas dentro do<br />
precário. Inventando o agora.<br />
(...)<br />
O olhar humano pós-moderno é desejo e palavra que caminham pela imobilidade,<br />
vontade que admira e se retrai inútil, atração por um corpo que, no entanto, se sente alheio<br />
51
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
à atração, energia própria que se alimenta vicariamente de fonte alheia.<br />
Ele é o resultado crítico da maioria das nossas horas de vida cotidiana.<br />
Os tempos pós-modernos são duros e exigentes. Querem<br />
a ação enquanto energia (daí o privilégio do jovem enquanto<br />
personagem, e do esporte enquanto tema). Esgotada esta, passa<br />
o atuante a ser espectador do outro que, semelhante a ele, ocupa<br />
o lugar que foi o seu. “Azeitona e vinho”. É essa última condição de prazer vicário, ao<br />
mesmo tempo pessoal e passível de generalização, que alimenta a vida cotidiana atual<br />
e que EC dramatiza através do narrador que olha. Ao dramatizá-lo na forma em que<br />
o faz, revela o que nele pode ser experiência autêntica: a passividade prazerosa e o<br />
imobilismo crítico. São essas as posturas fundamentais do homem contemporâneo,<br />
ainda e sempre mero espectador ou de ações vividas ou de ações ensaiadas e<br />
representadas. Pelo olhar, homem atual e narrador oscilam entre o prazer e a crítica,<br />
guardando sempre a postura de quem, mesmo tendo se subtraído à ação, pensa e<br />
sente, emociona-se com o que nele resta de corpo e/ou cabeça.<br />
O espetáculo torna a ação representação. Dessa forma, ele retira do campo<br />
semântico de “ação” o que existe de experiência, de vivência, para emprestar-lhe<br />
o signifi cado exclusivo de imagem, concedendo a essa ação liberta da experiência<br />
condição exemplar de um agora tonifi cante, embora desprovido de palavra. Luz, calor,<br />
movimento – transmissão em massa. A experiência do ver. Do observar. Se falta à ação<br />
representada o respaldo da experiência, esta, por sua vez, passa a ser vinculada ao<br />
olhar. A experiência do olhar. O narrador que olha é a contradição e a redenção da<br />
palavra na época da imagem. Ele olha para que o seu olhar se recubra de palavra,<br />
constituindo uma narrativa.<br />
O espetáculo torna a ação representação. Representação nas suas variantes<br />
lúdicas, como futebol, teatro, dança, música popular, etc.; e também nas suas variantes<br />
técnicas, como cinema, televisão, palavra impressa etc. os personagens observados, até<br />
então chamados de atuantes, passam a ser atores do grande drama da representação<br />
humana, exprimindo-se através de ações ensaiadas, produto de uma arte, a arte de<br />
representar. Para falar das várias facetas dessa arte é que o narrador pós-moderno ele<br />
mesmo detendo a arte da palavra escrita – existe. Ele narra ações ensaiadas que existem<br />
no lugar (o palco) e no tempo (o da juventude) em que lhes é permitido existir.<br />
O narrador típico de EC, pelas razões que vimos expondo, vai encontrar na<br />
“sociedade do espetáculo” (para usar o conceito de Guy Debord) campo fértil para as suas<br />
investidas críticas. Por ela é investido e contra ela se investe. No conto “A lugar algum”,<br />
transcrição ipsis litteris do script de um programa de televisão, em que é entrevistado um<br />
jovem marginal, a realidade concreta do narrador é grau zero. Subtraiu-se totalmente.<br />
O narrador é todos e qualquer um diante de um aparelho de televisão. Essa também –<br />
repitamos – é a condição do leitor, pois qualquer texto é para todos e qualquer um.<br />
Em “A lugar algum”, o narrador é apenas aquele que reproduz. As coisas se<br />
passam como se o narrador estivesse apertando o botão do canal de televisão para<br />
o leitor. Eu estou olhando, olhe você também para este programa, e não outro. Vale a<br />
pena. Vale a pena porque assistimos aos últimos resquícios de uma imagem que ainda<br />
não é ensaiada, onde a ação (o crime) é respaldada pela experiência. A experiência<br />
de um jovem marginal na sociedade do espetáculo.<br />
52
Para testemunhar do olhar e da sua experiência é que ain¬da sobrevive a palavra<br />
escrita na sociedade pós-industrial.<br />
[1986]<br />
SANTIAGO, Silviano. Nas Malhas da Letra.<br />
O texto de Silviano Santiago nos apresenta, com certa clareza, o narrador pós-moderno,<br />
pensando-o a partir de um diálogo estabelecido com o texto de Benjamin, O narrador, que<br />
apresentamos à você no Conteúdo 1 do Tema 3. Os dois tipos de narrador enfocados são<br />
interessantes e não nos cabe julgar ou escolher quais seriam as virtudes de um em detrimento<br />
do outro. O que Silviano faz em seu trabalho de crítico literário é tentar ler o seu tempo, sua<br />
forma de narrar e habitar a contemporaneidade, as formas de narrar que se transmutam por<br />
meio desse sujeito que muda sua experiência e seu contato com o mundo. O pós-moderno<br />
refere-se não ao fi m do moderno, mas a uma perlaboração de tudo aquilo que se confi gurou<br />
como modernidade e que, passado um tempo, viria a se confi gurar com outros propósitos<br />
que nem rompem com as tendências anteriores, nem fi cam restritos ao modelo precursor.<br />
Em termos de narrativa, o pós-moderno ou exagera ou faz uma literatura ainda não feita.<br />
Por isso, encontramos na literatura contemporânea um exagero ainda maior do pastiche, da<br />
paródia, da mistura entre documento e fi cção. A mudança se dá no nível do espaço. Por isso<br />
dizemos que os centros são móveis, que a fi xidez de uma identidade só pode se pensada<br />
enquanto uma referência em trânsito.<br />
O tempo, grande tema da modernidade, cede lugar ao espaço na pós-modernidade.<br />
Quem é o autor?<br />
Falamos de textos, de obras literárias, de gêneros que caracterizam determinadas<br />
escritas, mas uma pergunta pode ecoar em meio a essas teorias todas: quem é o autor?<br />
Quem escreve o texto que leio? Essa discussão é feita há tempos e certamente não tem data<br />
para ser fi nalizada. Diante do emblema da autoria, vários foram os estudos que se fi zeram<br />
sobre ela, questionando o local de fala do autor, se seus dados biográfi cos contariam para a<br />
análise do texto literário, a intenção daquele que escreve, o status que esse local de ‘autor’<br />
gera, enfi m, várias questões a se ramifi carem cada vez mais em busca da ‘identidade’ desse<br />
sujeito que cria, fi cciona e é, ao mesmo tempo, real e fi cção.<br />
53
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Um texto marcante e extremamente citado no universo letrado seria “A<br />
morte do autor”, de Roland Barthes e que foi escrito em 1968. Nele, Barthes traça<br />
um possível caminho de escrita, lugar no qual o corpo que escreve se perde,<br />
perde sua identidade, pois a escrita é esse oblíquo para onde foge esse sujeito,<br />
no sentido da dissimulação e fi ngimento de que falou Fernando Pessoa.<br />
À medida que os fatos são contados, a voz perde sua essa origem de<br />
corpo, e “o autor entra na sua própria morte, a escrita começa”. Dessa forma,<br />
Barthes vai delineando um mapa de como se observar o ‘autor’ no passar dos anos. Em<br />
algumas sociedades, tínhamos a fi gura de um mediador que contava as histórias, que fazia<br />
a vez do contador, mas nunca a idéia do gênio. Para Barthes, o autor é uma personagem<br />
moderna, descoberta com o fi m da Idade Média, que trouxe à tona o ‘prestígio pessoal<br />
do indivíduo’ ou da ‘pessoa humana’. Assim, é, pois, no positivismo (resumo e desfecho<br />
da ideologia capitalista) que ocorre de se conceder maior importância à pessoa do autor.<br />
Este começa a reinar nos manuais de história literária, nas biografi as de escritores, nas<br />
entrevistas. Barthes coloca ainda que a imagem que podemos encontrar na cultura corrente<br />
é tiranicamente centrada na fi gura do autor, da sua pessoa, dos seus gostos, paixões.<br />
Todavia, ele contrapõe as afi rmações acima dizendo que quem performa é a linguagem<br />
e não o autor. ‘É a linguagem quem fala e não o autor, e escrever é, através de uma<br />
impessoalidade prévia, atingir aquele ponto e que só a linguagem atua, performa’. O que ele<br />
pretende refl etir é a morte de um tipo de Autor-Deus, que contém toda a verdade e explicação<br />
do texto. Roland Barthes não compactua com esse Autor-Deus, pois acredita que o escritor<br />
moderno nasce ao mesmo tempo em que seu texto. Ele acredita que o verdadeiro lugar da<br />
escrita é a leitura e que para o leitor nascer, morre o Autor.<br />
Outras visões irão se seguir ao texto de Barthes, concordando com a morte do Autor, mas<br />
nunca com a do autor. O autor sobrevive às tempestades teóricas enquanto mais um sujeito<br />
que é prenhe de subjetividade e são as lacunas de sua vida que transbordam em seu texto.<br />
Não se pretende com isso, dizer que toda leitura de um texto deve levar em consideração os<br />
fatores biográfi cos do autor para ser compreendido em sua completude. Esses fatores - sobre a<br />
vida de quem escreve - servem enquanto um suplemento para uma determinada interpretação<br />
de texto que por acaso vá em busca desses acontecimentos que, mesmo quando não forem<br />
‘aproveitados‘ no momento da leitura, não podem, contudo, ser ignorados.<br />
Para conhecermos um pouco mais o assunto e como ele tem repercutido, vamos ver<br />
o texto que se segue com alguns apontamentos sobre as principais teorias desenvolvidas<br />
sobre a questão do autor:<br />
Foucault (1992), em seu texto “O que é um autor?”, comenta que, historicamente,<br />
os textos passaram a ter autores na medida em que os discursos se tornaram<br />
transgressores com origens passíveis de punições, pois, na Antiguidade, as narrativas,<br />
contos, tragédias, comédias e epopéias - textos que hoje chamaríamos literatura - eram<br />
colocados em circulação e valorizados sem que se pusesse em questão a autoria - o<br />
anonimato não constituía nenhum problema, a sua própria antigüidade era uma garantia<br />
sufi ciente de autenticidade. Os textos científi cos, ao contrário, deveriam ser avalizados<br />
pelo nome de um autor, como os tratados de medicina, por exemplo.<br />
Nos séculos XVII e XVIII, os mesmos textos científi cos passaram a ter validade<br />
em função de sua ligação a um conjunto sistemático de “verdades” demonstráveis.<br />
No fi nal do século XVIII e no correr do século XIX, com a instituição do sistema de<br />
propriedade, possuidor de regras estritas sobre direitos do autor e relações autor/<br />
editor, é que o gesto carregado de riscos da autoria, enquanto transgressão, segundo<br />
Foucault, passou a se constituir um bem, preso àquele sistema.<br />
54
Para Foucault, o que denomina como “função-autor”, dispensada nos discursos<br />
científi cos pela sua participação em um sistema que lhe confere garantia, permanece<br />
nos discursos literários. A “função-autor” não se constrói simplesmente atribuindo um<br />
texto a um indivíduo com poder criador, mas se constitui como uma “característica do<br />
modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior<br />
de uma sociedade” (Foucault, 1992, pág. 46), ou seja, indica que tal ou qual discurso<br />
deve ser recebido de certa maneira e que deve, numa determinada cultura, receber um<br />
certo estatuto. O que faz de um indivíduo um autor é o fato de, através de seu nome,<br />
delimitarmos, recortarmos e caracterizarmos os textos que lhes são atribuídos.<br />
Em seu polêmico estudo “A Morte do Autor”, Barthes enfatiza a questão da não<br />
existência do autor fora ou anterior à linguagem. Procurando apresentar a idéia do<br />
autor como sujeito social e historicamente constituído, Barthes o vê como um produto<br />
do ato de escrever - é o ato de escrever que faz o autor e não o contrário. Para ele<br />
um escritor será sempre o imitador de um gesto ou de uma palavra anteriores a ele,<br />
mas nunca originais, sendo seu único poder mesclar escritas. Barthes retira a ênfase<br />
de um sujeito que tudo sabe, unifi cado, intencionado como o “lugar” de produção da<br />
linguagem, esperando assim libertar a escrita do despotismo da obra - o livro.<br />
O hipertexto, de certa forma, vai ao encontro das postulações de Barthes:<br />
libertando a escrita da “tirania do autor” pela facilidade que dá a cada leitor de adicionar,<br />
alterar ou simplesmente editar um outro texto, abrindo possibilidades de uma autoria<br />
coletiva e quebrando a idéia da “ecriture” como originária de uma só fonte. Nesse<br />
sentido hipertexto e teoria contemporânea, reconfi guram o autor sob diversos aspectostanto<br />
na teoria do hipertexto como na teoria literária as funções do escritor e do leitor<br />
tornam-se profundamente entrelaçadas. Por um lado, hipertextos transferem parte do<br />
poder do escritor para o leitor pela possibilidade e habilidade que este último passa<br />
a ter de escolher livremente seus trajetos de leitura elaborando o que poderíamos<br />
denominar “meta-texto”, anotando seus escritos junto aos escritos de outros autores e<br />
estabelecendo links (nexos ou interconexões) entre documentos de diferentes autores<br />
de forma a relacioná-los e acessá-los rapidamente. (...)<br />
Por outro lado, as experiências com hipertexto estreitam a distância que separa<br />
documentos individuais - uns dos outros - no mundo da impressão e pelo fato de reduzirem<br />
a autonomia do texto, reduzem também a autonomia do autor. O leitor pode, por sua vez,<br />
tornar-se um construtor de signifi cados ativo, independente e autônomo (Snyder, 1996). As<br />
chances de traçar padrões pessoais de leitura, de mover-se de forma aleatória de maneira<br />
não linear servem para destacar a importância do leitor na “escrita” de um texto.<br />
Cada leitura não muda fisicamente as palavras, mas reescreve o texto,<br />
simplesmente através de sua reorganização enfatizando diferentes pontos que podem,<br />
de forma sutil, alterar seu signifi cado. Barthes sugere que os leitores criam suas próprias<br />
interpretações independentemente das intenções do autor.<br />
Um outro aspecto a se observar é que na tradição da história social da impressão<br />
os livros sempre possuíram autores, os leitores fi cavam restritos aos estudos de teoria<br />
literária. Mais recentemente, com a estética da recepção a signifi cação do texto como<br />
historicamente construída, e produzida no interstício existente entre a proposição da<br />
obra - leia-se a vontade do autor - e as respostas dos leitores, estes últimos passaram<br />
a ser levados em conta em função das atenções se voltarem para a maneira como as<br />
formas físicas, com que o texto é apresentado, afetam a construção do sentido.<br />
Benjamin, referindo-se à imprensa russa, fez alusão ao desaparecimento da<br />
distinção convencional entre autor e público. Ao afi rmar que leitores estavam sempre<br />
prontos “a escrever, descrever e prescrever,” nos jornais soviéticos, fazendo com que o<br />
55
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
mundo do trabalho tomasse a palavra e transformasse a literatura em<br />
direito de todos, atribuiu ao jornal, uma outra forma de apresentar o<br />
texto, a função de redenção da palavra (Benjamin, 1994, pág. 125).<br />
Sob esta ótica também se pode entender melhor a atribuição<br />
de uma nova autoria ao leitor do hipertexto. Ao elaborar seu trajeto<br />
de leitura, tal como o meio eletrônico lhe possibilita, o leitor/usuário<br />
constrói um novo sentido ao texto proposto - um sentido pessoal que poderíamos até<br />
denominar como “leitura-escritura”. A refl exão sobre o hipertexto recoloca, também, em<br />
debate a questão da propriedade intelectual. Aliás, o texto eletrônico e as leis de direitos<br />
autorais estão na rota de colisão em muitos pontos e quer nos parecer que as soluções<br />
para o problema estão longe de ser encontradas. De um lado se situam autores, editores<br />
e distribuidores de livro, bem como desenvolvedores de software zelosos de seus direitos,<br />
preocupados em que se cumpram as leis que punem as cópias não autorizadas. Do outro<br />
todos os leitores usuários reproduzindo “bits” sem citar fontes. (...)<br />
A questão que se coloca é, pois, a seguinte: se o autor e texto se dispersam e se<br />
este último adquire uma multiplicidade de vozes, através dos sistemas de hipertexto,<br />
como preservar de forma eqüitativa os direitos legais dos múltiplos autores? A resposta<br />
à questão é ainda objeto de busca e o debate sobre o tema palpitante, haja visto os<br />
interesses que envolve. O que se pode defi nir é que os sistemas de hipertexto deslocam<br />
o poder de controle do texto do autor para o leitor, o que demanda novas políticas na<br />
orientação da propriedade intelectual.<br />
Texto retirado de:<br />
http://www.unicamp.br/~hans/mh/autor.html<br />
Procure ler o texto de Barthes na íntegra, “A morte do autor”, em:<br />
http://www.facom.ufba.br/sala_de_aula/sala2/barthes1.html<br />
Intertextualidades: o labirinto da citação<br />
De autor em autor, a gente acaba caindo em um texto que fala de outro texto e daí em<br />
diante. Barthes começa o texto que mencionamos no Conteúdo 3 citando uma novela de<br />
Balzac. Assim costuma acontecer com a maioria dos textos que lemos: neles encontramos<br />
referências de tantos outros autores e obras, palavras, citações que formam um labirinto<br />
que acabam por garantir uma espécie de linguagem para cada escritor, um sabor de texto<br />
diferenciado a partir do elenco que cada um delineia para si. A referência a um texto anterior<br />
gera um movimento. A este daremos o nome de intertextualidade, sabendo que dentro desta<br />
cabem outras estruturas, como por exemplo, a citação.<br />
Como se pode notar na constituição da própria palavra, intertextualidade signifi ca<br />
relação entre textos. Considerando-se texto como um recorte signifi cativo feito no processo<br />
ininterrupto de simbiose cultural, isto é, na ampla rede de signifi cações dos bens culturais,<br />
pode-se afi rmar que a intertextualidade é inerente à produção humana. O homem sempre<br />
lança mão do que já foi feito em seu processo de produção simbólica. Um texto é um<br />
“momento” que se privilegia entre um início e um fi nal escolhidos. Assim sendo, o texto,<br />
como objeto cultural, tem uma existência física que pode ser apontada e delimitada: um<br />
fi lme, um romance, um anúncio, uma música. Entretanto, esses objetos não estão ainda<br />
56
prontos, pois destinam-se ao olhar, à consciência e à recriação dos leitores. Cada texto<br />
constitui uma proposta de signifi cação que não está inteiramente construída. A signifi cação<br />
se dá no jogo de olhares entre o texto e seu destinatário. Este último é um interlocutor<br />
ativo no processo de signifi cação, na medida em que participa do jogo intertextual tanto<br />
quanto o autor. A intertextualidade se dá tanto na produção como na recepção da grande<br />
rede cultural de que todos participam. Filmes que retomam fi lmes, quadros que dialogam<br />
com outros, propagandas que se utilizam do discurso artístico, poemas escritos com versos<br />
alheios, romances que se apropriam de formas musicais, tudo isso são textos em diálogo<br />
com outros textos: intertextualidade.<br />
É importante marcar a primazia de Bakhtin em relação a esses estudos, divulgados por Julia<br />
Kristeva. É dela o clássico conceito de intertextualidade: “(...) todo texto se constrói como mosaico de<br />
citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto.” (KRISTEVA, 1974, p. 64).<br />
Por isso mesmo, Antoine Compagnon chama a atenção para o fato de que “escrever,<br />
pois, é sempre reescrever, não difere de citar. A citação, graças à confusão metonímica a<br />
que preside, é leitura e escrita, une o ato de leitura ao de escrita. Ler ou escrever é realizar<br />
um ato de citação”. (COMPAGNON, 1996, p.31)<br />
A intertextualidade, inerente à linguagem, torna-se explícita em todas as produções<br />
literárias que se valem do recurso da apropriação, colocando em xeque a própria noção de<br />
autoria. Referências, alusões, epígrafes, paráfrases, paródias ou pastiches são algumas<br />
das formas de intertextualidade, de que lançam mão os escritores em seu diálogo com a<br />
tradição. Drummond retoma Gonçalves Dias. Adélia Prado retoma Drummond. Bandeira<br />
retoma outros poemas de sua própria autoria, Clarice idem. Um mesmo escritor pode<br />
reler-se, utilizando-se de textos que ele mesmo escreveu, o que resulta numa espécie de<br />
intratextualidade. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, retoma seu conhecido texto<br />
‘No meio do caminho’, para escrever ‘Consideração do poema’:<br />
Uma pedra no meio do caminho<br />
ou apenas um rastro, não importa.<br />
Estes poetas são meus. De todo o orgulho,<br />
de toda a precisão se incorporaram<br />
Ao fatal meu lado esquerdo. Furto a Vinicius<br />
sua mais límpida elegia. Bebo em Murilo.<br />
Que Neruda me dê sua gravata<br />
chamejante. Me perco em Apollinaire. Adeus Maiakóvski.<br />
(ANDRADE, 1978, p. 75)<br />
Embaralhando mais as fronteiras discursivas, a obra de Jorge Luiz Borges é exemplo<br />
de um discurso híbrido que associa o fi ccional e o teórico, evidenciando o papel da leitura na<br />
composição dos textos. Tomemos como exemplo o conto ‘Pierre Menard, autor do Quixote’,<br />
em que se propõe o nível máximo da apropriação: escrever, linha por linha, a obra alheia e,<br />
mesmo assim, criar uma obra nova:<br />
“Não queria compor outro Quixote – o que é fácil – mas o Quixote. Inútil<br />
acrescer que nunca visionou qualquer transcrição mecânica do original; não se<br />
propunha copiá-lo. Sua admirável ambição era produzir páginas que coincidissem<br />
– palavra por palavra e linha por linha – com as de Miguel de Cervantes.”<br />
(BORGES, 1995, p. 57)<br />
57
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Borges, em outro texto, Kafka e seus precursores, inverte o<br />
processo de produção textual quando transforma Kafka em modelo<br />
para aqueles que escreveram antes dele, criando, regressivamente,<br />
uma tradição. Tudo isso porque o leitor ativa sua biblioteca interna<br />
a cada texto lido, estabelecendo nexos relacionais entre o que lê e o<br />
que já foi lido. Então, a intertextualidade, centrada também na figura<br />
do leitor, perturba qualquer possibilidade de cronologia rígida para a<br />
historiografia literária, na medida em que as associações feitas são livres.<br />
Até mesmo o conceito de tradução é revisto, numa perspectiva intertextual, como uma<br />
leitura da obra, uma recriação. Relativizam-se também as noções de cópia e modelo, fonte<br />
e infl uência. Isso porque a cópia pode levar a uma releitura desconstrutora do modelo. A<br />
crítica literária brasileira contemporânea, valendo-se de tais relativizações, produziu textos<br />
que nos permitem reler a própria história da colonização com novos olhos. Ensaios como<br />
“Nacional por subtração”, de Roberto Schwarz (1989); “O entre-lugar do discurso latinoamericano”,<br />
“Eça, autor de Madame Bovary” (1978) e “Apesar de dependente, universal”<br />
(1982), de Silviano Santiago integram esse debate.<br />
Em qualquer nível, a produção simbólica é sempre uma retomada de outras<br />
produções, perfazendo um jogo infi nito que enreda autores e leitores. Apropriando-nos<br />
de Schneider, podemos afi rmar:<br />
“O texto literário é um palimpsesto. O autor antigo escreveu uma ‘primeira’<br />
vez, depois sua escritura foi apagada por algum copista que recobriu a página<br />
com um novo texto, e assim por diante. Textos primeiros inexistem tanto quanto<br />
as puras cópias; o apagar não é nunca tão acabado que não deixe vestígios, a<br />
invenção, nunca tão nova que não se apóie sobre o já-escrito.<br />
(SCHNEIDER, 1990, p.71)<br />
Atividades<br />
Complementares<br />
• Feita a leitura dos dois textos, o de Benjamin e o de Silviano, procure tecer refl exões<br />
sobre o narrador benjaminiano e o narrador pós-moderno. Em que ponto eles se encontram<br />
e em que se diferem?<br />
• Faça uma busca sobre o tema da intertextualidade na internet sobre o poema de<br />
Gonçalves Dias, “Canção do Exílio”. Você irá descobrir intertextualidades inspiradoras.<br />
Aproveite para também dar continuidade ao diálogo iniciado por tantos escritores...<br />
58
OS <strong>ESTUDOS</strong> CULTURAIS<br />
Introdução aos Estudos Culturais<br />
Repare como a coisa vem caminhando: nós vimos primeiro as noções que se pode ter<br />
sobre a literatura, os primeiros pensadores a se jogarem na tarefa de estudo e refl exão do<br />
literário, os efeitos literários, a questão dos gêneros, algo sobre o narrador moderno, pósmoderno,<br />
o autor, a intertextualidade que envolve qualquer obra e em cada movimento de<br />
estudo e de diálogo fomos apontando teorias e formas de encarar a Teoria Literária.<br />
Agora, te lançamos na arena dos Estudos Culturais, apenas mais uma vertente teórica,<br />
mas com o propósito de agregar antes de excluir qualquer experiência cultural. Isso não<br />
signifi ca dizer que o que se tem aqui seja um vale-tudo, mas uma proposta para se pensar a<br />
literatura fora do espaço reservado da própria literatura. O lugar sacralizado e canônico cede<br />
espaço para outras possibilidades culturais que renovam o olhar e o passeio do literário. A<br />
seguir, trechos de um texto para nos apresentar melhor esse tal “Estudos Culturais”.<br />
Crítica cultural, crítica literária: desafios do fim de século<br />
(Silviano Santiago)<br />
Prepared for delivery at the 1997 meeting of the Latin American Studies Association,<br />
Continental Plaza Hotel, Guadalajara, Mexico, April 17-19, 1997.<br />
Existe maior difi culdade em<br />
interpretar as interpretações do que em interpretar as coisas.<br />
Montaigne<br />
Para abordar com segurança o tema proposto -- “Crítica cultural, crítica literária:<br />
desafíos de fi n de siglo” --, será preciso refl etir antes sobre um problema de periodização.<br />
Em que ano e em que circunstâncias históricas começa o “fi m de século” na América Latina<br />
e, em particular, no Brasil? Se nos entregarmos ao trabalho prévio de articular uma série<br />
de questões derivadas, a pergunta de caráter geral poderá receber resposta que proponha<br />
uma data relativamente precisa. Enunciemos, primeiro, as perguntas derivadas.<br />
Quando é que a cultura brasileira despe as roupas negras e sombrias da resistência<br />
à ditadura militar e se veste com as roupas transparentes e festivas da democratização?<br />
59
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Quando é que a coesão das esquerdas, alcançada na resistência à<br />
repressão e à tortura, cede lugar a diferenças internas signifi cativas?<br />
Quando é que a arte brasileira deixa de ser literária e sociológica<br />
para ter uma dominante cultural e antropológica? Quando é que<br />
se rompem as muralhas da refl exão crítica que separavam, na<br />
modernidade, o erudito do popular e do pop? Quando é que a<br />
linguagem espontânea e precária da entrevista (jornalística, televisiva, etc.) com artistas<br />
e intelectuais substitui as afi rmações coletivas e dogmáticas dos políticos profi ssionais,<br />
para se tornar a forma de comunicação com o novo público?<br />
A resposta às perguntas feitas acima levam a circunscrever o momento histórico<br />
da transição do século XX para o seu “fi m” pelos anos de 1979 a 1981. (...)<br />
Nesses três anos a que estaremos nos referindo, a luta das esquerdas contra a<br />
ditadura militar deixa de ser questão hegemônica no cenário cultural e artístico brasileiro,<br />
abrindo espaço para novos problemas e refl exões inspirados pela democratização no<br />
país (insisto: no país, e não do país). A transição deste século para o seu “fi m” se defi ne<br />
pelo luto dos que saem, apoiados pelos companheiros de luta e pela lembrança dos<br />
fatos políticos recentes, e, ao mesmo tempo, pela audácia da nova geração que entra,<br />
arrombando a porta como impotentes e desmemoriados radicais da atualidade. (...)<br />
Em artigo publicado em 13 de agosto de 1981, Heloisa Buarque de Hollanda<br />
esboçava um primeiro balanço das novas tendências na arte e na cultura brasileiras.<br />
A reviravolta que ambas sofriam se devia à passagem recente do furacão soprado<br />
pelo cineasta Cacá Diegues, denominado com propriedade na época de “patrulhas<br />
ideológicas”. O furacão, porque desorientava a esquerda formada nos anos 50 e<br />
consolidada na resistência à ditadura militar dos anos 60 e 70, era premonitório da<br />
transição. O livro de entrevistas que levou o nome da polêmica -- Patrulhas Ideológicasse<br />
confi gura hoje mais como o balanço da geração que resistiu e sofreu durante o<br />
regime de exceção e menos como a plataforma de uma nova geração que desejava<br />
tomar ao pé da letra a “diástole” (apud General Golbery) da militarização do país.<br />
Como narradores castrados pelos mecanismos da repressão, como pequenos<br />
heróis com os olhos voltados para o passado doloroso, como advogados de acusação<br />
dispostos a colocar no banco dos réus os que de direito ali deveriam fi car para sempre, a<br />
maioria dos personagens públicos entrevistados em 1979/1980 quer contar uma história<br />
de vida. Resume o cineasta Antônio Calmon: “Eu acho melhor contar a história do que<br />
teorizar”. Ainda em 1979, sai publicado o emblemático depoimento do ex-guerrilheiro<br />
Fernando Gabeira, O que é isso, companheiro?, que narra com minúcia de detalhes o<br />
cotidiano redentor e paranóico da guerrilha no Brasil e na América Latina e as sucessivas<br />
fugas dos latino-americanos para os vários exílios. Na numerosa produção de relatos<br />
de vida, há um tom Christopher Lasch que impede que o lugar político-ideológico até<br />
então ocupado pelo regime militar seja esvaziado e reocupado pelos defensores de uma<br />
cultura adversária, ou seja, os esquerdistas renitentes não descobrem que o inimigo<br />
não está mais lá fora, do outro lado da cerca de arame farpado, mas entre nós.<br />
O acontecimento “patrulhas ideológicas” fecha não só o período triste da repressão<br />
como também o período feliz da coesão na esquerda. Por ser o mais polêmico dos<br />
intelectuais brasileiros contemporâneos, Glauber Rocha é o primeiro que põe o dedo<br />
no harmônico e fraterno bloco esquerdista para abrir rachaduras. Em 1977, O Jornal do<br />
Brasil propicia, num apartamento carioca, o diálogo entre os quatro gigantes da esquerda<br />
60
asileira: o antropólogo Darcy Ribeiro, o poeta Ferreira Gullar, o cineasta Glauber Rocha<br />
e o crítico de arte Mário Pedrosa. O longo e doloroso debate termina com intervenções<br />
abruptas de Glauber. Devido às divergências de opinião, conclui que “o debate não pode<br />
ser publicado”. Segundo a transcrição, “todo mundo [na sala do apartamento] protesta,<br />
grita, reclama da posição de Glauber”. Glauber continua a silenciar a fala dos demais.<br />
Acrescenta: “Eu, por exemplo, comecei a discordar do Darcy [Ribeiro] a partir de certo<br />
momento, mas eu não discordarei publicamente [grifo nosso] do Darcy...” A moderadora<br />
do debate não percebe a dimensão da rachadura aberta pela discordância no privado que<br />
não podia se tornar pública e reage com o cola-tudo das boas intenções: “o problema é<br />
que você [Glauber] está querendo impor um pensamento, quer ganhar uma discussão e<br />
não é isso que importa aqui”. Glauber termina a conversa amistosa com duas declarações<br />
contundentes. A primeira é a de que “não há condições no Brasil de se fazer um debate<br />
amplo e aberto” e a segunda, “esse debate já era”.<br />
Nos anos seguintes, o debate amplo e aberto não apareceria nos relatos de vida<br />
dos ex-combatentes, não se daria pela linguagem conceptual da história e da sociologia,<br />
não seria obra de políticos bem ou mal intencionados. Esse debate amplo e aberto se<br />
passaria no campo da arte, considerando-se esta não mais como manifestação exclusiva<br />
das belles lettres, mas como fenômeno multicultural que estava servindo para criar novas<br />
e plurais identidades sociais. Caiam por terra tanto a imagem falsa de um Brasil-nação<br />
integrado, imposta pelos militares através do controle da mídia eletrônica, quanto a<br />
coesão fraterna das esquerdas, conquistada nas trincheiras. A arte abandonava o palco<br />
privilegiado do livro para se dar no cotidiano da Vida. Esse novo espírito estaria embutido<br />
na plataforma política do Partido dos Trabalhadores, PT, idealizado em 1978.<br />
Voltando ao artigo de Heloisa Buarque, percebe-se que ela, ao ler o livro Retrato<br />
de época (um estudo sobre a poesia marginal da década de 70), detecta “um certo<br />
mal-estar dos intelectuais em relação à sua prática acadêmica” cuja saída estava sendo<br />
desenhada pela “proliferação de estudos recentes (reunindo-se aí uma expressiva faixa<br />
da refl exão universitária jovem) no registro da perspectiva antropológica”. Os setores<br />
emergentes da produção intelectual, acrescenta ela, “explicita[va]m certas restrições ao<br />
que chamam os aspectos ortodoxos da sociologia clássica e da sociologia marxista”.<br />
Segundo Heloísa, a chave da operação metodológica apresentada no livro está no<br />
modo como o antropólogo Carlos Alberto dá o mesmo tratamento hermenêutico tanto<br />
ao material oriundo das entrevistas concedidas pelos jovens poetas marginais, quanto<br />
ao poema de um deles. O texto do poema passa a funcionar como um depoimento<br />
informativo e a pesquisa de campo é analisada como texto. O paladar metodológico<br />
dos jovens antropólogos não distingue a plebéia entrevista do príncipe poema.<br />
Essa grosseira inversão no tratamento metodológico de textos tão díspares --<br />
aparentemente inocente porque conseqüência da falta de boas maneiras dum jovem<br />
antropólogo -- desestabilizaria de maneira defi nitiva a concepção de Literatura, tal<br />
como era confi gurada pelos teóricos dominantes no cenário das Faculdades de Letras<br />
nacionais e estrangeiras. Conclui Heloísa: “Carlos Alberto parece colocar em suspenso<br />
a literatura como discurso específi co”.<br />
Esvaziar o discurso poético da sua especifi cidade, liberá-lo do seu componente elevado<br />
e atemporal, desprezando os jogos clássicos da ambigüidade que o diferenciava dos outros<br />
discursos, enfi m, equipará-lo qualitativamente ao diálogo provocativo sobre o cotidiano,<br />
com o fi m duma entrevista passageira, tudo isso corresponde ao gesto metodológico de<br />
apreender o poema no que ele apresenta de mais efêmero. Ou seja, na sua transitividade,<br />
na sua comunicabilidade com o próximo que o deseja para torná-lo seu. (...)<br />
61
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Será que no ano seguinte ao da sua publicação, 1981,<br />
Patrulhas ideológicas já podia ser dado como retrógrado? Há<br />
duas exceções ao tom grandiloqüente, autocomiserativo e trágico<br />
dos depoimentos concedidos pelos entrevistados. As palavras<br />
do compositor e intérprete Caetano Veloso é uma das exceções.<br />
Provocado sobre o retorno na cena artística do discurso tradicional<br />
da esquerda, reage com corpo e sensualismo, retirando o exercício político da classe<br />
política e decretando a combinação extemporânea da prática política aliada à prática<br />
da vida, em distanciamento dos chamados líderes carismáticos da contra-revolução<br />
(General Golbery) e da revolução (Fidel Castro). Diz ele que o cantor e amigo Macalé<br />
“estava entusiasmado porque falou com o Golbery, mas eu não acho graça, nem em<br />
Fidel Castro, nem em ninguém... eu acho tudo isso meio apagado, não sinto muito<br />
tesão”. Suas idéias sobre o papel do artista na sociedade, sobre arte e engajamento,<br />
sobre a função política e erótica da obra de arte, sobre a produção e disseminação do<br />
conhecimento no espaço urbano escapam ao ramerrão do livro. E é por isso que, se<br />
não se sente patrulhado, sente que incomoda um número cada vez maior de pessoas,<br />
como na história do elefante. É o que constata: “o que mais incomoda [as pessoas] é<br />
a minha vontade de cotidianizar a política ou de politizar o cotidiano”. Como elemento<br />
mediador entre o cotidiano e a política, o fazer -- o próprio fazer artístico. Pelo seu<br />
produto é que o artista se exprime politicamente no cotidiano. Acrescenta ele: “me sinto<br />
ligado a tudo que acontece mas através do que eu faço”. Caetano está defi nindo, no<br />
dizer do Raymond Williams de The Long Revolution, “culture as a whole way of life”,<br />
apagando a conjunção E que ligava tradicionalmente cultura e sociedade.<br />
A outra e segunda exceção no livro de 1980 são as palavras da cientista social Lélia<br />
Gonzales, negra e carioca de adoção. De início, denuncia o processo de embranquecimento<br />
por que passa o negro quando submisso ao sistema pedagógico-escolar brasileiro,<br />
anunciando a futura batalha do multiculturalismo contra o cânone ocidental: “e passei<br />
por aquele processo que eu chamo de lavagem cerebral dado pelo discurso pedagógicobrasileiro,<br />
porque, na medida em que eu aprofundava meus conhecimentos, eu rejeitava<br />
cada vez mais a minha condição de negra”. Cutucada com vara curta sobre a liderança<br />
de São Paulo no movimento negro de esquerda, com o fi m de saber se é o intelectual<br />
paulista que irá desempenhar o papel de mediador entre o Rio de Janeiro e a Bahia,<br />
Lélia não titubeia na resposta: “O Rio de Janeiro é que é o mediador entre Bahia e São<br />
Paulo. Porque, por exemplo, o negro paulista tem uma puta consciência política. Ele já<br />
leu Marx, Gramsci, já leu esse pessoal todo. Discutem, fazem, acontecem, etc. e tal. Mas<br />
de repente você pergunta: você sabe o que é iorubá? Você sabe o que é Axé? Eu me<br />
lembro que estava discutindo com os companheiros de São Paulo e perguntei o que era<br />
Ijexá. O que é uma categoria importante para a gente saber mil coisas, não só no Brasil<br />
como na América inteira. Os companheiros não sabiam o que era Ijexá. Ah! não sabem?<br />
Então, vai aprender que não sou eu que vou ensinar não, cara!” (...)<br />
Desrecalcar a base cultural negra no Brasil não signifi ca voltar ao continente<br />
africano. Para Lélia, isso é sonho, sonho de gringo. Signifi ca, antes, detectar na formação<br />
dita científi ca e disciplinar dos intelectuais negros paulistas certa neutralidade étnica<br />
que abole a diferença e que, por isso mesmo, permite -- apenas no privado, lembremonos<br />
das palavras de Glauber Rocha -- a expressão de crenças religiosas subalternas.<br />
Lélia afi rma: “Nós aqui, no Brasil, temos uma África conosco, no nosso cotidiano. Nos<br />
nossos sambas, na estrutura de um Candomblé, da macumba...” Sua fala política se<br />
62
encaminha para a negociação pelas trocas culturais entre negros, brancos e índios, com<br />
vistas a um Brasil que seria representado não mais como unidade, mas miscigenado,<br />
multicultural, porque não há como negar “a dinâmica dos contatos culturais, das trocas,<br />
etc.” Nesse sentido, uma das grandes questões colocadas por Patrulhas Ideológicas a<br />
da democratização do Brasil após um longo período de autoritarismo militar --acaba por<br />
ter uma resposta desconcertante para a esquerda, também autoritária, mas naquele<br />
momento em plena crise de autocrítica: “Veja, por exemplo, a noção de Democracia. Se<br />
você chegar num Candomblé, onde você, pra falar com a Mãe de Santo, tem de botar<br />
o joelho no chão e beijar a mão dela e pedir licença, você vai falar em Democracia!?<br />
Dança tudo.” Os grupos étnicos excluídos do processo civilizatório ocidental passam a<br />
exigir alterações signifi cativas no que é dado como representativo da tradição erudita<br />
brasileira ou no que é dado como a mais alta conquista da humanidade, a democracia<br />
representativa. Exigem autonomia cultural. (...)<br />
As atitudes extemporâneas expressas no citado depoimento de Lélia Gonzales<br />
abrem o leque das expectativas universitárias para outros campos e objetos de estudo<br />
durante os três anos (1979 a 1981) a que estamos nos referindo. As Faculdades de<br />
Letras -- formadoras de “literatos natos”, segundo a expressão brejeira de Heloisa, e<br />
dedicadas tradicionalmente ao estudo da cultura duma minoria, no caso a letrada, que<br />
se manifesta e dialoga pelo livro, -- são despertadas para a cultura da maioria.<br />
São despertadas pela avassaladora presença da música comercial-popular no<br />
cotidiano brasileiro. Por estar informada e formada pelo Estruturalismo francês e pelos<br />
teóricos da Escola de Frankfurt, o despertar da minoria letrada não foi pacífi co. É<br />
surpreendente, por exemplo, que a primeira crítica severa à grande divisão (“the Great<br />
Divide”, segundo a expressão já clássica de Andreas Huyssen) entre o erudito e o<br />
popular com o conseqüente rebaixamento deste, tenha partido de um jovem intelectual<br />
com formação na Universidade de São Paulo, o professor de Letras e músico José<br />
Miguel Wisnik. Mais surpreendente, ainda, é que dele tenha partido a primeira leitura<br />
simpática e favorável do cantor Roberto Carlos, ainda que, para tal tarefa, o crítico tenha<br />
de se travestir pela fala da sua mulher, caindo literalmente numa “gender trap”.<br />
Estamos nos referindo ao artigo “O minuto e o milênio ou Por favor, professor,<br />
uma década de cada vez”, capítulo do livro Anos 70 - 1. Música popular . “A má vontade<br />
para com a música popular em Adorno é grande”, começa por afi rmar José Miguel.<br />
Em seguida, constata que ela é conseqüência de dois fatores que acabam por nos<br />
diferenciar dos europeus, optando o crítico brasileiro pela desconstrução do pensamento<br />
adorniano. Em primeiro lugar, diz José Miguel, para Adorno, “o uso musical é a escuta<br />
estrutural estrita e consciente de uma peça, a percepção da progressão das formas<br />
através da história da arte e através da construção duma determinada obra”. Em<br />
segundo lugar, observa, ainda, “o equilíbrio entre a música erudita e a popular, num<br />
país como a Alemanha, faz a balança cair espetacularmente para o lado da tradição<br />
erudita, porque a música popular raramente é penetrada pelos setores mais criadores<br />
da cultura, vivendo numa espécie de marasmo kitsch e digestivo [...]”.<br />
José Miguel contrapõe ao soturno quadro erudito europeu um cintilante cenário<br />
brasileiro, marcado por “uma poética carnavalizante, onde entram [...] elementos de<br />
lirismo, de crítica e de humor: a tradição do carnaval, a festa, o non-sense, a malandragem,<br />
a embriaguez da dança, e a súbita consagração do momento fugidio que brota das<br />
histórias do desejo que todas as canções não chegam pra contar”. Nesse sentido e entre<br />
nós, há que primeiro constatar -- levando-se em consideração o pressuposto básico<br />
levantado por Antonio Candido para confi gurar a “formação” da literatura brasileira --<br />
que “a música erudita nunca chegou a formar um sistema onde autores, obras e público<br />
63
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
[grifo nosso] entrassem numa relação de certa correspondência e<br />
reciprocidade”. Apontando na balança dos trópicos desequilíbrio<br />
inverso ao apresentado na balança européia, José Miguel retoma uma<br />
descoberta clássica de Mário de Andrade, a que diz que no Brasil o<br />
uso da música raramente foi o estético-contemplativo (ou o da música<br />
desinteressada). Em seguida, afi rma que, entre nós, a tradição musical<br />
é popular e adveio do “uso ritual, mágico, o uso interessado da festa popular, o cantode-trabalho,<br />
em suma, a música como um instrumento ambiental articulado com outras<br />
práticas sociais, a religião, o trabalho e a festa”. (...)<br />
Através da intervenção dum professor de Letras é que a crítica cultural brasileira<br />
começa a ser despertada para a complexidade espantosa do fenômeno da música<br />
popular. O seu modo de produção se dá num meio em que as forças mais contraditórias<br />
e chocantes da nossa realidade social se encontram sem se repudiarem mutuamente. Em<br />
lugar de separar e isolar vivências e experiências, em lugar de introjetar o rebaixamento<br />
cultural que lhe é imposto para se afi rmar pelo ressentimento dos excluídos, a música<br />
popular passa a ser o espaço “nobre”, onde se articulam, são avaliadas e interpretadas<br />
as contradições sócio-econômicas e culturais do país, dando-nos, portanto o seu mais fi el<br />
retrato. No trânsito entre as forças opostas e contraditórias, José Miguel aposta em três<br />
oposições que, por não o serem, acabam por integrar os elementos díspares da realidade<br />
brasileira no caldeirão social em que se cozinha a música popular-comercial: “embora<br />
mantenha um cordão de ligação com a cultura popular não-letrada, desprende-se dela<br />
para entrar no mercado e na cidade; b) embora deixe-se penetrar pela poesia culta, não<br />
segue a lógica evolutiva da cultura literária, nem fi lia-se a seus padrões de fi ltragem; c)<br />
embora se reproduza dentro do contexto da indústria cultural, não se reduz às regras<br />
da estandardização. Em suma, não funciona dentro dos limites estritos de nenhum dos<br />
sistemas culturais existentes no Brasil, embora deixe-se permear por eles”.<br />
A música popular no Brasil é “uma espécie de hábito, uma espécie de habitat, algo<br />
que completa o lugar de morar, o lugar de trabalhar”, e é por isso que, no tocante às<br />
década de 60 e 70, há que “pensar o oculto mais óbvio”: tanto o estrondoso sucesso<br />
comercial de Roberto Carlos, quanto a simpatia despertada pela sua “força estranha”<br />
em fi guras do porte de Caetano Veloso. O crítico pergunta: “que tipo de força o sustém<br />
no ar por tanto tempo? Por que ele?” O crítico se sente incapaz de pensar o paradoxo<br />
do oculto mais óbvio. Será que isso é tarefa para mim?, deve ter perguntado a si antes<br />
de dar continuidade ao artigo. José Miguel cai na armadilha do gênero (gender trap),<br />
incapaz de responder à questão que é formulada pelo encadeamento orgânico do<br />
seu raciocínio analítico. Eis que pede ajuda à sua mulher [sic] para que responda e<br />
escreva sobre Roberto Carlos. A profundidade da escuta de Roberto Carlos só pode<br />
ser captada por ouvidos femininos. Vale a pena transcrever o transcrito, deixando o<br />
leitor jogar algum alpiste interpretativo no interior da armadilha para que se evidenciem<br />
ainda mais as trapaças que o falocentrismo pode pregar:<br />
“Ela disse: voz poderosa, suave, louca, ele [Roberto Carlos] realiza melhor do<br />
que ninguém o desejo de um canto espontâneo, arranca matéria viva de si e entra<br />
em detalhes, coisas mal acabadas, células emocionais primitivas, momentos quase<br />
secretos de todo mundo (como as frases decoradas que a gente prepara para lançar<br />
ao outro na hora de partir e que não chega a dizer nem a confessar), uma qualidade<br />
romântica, ingênua e vigorosa, que unifi ca a sem-gracice, o patético, a doçura, o lirismo<br />
64
que há em todos, e fi ca forte, quase indestrutível, pois soma anseios, ilusões, ideais<br />
que também pairam por aí, mais além, estranho à realidade cotidiana de muitos.”<br />
Dando continuidade à leitura reabilitada do melhor da música popular-comercial<br />
brasileira, o crítico diz que poderia complementar o seu trabalho, ratifi cando a liderança<br />
que veio sendo concedida por justo mérito a Caetano Veloso. O intérprete torna-se, ao<br />
mesmo tempo, lugar de ver a produção dos contemporâneos e lugar onde ela pode ser<br />
vista e analisada. Caetano é irônico por cair na armadilha de gênero que ele próprio<br />
estabelece no processo de produção das suas canções; Caetano é romântico pela<br />
recusa em cair na armadilha de gênero, já que se transforma em ouvinte e intérprete<br />
de Roberto Carlos. Para “falar um pouco mais de Caetano a partir de Roberto Carlos”<br />
é preciso assumir a fala rebaixada da mulher.<br />
Três canções escreveu Caetano para Roberto Carlos: “Como 2 e 2”, “Muito romântico”<br />
e “Força estranha”. Canções, segundo José Miguel, que refl etem sobre o ato de cantar e<br />
em que, como no caso de Flaubert e Madame Bovary mencionados por Huyssen, todos<br />
os recursos de despersonalização e de identifi cação, de alteridade, são utilizados pelo<br />
compositor/intérprete: “minha voz me difere e me identifi ca; noutras palavras, sou ninguém<br />
que sou eu que é um outro”. Caetano injetou “refl exão critica” ao romantismo rebaixado/<br />
enaltecido de Roberto Carlos. Pela ironia (como escapar dela nesse jogo de espelhos?),<br />
ele acentuou “a tensão entre o sentimento romântico e a mediação da mercadoria”. (...)<br />
Talvez seja correto afi rmar que a memória histórica no Brasil é uma planta tropical,<br />
pouco resistente e muito sensível às mudanças no panorama sócio-econômico e político<br />
internacional. Uma planta menos resistente e mais sensível do que, por exemplo, as<br />
nascidas na Argentina, terra natal de Funes, o memorioso. A passagem do luto para a<br />
democratização, alicerçada pela desmemória dos radicais da atualidade, foi dada por<br />
passadas largas que uns, e muitos julgam até hoje, precipitadas e prematuras. Para eles,<br />
a anistia no Brasil, concedida a todos e qualquer um por decreto-lei, não deixou que o país<br />
acertasse contas com o seu passado recente e negro. Desde então, sem planos para o<br />
futuro, estamos mancando da perna esquerda, porque o passado ainda não foi devidamente<br />
exorcizado. Nesse sentido, e dentro do pessimismo inerente à velha geração marxista, a<br />
aposta na democratização, feita pelos artistas e universitários entre os anos de 1979 e 1981,<br />
abriu o sinal verde para o surgimento nas esquerdas de uma “cultura adversária”. (...)<br />
É inegável que os resultados obtidos pelas passadas largas, precipitadas e<br />
prematuras, dadas principalmente pelos jovens artistas e universitários, redundaram<br />
em questionamentos fundamentais da estrutura social, política e econômica brasileira.<br />
Ao encorajar o ex-guerrilheiro a se transformar de um dia para o outro num cidadão,<br />
os desmemoriados ajudavam a desmontar no cotidiano das ruas o regime de exceção,<br />
chegando a ser indispensáveis na articulação das pressões populares pelas “diretas<br />
já”. Ao redimensionarem o passado recente, também redirecionaram o gesto punitivo<br />
para a formação cultural do Brasil, estabelecendo estratégias de busca e afi rmação<br />
de identidade para a maioria da população, que vinha sendo marginalizada desde a<br />
Colônia. Ao questionarem o intelectual pelo viés da sua formação pelas esquerdas<br />
dos anos 50, induziram-no à autocrítica e tornaram possível a transição da postura<br />
carismática e heróica dos salvadores da pátria para o trabalho silencioso e dedicado<br />
de mediador junto às classes populares. Ao acatarem a televisão e a música popular,<br />
com suas regras discutíveis e efi cientes de popularização dos ideais democráticos,<br />
conseguiram motivar os desmotivados estudantes, também desmemoriados, a irem<br />
para as ruas e lutar a favor do impeachment do presidente Collor.<br />
65
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
O texto de Silviano Santiago elucida muitas questões e faz o árduo caminho<br />
de se tentar traçar uma espécie de genealogia para uma nova forma de crítica<br />
cultural a ser feita no Brasil. Ele cita exemplos tomando como ponto de partida o<br />
fi m do golpe militar e algumas de suas conseqüências que se tornariam mais tarde<br />
temas de debates e de outras discussões. O mosaico de citações feito por Silviano<br />
apresenta ao leitor uma tentativa de se passar a ler o país e suas produções<br />
ampliando o leque de visão no momento em que se começa a colocar em cena<br />
uma cultura que até então vinha sendo sonegada pela historiografi a e pela crítica cultural.<br />
O desafi o que dá título ao texto ainda nos é lançado mesmo após a tal virada do<br />
século. Ao leitor, professor, possível formador de opinião, Silviano tensiona a questão<br />
para o fato de se tentar, nas intempéries do cotidiano, ultrapassar preconceitos e ampliar,<br />
permanentemente, o campo da visão e da sensibilidade.<br />
Vozes da América Latina: a inserção de outras leituras<br />
A abertura da crítica literária para outras<br />
produtos culturais, ampliando o próprio conceito<br />
de literatura, teve uma importância capital para<br />
o processo de democratização da arte. Uma<br />
democratização que permitiu a ampliação<br />
do conceito de arte para outras formas de<br />
produção cultural, como a música popular, o<br />
cinema, revistas em quadrinhos.<br />
Ressaltamos que esse processo se<br />
insere em um projeto maior, sob o patrocínio<br />
inegável dos estudos culturais, que orienta-se<br />
em direção a dois questionamentos principais.<br />
O primeiro consiste em pensar a legitimidade do discurso histórico diante da literatura,<br />
problematizando a oposição entre o “real” e o “fi ccional”, cujos limites se esmaecem diante de<br />
um olhar culturalista, que reconhece a imparcialidade de qualquer relato e o entrecruzamento<br />
entre o vivido e o imaginado. O segundo é a desconstrução da hierarquia de autores canônicos<br />
diante de autores que foram mantidos à margem por críticos literários orientados por uma<br />
perspectiva eurocêntrica, ou seja, que privilegiam modelos de matriz européia.<br />
A desconstrução de hierarquias reverbera para a abertura da cena cultural não apenas<br />
para escritores, mas, também, para críticos de outros países, a exemplo da emergência dos<br />
latino-americanos Silviano Santiago, Beatriz Sarlo e Ricardo Piglia. Desse modo, a partir<br />
dessa abertura, passou-se a ouvir vozes provenientes dos países latino-americanos, que<br />
discutiam questões a eles pertinentes. Devemos ressalvar, no entanto, que, ao pontuar<br />
a emergência dessas vozes, não defendemos, com isso, uma postura adversa ao olhar<br />
estrangeiro (europeu, norte-americano, indiano) sobre a América Latina. Defendemos, na<br />
verdade, a importância de imprimir uma discussão em debates sobre cultura, a partir dessa<br />
própria cultura, permitindo que, ao lado de um olhar estrangeiros, muitos deles já legitimados,<br />
outros olhares possam ser contemplados. Devemos atentar, ainda, que a crítica de caráter<br />
local, isto é, as refl exões de Silviano Santiago não se limitam ao Brasil, do mesmo modo que<br />
as considerações de Beatriz Sarlo sobre a condição pós-moderna na Argentina, em Cenas<br />
da vida pós-moderna, não se encerram e não concernem apenas à Argentina.<br />
66
Uma outra contribuição trazida pelos estudos culturais é o descentramento da fi gura<br />
do autor diante do leitor. Nesse sentido, o leitor passa a endossar o texto também como seu<br />
autor, uma vez que, sem a sua leitura não há produção de sentido e o texto torna-se, apenas,<br />
uma reunião de páginas. No mesmo movimento, o autor, também, atua como leitor na cena da<br />
escritura, pois a escrita envolve a leitura, já que não é possível falar sem acionar outras leituras e<br />
uma comunidade de outros autores, conforme Michel Foucault sinaliza em O que é um autor?<br />
Destituído do estigma de decodifi cador de textos, o leitor passa a ser considerado<br />
um produtor de sentidos e a sua leitura liberta-se da ânsia de seguir padrões cristalizados e<br />
alcançar a “melhor” interpretação. É desse modo que, a partir dessa reviravolta nos estudos<br />
literários, a interpretação passa a ser vista como algo “pessoal e intransferível”, como Silviano<br />
Santiago subintitula o seu texto “Singular e anônimo”, em Nas malhas da letra, subtítulo a<br />
partir do qual indica que a leitura – ele refere-se, em especial, à de poesia – não deve ser<br />
transferida como a mais adequada a outros leitores, nem por esses apropriada.<br />
“‘Fica difícil fazer literatura tendo Gil como leitor’ – comecemos a ler um trecho no<br />
fi nal da Correspondência completa, longo poema-carta de Júlia, endereçado a ‘My dear’.<br />
Dizendo que é difícil fazer literatura para Gil, o poema nos diz que ele não existe para<br />
um leitor de nome próprio. O leitor, quando nomeado poeticamente, é anônimo, é aquele<br />
a quem realmente foi endereçado o poema: ‘My dear’ – hipócrita, semelhante e irmão. No<br />
poema citado, o leitor não tem e não pode ter nome próprio. O leitor se dá nome, isto é,<br />
personaliza a relação poema-leitor, quando ele próprio, leitor, se alça ao nível da produção<br />
dita pública (papo, artigo, livro, sala de aula, conferência etc.), nomeando a si como tal,<br />
assinando, responsabilizando-se. Quanto da assinatura do poeta não se apega na assinatura<br />
do leitor (crítico, professor, exegeta etc.).<br />
[...]<br />
[...] Em didática tradicional, o que se pede – não tenhamos dúvida – é o endosso do<br />
aluno à assinatura oral do professor. A didática moderna é apenas mais ilusória, incorrendo na<br />
falácia do coletivo, ao acreditar que se pode fazer uma leitura com a fi ta durex que emenda<br />
as impressões mais acertadas (de que ponto de vista?) e as mais díspares dos alunos.<br />
Nem um único nem todos.<br />
Qualquer, desde que enfrente as exigências: singular e anônimo. [...]”<br />
(SANTIAGO, 2002, p. 65, 6)<br />
Sendo pessoal e intransferível, o leitor de poesia não pode portanto, limitar-se a leituras<br />
já realizadas sobre um determinado poema. Sobre a concepção de leitura de poesia, Silviano<br />
Santiago forja duas imagens, a saber, a do guardião e a de vestal, ou seja, para o autor o<br />
leitor não deve ser dogmático, nem cético em sua leitura. Para falar sobre estas posturas<br />
diante do texto, Santiago prefi gura duas imagens. A primeira, representada por Mary, seria<br />
o leitor que se comporta como um “vestal”, isto é, um guardião do poema, cujo sentido deve<br />
ser resguardo e é inatingível. A segunda é o detetive, representado por Gil, incumbido da<br />
missão de desvendar os poemas, buscando pistas no autor, e desconsiderando, por vezes,<br />
o papel do leitor no processo de produção de sentido.<br />
“Gil quer desvendar o poema a partir do desejo-do-outro, vicária e parasitariamente,<br />
e não compreendê-lo a partir do seu próprio desejo. Gosta de acumular sem gastar.<br />
Gil é o leitor medroso de se afi rmar, de quebrar a barreira que interdita o outro, de<br />
transgredi-la prazerosamente em favor de uma comunhão/combustão. Tem medo de avançar<br />
como alteridade que separa o sujeito do objeto, guardando a distância dita objetiva. Esquecese<br />
de que, no ler, busca-se exatamente a maneira de se identifi car com o outro, guardando<br />
no entanto os próprios sentimentos, a individualidade, a intimidade.<br />
[...]<br />
67
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Já Mary toma o hermetismo ao pé da letra: o poema é indevassável<br />
ao leitor como uma doutrina esotérica. É preciso se iniciar diante do que,<br />
por mais que nos adentremos, não perde a condição de enigma a desafi ar<br />
infi nitamente a curiosidade do homem. Como Gil, Mary está certa no princípio<br />
(o poema certamente coloca exigências para os que dele querem fruir), mas<br />
errada na maneira como generaliza tal princípio, como que mitifi cando o que<br />
existe de literário no poema (mas não só de literário vive um poema, poderia<br />
lhe dizer um Gil mais lúcido.). Assim sendo, o poema só pode ser para ela “literatura pura”:<br />
‘me lê toda como literatura pura’, diz o poema.<br />
Por isso é que Mary “não entende as referências diretas”. São estas que rompem<br />
o processo de mitifi cação do literário pelo literário, rompem o círculo vicioso, corroendo-o,<br />
instaurando a possibilidade, na leitura, de uma ‘comunhão’ [...].”<br />
(SANTIAGO, 2002, p. 69, 71)<br />
Salientamos que a leitura não deve ser considerada, no entanto, um jogo de vale-tudo.<br />
A interpretação tem um caráter subjetivo, mas devemos, enquanto professores de literatura,<br />
identifi car desvios muito acentuados do sentido do texto lido. Pois sabemos que um texto<br />
tem diversas signifi cações, afi nal, se assim não fosse, uma narrativa escrita no século XVIII<br />
não teria interlocutores em outras épocas e, através deles, não poderiam ser atualizadas.<br />
O que enfatizamos, entretanto, são as limitações que o estabelecimento de um único modo<br />
de leitura ou uma única forma de interpretação pode causar no leitor.<br />
Um outro crítico latino-americano, o argentino Ricardo Piglia falou, em entrevista<br />
com Mônica López Ocón, sobre o caráter subjetivo da leitura e o deslocamento da noção<br />
de intenção ou mesmo leitura “melhor”. Ao ser perguntado sobre as leituras feitas sobre ele<br />
e seus livros e as possíveis lacunas nessas interpretações, o escritor responde:<br />
“Como eu gostaria que meus livros fossem lidos? Tal qual eles são lidos. Nada mais<br />
que isso. Por que o escritor teria que intervir para afi rmar ou retifi car o que se diz sobre sua<br />
obra? Cada um pode ler o que quiser num texto. Há bastante repressão na sociedade. Claro<br />
que existem estereótipos, leituras cristalizadas que passam de um crítico a outro: poderíamos<br />
pensar que essa é a leitura de uma época. Um escritor não tem nada a dizer sobre isso.<br />
Depois que alguém escreveu um livro, o que mais pode dizer sobre ele? Na realidade, tudo<br />
o que pode dizer é o que escreve no próximo livro.” (PIGLIA, 1994, p. 67)<br />
Ao tratarem sobre o lugar do leitor na produção de sentidos e a necessidade de dar a<br />
voz ao outro, os escritores latino-americanos enfocados parecem sinalizar para a importância<br />
de ampliar o espaço de discussão para outras vozes. Incluem-se, entre essas, a de autores que<br />
sempre estiveram fora do retrato e críticos que, leitores de teóricos de outras nações, demandam<br />
seus espaços na cena crítica cultural contemporânea, como intérpretes locais e globais.<br />
O Cânone<br />
Durante todo este tempo, alguns nomes foram lançados neste material sem que se<br />
questionasse o porquê deles estarem aqui em detrimento de tantos outros. A resposta é<br />
simples: eles compõem o acervo de escritores ou obras nós escolhemos (às vezes até<br />
inconscientemente) devido ao fato deles fazerem parte do nosso repertório de estudo, de<br />
vida. É claro que cada um tem um repertório variado, por isso a variedade de vozes que<br />
aparecem durante a nossa escrita que cita outros textos de outros autores que, por sua vez,<br />
citam tantos outros autores. Ao longo da vida, nos deparamos com obras que são tidas como<br />
sendo obras clássicas. Mas, o que seria um clássico? De onde vem essa palavra?<br />
68
O termo clássico surgiu derivado do adjetivo latino classicus, que indicava o cidadão<br />
pertencente às classes mais elevadas de Roma. No século II d.C. um certo Aulo Gelio<br />
(Noctes Atticae) utilizou-o para designar o escritor que por suas qualidades literárias poderia<br />
ser considerado modelar em seu ofício: “Classicus scriptor, non proletarius”. Durante o<br />
Renascimento, o termo clássico reapareceria, seja em textos latinos, seja nas línguas<br />
vernáculas, referindo-se tanto a autores greco-latinos quanto a autores modernos da própria<br />
época, considerados modelos de linguagem literária na língua vernácula. No século XVIII - o<br />
termo se estenderia aos autores que aceitavam os cânones da retórica greco-latina: ordem -<br />
clareza - medida - equilíbrio - decoro - harmonia e bom gosto. Tornou-se, pois, a base de uma<br />
estética essencialmente normativa. Assim, clássico, indicando modelo exemplar, cristalizouse<br />
como tradição, como cânone gramatical e semântico, como relicário do idioma e como<br />
um conjunto de regras imutáveis, isto é, universais e atemporais. No plano da mensagem,<br />
o que valia para caracterizar um clássico era a sua dimensão edifi cante, seus componentes<br />
morais e a sua capacidade de apresentar as paixões humanas de forma decorosa.<br />
No século XIX, a grande rebelião romântica começou a destruir a rigidez conservadora<br />
que envolvia a idéia de uma obra clássica. Victor Hugo mandou as regras às favas, abrindo<br />
um caminho mais liberto para a criação literária. Contudo, foram as vanguardas das primeiras<br />
décadas do século XX - especialmente Futurismo e Dadaismo - que levaram a ruptura com<br />
o classicismo às ultimas conseqüências, propondo, a exemplo de Marinetti, a destruição de<br />
bibliotecas, museus e tudo aquilo que representasse o “peso vetusto da tradição”.<br />
Passado o furor das vanguardas, o que fi cou? No plano do senso comum, clássico,<br />
hoje, indica uma obra artística superior, defi nitiva e que, por seus vários elementos estéticoideológicos,<br />
aproxima-se daquilo que (de forma mais ou menos nebulosa) chamaríamos de<br />
‘perfeição’. Porém esta obra não tem mais o sentido normativo que possuía no passado<br />
já que sua beleza lhe é irredutivelmente própria. Verdade que, nas escolas, a reverência<br />
exagerada aos clássicos - sobretudo aos da Antigüidade - veio até a década de 1960, a ponto<br />
de muitos de nós, professores, termos sido torturados, nas aulas de língua portuguesa, com<br />
a análise sintática de Os Lusíadas. As sucessivas mudanças culturais, ocorridas no Ocidente,<br />
especialmente a partir dos anos de 1960, quebraram toda e qualquer idéia de obra modelar<br />
e instauraram um conceito mais amplo e fl exível do que seria um clássico.<br />
Esquematicamente poderíamos apontar alguns traços defi nidores do que hoje se<br />
considera um texto clássico:<br />
1. São obras que ultrapassam o seu tempo, persistindo de alguma maneira na memória<br />
coletiva e sendo atualizada por sucessivas leituras, no transcurso da história.<br />
2. Apresentam paixões humanas de maneira intensa, original e múltipla. São paixões<br />
universais (ou pelo menos “ocidentais”) e têm um grau de maior ou menor fl exibilidade em<br />
relação à historicidade concreta.<br />
3. São obras que registram e simultaneamente inventam a complexidade de seu<br />
tempo. De maneira explícita ou implícita desvelam a historicidade concreta, as idéias e os<br />
sentimentos de uma época determinada. Há uma tendência geral: quanto mais explícita for<br />
a revelação histórica, menor o resultado estético. Na verdade, o espírito da época deve estar<br />
‘introjetado’ na experiência dos indivíduos.<br />
4. São obras que criam formas de expressão inusitadas, originais e de grande<br />
repercussão na própria história literária. Há clássicos que interessam em especial (ou talvez<br />
unicamente) ao mundo literário, como, por exemplo, o Ulisses, de Joyce.<br />
5. São obras de reconhecido valor histórico ou documental, mesmo não alcançando<br />
a universalidade inconteste. Nesta linha situam-se aquelas obras que são clássicas<br />
apenas na dimensão da história literária de um país, como, por exemplo, a obra de José<br />
de Alencar, ou apenas de uma região, como por exemplo as obras de Cyro Martins ou<br />
Aureliano de Figueiredo Pinto.<br />
69
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
6. Talvez a característica fundamental de uma obra clássica seja a sua<br />
inesgotabilidade. Ou como diz Calvino: “Um clássico é um livro que nunca<br />
terminou de dizer aquilo que tinha para dizer”.<br />
7. Um clássico é fundamental também pelo efeito que deflagra na consciência<br />
do leitor. Sob esta ótica, devemos considerar que ele é, simultaneamente:<br />
• Forma única de conhecimento – transmite paixões humanas oriundas<br />
de um patrimônio universal (que é a experiência do homem);<br />
• Utilização da linguagem de uma maneira exemplar, original e inesperada;<br />
• Um conjunto de revelações, idéias e sentimentos que têm a propriedade de durar na<br />
memória mais do que outras manifestações artísticas (música, cinema, etc.) Estas podem ter (e<br />
geralmente têm) um impacto maior na hora da fruição, mas seu prolongamento emotivo – a sua<br />
duração - é mais breve e inconsistente do que o proporcionado pela grande obra literária.<br />
Um não contra a morte. Por perdurar, a obra clássica ultrapassa o tempo e a fi nitude<br />
humana. De uma certa forma, é um protesto contra o “sem sentido” da vida.<br />
Bom, vimos as defi nições, até mesmo os adjetivos que se atrelam ao universo dos clássicos.<br />
Vimos, ainda, um tipo de fórmula que delimita um obra como clássica. Mas em nenhum momento<br />
foi colocada a questão da nossa escolha, do nosso arbítrio, das refl exões que nos levam a amar<br />
ou a odiar uma obra, mesmo que esta seja um clássico ou uma obra desconhecida.<br />
Eis uma tarefa para o escritor Ítalo Calvino. Aprecie alguns trechos (trouxemos apenas<br />
as premissas sem os comentários) da obra do autor!<br />
Por que ler os clássicos<br />
Ítalo Calvino - texto de 1981<br />
1. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: “Estou<br />
relendo...” e nunca “estou lendo...”.<br />
2. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os<br />
tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a<br />
sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los.<br />
3. Os clássicos são livros que exercem uma infl uência particular quando se<br />
impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória,<br />
mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual.<br />
4. Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira.<br />
5. Toda primeira leitura de um clássico é na realidade uma releitura.<br />
6. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer<br />
7. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas<br />
das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas<br />
culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes).<br />
8. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos<br />
críticos sobre si, mas continuamente as repele para longe.<br />
9. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer,<br />
quando são lidos de fato mais se revelam novos, inesperados, inéditos.<br />
10. Chama-se de clássico um livro que se confi gura como equivalente do universo,<br />
à semelhança dos antigos talismãs.<br />
11. O “seu” clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve para<br />
defi nir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele.<br />
12. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos; mas quem leu antes<br />
os outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na genealogia.<br />
70
13. É clássico aquilo que tende a relegar as atualidades à posição de barulho de<br />
fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse barulho de fundo.<br />
14. É clássico aquilo que persiste como rumor mesmo onde predomina a<br />
atualidade mais incompatível.<br />
O escritor deixa seu leitor livre para se posicionar, falar, escolher, decidir o que fará<br />
parte da estante designada aos seus clássicos. É uma postura extremamente aberta e<br />
conciliadora: não impõe hegemonicamente seu ponto de vista, ao perceber a quantidade<br />
de obras em contato com o leitor.<br />
E Calvino fecha seu texto dizendo:<br />
Agora deveria reescrever todo o artigo, deixando bem claro que os clássicos<br />
servem para entender quem somos e aonde chegamos(...)<br />
Depois, deveria reescrevê-lo ainda mais uma vez para que não se pense que os<br />
clássicos devem ser lidos porque “servem” para qualquer coisa. A única razão que se pode<br />
apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos.<br />
E se alguém objetar que não vale a pena tanto esforço, citarei Cioran (não um clássico, pelo<br />
menos por enquanto, mas um pensador contemporâneo que só agora começa a ser traduzido<br />
na Itália): “enquanto era preparada a cicuta, Sócrates estava aprendendo uma ária com a fl auta.<br />
‘Para que lhe servirá?’, perguntaram-lhe. ‘Para aprender esta ária antes de morrer’”.<br />
Para ler o texto na íntegra, consulte o site:<br />
http://www.lumiarte.com/luardeoutono/calvino.html<br />
Revendo a noção de “literatura”<br />
A seguir, teremos um texto fazendo um breve panorama sobre o que se convencionou<br />
no Brasil como sendo Literatura Marginal. O leitura de obras neste texto, no entanto, vai<br />
até o início dos anos 80.<br />
71
O que fi cou da poesia marginal?<br />
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Não só a política está interessada em rever os anos do sufoco.<br />
A literatura também quer saber se valeu a pena a criação poética<br />
dos anos 70.<br />
Olha a passarinhada<br />
Onde?<br />
Passou.<br />
CHARLES<br />
A “literatura marginal” escrita nos anos 70 está balizada por duas mortes: a de<br />
Torquato Neto (“e vivo tranqüilamente todas as horas do fi m”), que marca o melancólico<br />
início, e a de Ana Cristina César (“Estou muito concentrada no meu pânico”), que chama<br />
a atenção para o gran fi nale de sua geração.<br />
Avaliada por muitos como o surto da biotônica vitalidade contra a ditadura militar<br />
instalada no País, seus poetas praticavam quase sempre um ritual mórbido em torno<br />
dos grandes mortos da contracultura - Jimi Hendrix e Janis Joplin, entre outros - e uma<br />
intensa (auto) fl agelação, presente desde o confessado uso de drogas até o desprezo<br />
paradoxal pela cultura, sobretudo a literária.<br />
A poesia que resultou dos anos loucos é o retrato bem-acabado dessa inanição<br />
intelectual. Argumenta-se, hoje, que a repressão não permitiria coisa diferente. Trata-se,<br />
contudo, de uma idéia primária: a poesia de Garcia Lorca seria legível em nossos dias,<br />
caso sucumbisse em qualidade à ditadura franquista, e detonasse poemas-piadas e<br />
impressões instantâneas, como as que compuseram o lugar-comum da poesia marginal?<br />
Qualquer ditadura fi caria agradecida com o nível de contestação dos livrinhos vendidos<br />
de mão em mão, de reduzidíssimo poder de fogo.<br />
A prática poética da geração 70, além disso, é um elogio ao anacronismo: a maioria<br />
dos poemas, seja pela técnica, seja pelo tratamento dispensado ao tema, confi gura<br />
uma imitação detalhada da poesia que se escreveu nos primeiros anos do Modernismo<br />
brasileiro (1920 a 1930). Os poemas de Oswald de Andrade, por exemplo, podem ser<br />
facilmente confundidos com as anotações dos poetas marginais. Chacal, em “Papo<br />
de Índio”, chega ao extremo de repetir a fórmula da Antropofagia:<br />
veiu uns ômi de saia preta<br />
cheiu di caixinha e pó branco<br />
qui eles disserum qui chamava açucri.<br />
aí eles falarum e nós fechamu a cara.<br />
depois eles arrepetirum e nós fechamu o<br />
corpo.<br />
aí eles insistirum e nós comeu eles.<br />
Quando Heloisa Buarque de Hollanda publicou Impressões de Viagem (1980),<br />
não desconfi ava que seria eleita madrinha dos marginais. Era uma tarefa espinhosa.<br />
Deve ser por tudo isso que, retornando de outra viagem, impressionou-se e pediu mais<br />
competência à nova geração. Seu livro é uma leitura bem articulada do engajamento<br />
político da década de 60 e da dispersão da geração 70, dois momentos que estuda com<br />
igual simpatia. É acusado freqüentemente de ser provinciano, por se limitar aos grupos<br />
72
do Rio de Janeiro. Envolvendo-se com teorias que pertencem quase sempre a Benjamin<br />
e a Lukács, Heloisa desloca a discussão acerca do literário para o plano da produção<br />
intelectual, tentando desfazer o suposto equívoco entre oposição e opção alternativa.<br />
Ao que parece, deu preferência a um projeto mais globalizante: “O texto, a produção do<br />
livro e a própria vida desburocratizada dos novos poetas sugerem, de maneiras muito<br />
parecidas, o descompromisso como resposta à ordem do sistema. “No entanto, torna-se<br />
difi cílimo contemplar “força subversiva” na prática declarada da ignorância: a defesa do<br />
caráter da momentaneidade, da experiência artesanal e do binômio arte/vida pode muito<br />
bem condenar uma literatura, ainda que seus “escritores” não se incomodem com críticas<br />
à qualidade literária. Nem poderiam: o que eles fi zeram foi causar tédio pela vereda<br />
fl orida da falta de intenções. O sucesso de suas teses, no entanto, abriu campo para<br />
outros estudos, como o do melhor documentado (mas preso aos rigores acadêmicos)<br />
trabalho de Carlos Alberto Pereira, Retrato de Época (1981), amplamente centrado na<br />
poesia e com curiosos depoimentos do way of life marginal.<br />
Porém, a simpatia generalizada começou pouco a pouco a declinar, e muitas vezes<br />
pelas palavras de antigos companheiros de viagem. Paulo Leminski, cujo depoimento<br />
é insuspeito, participou aqui e ali com alguns poemas típicos, mas defi ne com rigor a<br />
produção intelectual da época. Em entrevista ao Correio das Artes (8-7-84), de João<br />
Pessoa, declarou: “A chamada poesia marginal dos anos 70 é uma poesia, em grande<br />
parte ignorante, infanto-juvenil, tecnicamente inferior aos seus antecessores.” Incultos,<br />
como faz supor Leminski, leram rápida e confusamente alguma coisa de Nietzsche e<br />
os almanaques contraculturais de Herbert Marcuse e Wilhelm Reich, salpicando toda<br />
essa salada sexual de zen-budismo e, entenda quem puder, misticismo coloquial.<br />
Se dependesse dos próprios malditos, o que escreveram jamais seria considerado<br />
poesia. Assim pensa Cacaso de seu livro Segunda Classe: “É uma coisa inteiramente<br />
informal, é um negócio meio repentista assim. A gente estava era curtindo, a verdade é<br />
essa.” Francisco Alvim, por sua vez, tinha um desprezo consciente pelo que escrevia.<br />
Acerca de seu livro Passatempo, disse: “Ele se escreveu. Não me interessa inclusive a<br />
qualidade dele; eu acho que é uma resposta, é uma coisa que eu escrevi na minha vida.”<br />
É igualmente curioso observar uma vertente que gostava de agredir o conhecimento<br />
livresco em troca de um outro que, como se supunha, aprendia-se nas ruas. Escreveu<br />
Charles: “A sabedoria tá mais na rua que/ nos livros em geral/ (essa é a batida mas<br />
batendo é que faz render)/ bom é falar bobage e jogar pelada/ um exercício contra a<br />
genialidade.” Eles conseguiram! O próprio Charles, por exemplo, escreveu poemas<br />
que não poderiam ser mais lúcidos e que retratam bem o que acontecia na rua:<br />
HORA ILUMINADA<br />
mastigando uma pêra<br />
de bobera<br />
às três em ponto.<br />
Por mais que o poema “Suspiro”, de Francisco Alvim, se resuma ao verso “A vida<br />
é um adeuzinho”, quem será capaz de decorá-lo? Por mais que Chacal insista em<br />
procurar “na beira de um calipso neurótico / um orfeu fudido”, ele só encontrará algo<br />
bem pior, ou seja, um poeta que escreveu versos como “doce dulce dá-se dócil”.<br />
Naquela década, contudo, a poesia estava sendo salva pela estréia salutar de<br />
Adélia Prado, pela laboriosa anarquia de Roberto Piva, e ainda por Antônio Carlos<br />
Sacchin e Armando Freitas Filho. São nomes pinçados de um profundíssimo<br />
caldeirão de poetas que entornou bons e maus versos. José Paulo Paes, que cultivou<br />
73
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
o epigrama irônico, é uma bela demonstração de como a síntese<br />
não é necessariamente a indigência poética de quem pensa que<br />
hai-cai é o garrancho abandonado nas paredes dos mictórios. Num<br />
levantamento sumário, o ex-poeta engajado Moacyr Félix arrolou um<br />
número monstruoso de poetas estrelados na década de 70, que hoje<br />
ninguém sabe por onde andam e o que escrevem. É preciso citar,<br />
ainda, alguns nomes que não permitiram fazer da década um imenso deserto cujas<br />
areias terminam onde começam as de Ipanema. Do oásis plantado por alguns bons<br />
livros, que dissiparam as fumaças das dunas baratas, ressalte-se que os anos 70<br />
serviram para consolidar a literatura escrita por mulheres como Olga Savary, Miriam<br />
Fraga, Hilda Hilst e Laís Correa de Araújo, entre outras.<br />
O poema mais signifi cativo dos anos 70 não foi escrito por nenhum poeta do<br />
desbunde ou outro qualquer que tenha perdido o bonde, mas por um poeta exilado.<br />
Com Poema Sujo (1977), Ferreira Gullar elevou a um só tempo a poesia engajada a<br />
poesia memorialística e as técnicas mais modernas do verso.<br />
Hoje, quase todos os poetas marginais já têm obra completa publicada - comparecendo<br />
com uma poesia extremamente datada. Embora vulgar, o argumento de que o “vazio<br />
cultural” dos anos 70 causou a aparição de uma poesia oca precisa ser considerado, ao<br />
menos por defi nir uma produção já envelhecida. A melhor contribuição daqueles poetas<br />
depositou-se nas letras de música popular e em roteiros para fi lmes ou programas de<br />
televisão, formas que escapam à pequenez das edições mimeografadas, embora caiam<br />
no circuito outrora execrado. Waly Salomão é exemplo de escritor que adaptou-se bem<br />
às letras de música, bastante superior à sua prosa. De resto, sua formação cultural é<br />
bem mais sofi sticada do que a de qualquer outro brincalhão do circo das letras.<br />
Ninguém vive bem em tempos políticos difíceis, ainda mais na companhia de<br />
poemas intragáveis. Há coisas constrangedoras como esta:<br />
Tenho pena dos pobres, dos aleijados, dos<br />
velhos<br />
Tenho pena do louco Neco Vicente<br />
E da Lua sozinha no céu<br />
que, embora assemelhe-se aos poetas da lavra<br />
marginal, pertence a Jorge de Lima - com<br />
uma ressalva, porém: quando a escreveu, ele<br />
tinha apenas 9 anos de idade. Freud afi rmava<br />
que toda criança é um perverso polimorfo – e<br />
deve estar certo, pois pelo menos em poesia as<br />
infâncias se confundem.<br />
(Felipe Fortuna, poeta e ensaísta. Ainda não tem geração.)<br />
Texto encontrado no Jornal do Brasil, Caderno B/Especial, 07 de setembro de 1986.<br />
Este breve panorama sobre a literatura marginal no Brasil nos auxilia a continuar<br />
pensando no movimento de abertura para outras ramifi cações teóricas que surgiam<br />
constantemente nas comunidades letradas do país e de algumas partes do mundo. O<br />
movimento da poesia e da literatura marginal sonda possibilidades narrativas que nos anos<br />
80 promoveram um boom da memória, que tem como marco o relato de Gabeira em O que<br />
74
é isso companheiro. A partir de então, surgem obras pautadas na memória e na experiência.<br />
Discursos de classes tidos à margem do sistema literário, aparecerão com maior força<br />
desestabilizando ainda mais a instância sacra em que a literatura se encontrava.<br />
A literatura contemporânea conta com vozes de escritores como Marcelino Freire, Ferréz,<br />
Paulo Lins, MV Bill, Celso Athayde, que algumas vezes narram a partir de um determinado local<br />
que habitaram ou habitam – a favela, como no caso de Ferréz, Bill, Athayde – ou se colocam<br />
como militantes da causa, inserindo-se no espaço da memória que narra também a experiência<br />
do outro, como sugere Silviano em sua explanação sobre o narrador pós-moderno.<br />
TOTONHA<br />
(Marcelino Freire)<br />
Capim sabe ler? Escrever? Já viu cachorro letrado, cientifi co? Já viu juízo de<br />
valor? Em quê? Não quero aprender, dispenso.<br />
Deixa pra gente que é moço. Gente que tem ainda vontade de doutorar. De falar bonito.<br />
De salvar vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre. E mais nada precisa. Deixa eu, aqui<br />
no meu canto. Na boca do fogão é que fi co. Tô bem. Já viu fogo ir atrás de sílaba?<br />
O governo me dê o dinheiro da feira. O dente o presidente. E o vale-doce e o<br />
vale-lingüiça. Quero ser bem ignorante. Aprender com o vento, tá me entendendo?<br />
Demente como um mosquito. Na bosta ali, da cabrita. Que ninguém respeita mais a<br />
bosta do que eu. A química.<br />
Tem coisa mais bonita? A geografi a do rio mes¬mo seco, mesmo esculhambado? O<br />
risco da poeira? O pó da água? Hein? O que eu vou fazer com essa cartilha? Número?<br />
Só para o prefeito dizer que valeu a pena o esforço? Tem esforço mais esforço<br />
que o meu esforço? Todo dia, há tanto tempo, nesse esquecimento. Acordando com o<br />
sol tem melhor bê-á-bá? Assoletrar se a chuva vem? Se não vem?<br />
Morrer já sei. Comer, também. De vez em quando, ir atrás de preá, caruá.<br />
Roer osso de tatu. Adivinhar quando a coceira é só uma coceira, não uma doença.<br />
Tenha santa paciência!<br />
Será que eu preciso mesmo garranchear meu nome? Desenhar só para a mocinha<br />
aí fi car contente? Dona professora, que valia tem meu nome numa folha de papel, me<br />
diga honestamente. Coisa mais sem vida é um nome assim, sem gente. Quem está<br />
atrás do nome não conta?<br />
No papel, sou menos ninguém do que aqui, no Vale do Jequitinhonha. Pelo menos<br />
aqui todo mundo me conhece. Grita, apelida. Vem me chamar de Totonha. Quase não<br />
mudo de roupa, quase não mudo de lugar. Sou sempre a mesma pessoa. Que voa.<br />
Para mim, a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa. No focinho de quem<br />
for. Não tenho medo de linguagem superior. Deus que me ensinou. Só quero que me<br />
deixem sozinha. Eu e a minha língua, sim, que só passarinho entende, entende?<br />
Não preciso ler, moça. A mocinha que aprenda. O prefeito que aprenda. O doutor.<br />
O presidente é que precisa saber ler o que assinou. Eu é que não vou baixar a minha<br />
cabeça para escrever.<br />
Ah, não vou.<br />
FREIRE, Marcelino. Contos negreiros.<br />
Esse tipo de literatura, pautada em relatos de classes que apresentam a precariedade<br />
em que vivem, denotam a singularidade de cada situação e sua potência, como no caso<br />
de Totonha, que se nega a entrar no vicioso círculo social ilustrado e burocrático que<br />
75
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
maquia outras necessidades dos cidadãos. Essa literatura não só ratifi ca<br />
a possibilidade e potência de existência, muito mais que de resistência<br />
de um grupo que inspira novas criações e teorias. No mesmo rastro que<br />
Totonha, encontramos o fi lme Estamira, a narrativa de Cidade de Deus, os<br />
romances de Ferréz – Ninguém é inocente em São Paulo; Capão Pecado<br />
e tantos outros manifestos de movimentos que ocorrem cotidianamente.<br />
Esses movimentos denunciam não apenas a violência e a desigualdade<br />
social, mas a intensidade dos discursos em que vivem, seu poder de grupo, de corporação.<br />
Sua potência de também poder escolher o que quer ser.<br />
A literatura contemporânea é uma confi rmação de que a vida não basta, por isso tantas<br />
insinuações e movimentos contra a maré. Por isso, também, narrar: para legar ao literário<br />
o rastro da existência de cada um que a cada dia, no imbricado da literatura e da vida, vem<br />
sendo lançado para dentro de universos irremediáveis. Boa leitura sempre! E boa viagem!<br />
Para saber mais, visite:<br />
http://ferrez.blogspot.com/<br />
http://www.eraodito.blogspot.com/<br />
http://www.vivafavela.com.br/<br />
Atividades<br />
Complementares<br />
• Vimos muitas nomenclaturas e teorias durante nosso curso e agora gostaríamos que<br />
você traçasse um seguimento acerca desses assuntos na sua vida. Tome como ponto de<br />
partida a noção que você tinha do Literário antes do curso e como você pensa esse mesmo<br />
universo artístico agora.<br />
• Relacione os conceitos aristotélicos de mimesis e catarse aos textos e teorias colocados<br />
em cena durante o curso, que enfoquem, prioritariamente, vertentes discutidas sobre os Estudos<br />
Culturais, para refl etirmos como essas instâncias literárias, atreladas à refl exão humana por<br />
séculos, pode se confi gurar no estudo e interpretação de textos contemporâneos.<br />
76
Glossário 31<br />
Alegoria- discurso que faz entender outro, numa linguagem que oculta a outra.<br />
Podemos considerar alegoriaa toda concretização, por meio de imagens, fi guras e pessoas,<br />
de idéias, qualidades ou entidades abstratas. O aspecto material funcionaria como disfarce,<br />
dissimulação, ou revestimento, do aspecto moral, ideal ou fi ccional.<br />
Alusão – toda referência, direta ou indireta, propositada ou casual, a uma obra,<br />
personagem, situação, etc., pertencente ao mundo literário, artístico, mitológico, etc.<br />
Ambigüidade – que apresenta duas faces, dois ou mais sentidos. Plurissignifi cação.<br />
Catarse – efeito promovido pela liberação de emoções através da simpatia ou medo,<br />
como, por exemplo, por ocasião de uma performance teatral; próprio do drama.<br />
Confl ito – qualquer componente de uma história (personagens, fatos, ambiente,<br />
idéias, emoções) que se opõe a outro, criando uma tensão que organiza os fatos da história<br />
e prende a atenção do leitor. 32<br />
Crise – do grego, decisão, julgamento; momento assinalado que numa peça de teatro<br />
ou narrativa se processa o encontro decisivo das forças em confl ito, que provoca as opções<br />
defi nitivas e o epílogo irremediável.<br />
Drama- essencial e historicamente, a palavra vincula-se ao teatro, isto é,a arte<br />
da representação. 33<br />
Épica - palavra, narrativa, poema, recitação. Diz respeito à epopéia, e aos heróis.<br />
Fanopéia – consiste em “projetar o objeto (fi xo ou em movimento) na imaginação visual”<br />
Ficção – sinônimo de imaginação e invenção, encerra o próprio núcleo do conceito de<br />
Literatura: Literatura é fi cção por meio da palavra escrita. Entretanto, o vocábulo se emprega,<br />
costumeira e restritivamente, para designar a prosa literária em geral, ou seja, a prosa de fi cção.<br />
Logopéia – criação de palavras. Designa, de modo geral, a arte de combinar as<br />
palavras a fi m de sugerir a idéia de beleza pela forma e pelo conteúdo.<br />
Melopéia – consiste em “produzir correlações emocionais por intermédio do som<br />
e do ritmo da fala”.<br />
Metáfora – transporte, translação; consiste no transportar para uma coisa o nome de<br />
outra, ou do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou da espécie de uma<br />
para a espécie de outra, ou por analogia. 34<br />
31 - MOISÉS, Massaud. Dicionário de Termos Literários. São Paulo: Ed. Cultrix, 1974. Utilizado para a maior parte dos os termos<br />
extraídos deste glossário.<br />
32 - GANCHO, Cândida Vilares. Como analisar narrativas. São Paulo: Ática, [S/d].p. 11.<br />
33 - Para signifi cado mais abrangente do termo, consultar páginas 161 a 163 do Dicionário de Termos Literários.<br />
34 - Ibidem. p 323 a 333<br />
77
Mimese – imitação. 35<br />
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
Rubrica 36 - sinal indicativo dos movimentos e gestos dos atores,<br />
consignado nos respectivos papéis.<br />
Pantomima 37 – arte ou ato de expressão por meio de gestos.<br />
Paronomásia- do grego paronomasia; para, “próximo de”; onomasía, denominação.<br />
Designa uma figura de linguagem que consiste no emprego de vocábulos semelhantes<br />
mas de significados opostos.<br />
Simbolismo – no sentido genérico, o termo encontra-se ligado à símbolos e às atitudes<br />
simbolistas. O movimento literário e cultural datado do fi nal do século XIX e início do século<br />
XX diz respeito a uma negação da arte representada pelo Realismo, e a retomada de valores<br />
do Romantismo, com acréscimo de novos dados. 38<br />
Símile – coisa semelhante; fi gura de pensamento, até certo ponto sinônimo de<br />
comparação, o símile dela se distingue na medida em que se caracteriza pelo confronto de<br />
dois seres ou coisas de natureza diferente, a fi m de ressaltar um deles.<br />
35 - Ibidem. p. 335 a 338.<br />
36 - HOLANDA, Aurélio.Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969. p.1072<br />
37 - Op. Cit. p.892.<br />
38 - Para maiores esclarecimentos, verifi car em Dicionário de Termos Literários, op.cit.<br />
78
Referências<br />
Bibliográficas<br />
ABDALA JUNIOR, Benjamin. Camões. Épica e Lírica. São Paulo: Scipione, 1993.<br />
ABRÃO, Bernadette Siqueira (org.). História da Filosofi a. São Paulo: Nova Cultural 1999.<br />
Coleção Os Pensadores.<br />
ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um Sargento de Milícias.São Paulo: FTD,<br />
1992.<br />
ANDRADE, Mário de. Macunaíma.20a. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1984.<br />
ARISTÓTELES. Arte Retórica e Poética. Rio de Janeiro: Edições Ediouro, 1977.<br />
ASSIS, Machado. Obras Completas.Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1971.<br />
BANDEIRA, Manoel. Libertinagem & Estrela da Manhã. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,<br />
2000.<br />
BAKTHIN, Mikhail.Questões de Literatura e de Estética (Teoria do Romance).4a ed. São<br />
Paulo: Unesp, 1998.<br />
BENJAMIN, Walter. O Narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Arte e<br />
Política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1987.<br />
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fada.Trad. Arlene Caetano.17ª ed. Rio<br />
de Janeiro:Paz e Terra, 2003.<br />
CARA, Salete de Almeida. A poesia lírica. São Paulo: Ática, 1995.<br />
CERVANTES, Miguel. Dom Quixote de la Mancha. São Paulo: Nova Cultural, 2003.<br />
CHEVALIER, Jean ; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos. 15a Ed. Trad. Vera da<br />
Costa e Silva. et al. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.<br />
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte:<br />
Ed. UFMG, 2001.<br />
CULLER, Jonathan. Teoria literária: uma introdução. São Paulo: BECA, 1999.<br />
CUNHA, Euclides. Os Sertões. São Paulo: Círculo do Livro,[S/d]<br />
DEFOE, Daniel. Robinson Crusoé.<br />
DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. São Paulo: Ed.34, 1997.<br />
79
ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. 6a ed. São Paulo:Ed. Perspectiva, 2002.<br />
(Col. Debates).<br />
Introdução aos<br />
Estudos<br />
Literários<br />
FAUSTINO, Mauro. Poesia e experiência. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1977.<br />
Coleção Debates.<br />
FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. São Paulo: Abril Cultural, 1970.<br />
FRYE, Northrop. Anatomia da Crítica. São Paulo: Cultrix, 1973.<br />
GANCHO,Cândida Vilares. Como analisar narrativas. 7a. ed. São Paulo: Ática, [S/d]<br />
HEGEL. Estética. Poesia. [S/l],1964.<br />
HOLANDA, Aurélio.Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Civilização<br />
Brasileira, 1969.<br />
HOLANDA, Chico Buarque & PONTES, Paulo. Gota d’Água. 18a ed. Rio de Janeiro:<br />
Civilização Brasileira, 1989.<br />
KAFKA, Franz. A Metamorfose Um Artista da Fome Cartas a Meu Pai. São Paulo: Martins<br />
Claret, 2001.<br />
LEITE, Lígia Chiappini Moraes. O Foco Narrativo ( ou A Polêmica em torno da Ilusão).10a<br />
ed.São Paulo: Ed. Ática, [S/d]. Coleção Princípios.<br />
MARQUEZ, Gabriel Garcia. Olhos de Cão Azul. Rio de Janeiro: Ed. Record, 1974.<br />
MELO NETO, João Cabral de. In: A Educação pela Pedra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996.<br />
MOISÉS, Massaud. Dicionário de Termos Literários. São Paulo: Ed. Cultrix, 1974.<br />
PAZ, Octavio. O arco e a lira. Trad. Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.<br />
PAZ, Octavio. A consagração do instante<br />
PLATÃO. A República. Rio de Janeiro: Edições Ediouro, 1977.<br />
RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. São Paulo: Record, 1980.<br />
ROSA, João Guimarães. Ficção Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995.<br />
ROSENFELD, Anatol. O Teatro Épico. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1985.<br />
SANTOS, Lívia & FREITAS, Viviane. Apostila de Teoria da Literatura I-A. Salvador: UFBa, 2004.<br />
SANTIAGO, Silviano. Nas Malhas das Letras.<br />
TELLES, Lygia Fagundes. Venha ver o por-do-sol & outros contos. São Paulo: Ed. Ática, 2002.<br />
VERÍSSIMO, Luis Fernando. O analista de Bagé. Porto Alegre: L&PM, 1984.<br />
WOOLF, Virginia. Mrs. Dalloway. São Paulo: Abril Cultural, 1972.<br />
80
FTC - EAD<br />
Faculdade de Tecnologia e Ciências - Educação a Distância<br />
Democratizando a Educação.<br />
www.ead.ftc.br