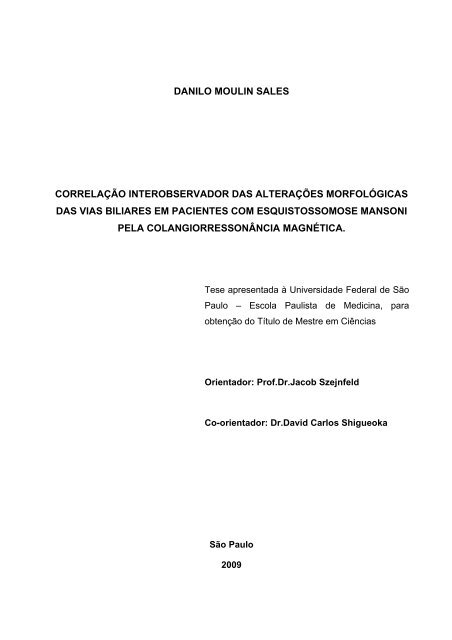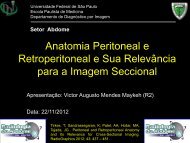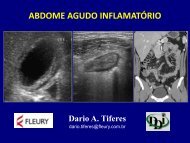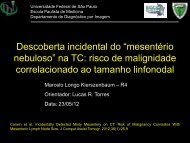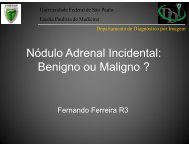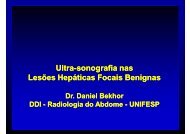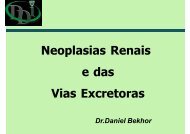danilo moulin sales correlação interobservador ... - (DDI) - UNIFESP
danilo moulin sales correlação interobservador ... - (DDI) - UNIFESP
danilo moulin sales correlação interobservador ... - (DDI) - UNIFESP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DANILO MOULIN SALES<br />
CORRELAÇÃO INTEROBSERVADOR DAS ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS<br />
DAS VIAS BILIARES EM PACIENTES COM ESQUISTOSSOMOSE MANSONI<br />
PELA COLANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA.<br />
Tese apresentada à Universidade Federal de São<br />
Paulo – Escola Paulista de Medicina, para<br />
obtenção do Título de Mestre em Ciências<br />
Orientador: Prof.Dr.Jacob Szejnfeld<br />
Co-orientador: Dr.David Carlos Shigueoka<br />
São Paulo<br />
2009
Sales, Danilo Moulin<br />
Avaliação das alterações morfológicas das vias biliares em pacientes com<br />
esquistossomose mansoni pela Colangiorressonancia Magnética: <strong>correlação</strong><br />
intra e inter observador / Danilo Moulin Sales. São Paulo, 2009.<br />
xiii, 36f.<br />
Tese (Mestrado) – Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de<br />
Medicina. Programa de pós-graduação em Radiologia Clínica.<br />
Título em inglês: Morfological biliary tree changes evaluation by Cholangio<br />
Magnetic Resonance in Schistosomiasis mansoni infected patients: intercorrelation<br />
observer agreement.<br />
1.Esquistossomose Mansoni. 2. Imagem por Ressonancia Magnética.<br />
3.Colangiografia. 4. Ductos biliares.
Chefe do Departamento:<br />
Prof.Dr.Sergio Aron Ajzen<br />
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO<br />
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA<br />
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM<br />
Coordenador do Curso de Pós-graduação:<br />
Prof.Dr.Giuseppe D’Ippolito<br />
iii
À minha esposa, Valéria, e à minha filha, Bárbara, fontes e objetos de amor,<br />
ambas fundamentais na minha vida.<br />
iv
Agradecimentos<br />
Ao Prof. Dr. Jacob Szejnfeld, que me acolheu nesta instituição dando início a<br />
minha vida acadêmica, pela sua orientação e ensinamentos, meu sincero<br />
agradecimento.<br />
Ao amigo, Dr. David Carlos Shigueoka, grande incentivador em todo o<br />
processo de elaboração da tese, tranquilizador em momentos de esmorecimento e<br />
companheiro durante todo o percurso, muito obrigado.<br />
Ao Prof. Dr. Giuseppe D’Ippolito, pelos muitos ensinamentos e conselhos<br />
dispensados a mim, todos de grande importância e aproveitamento.<br />
Ao amigo, Dr. José Eduardo Mourão Santos, pelo incentivo, orientação, idéias<br />
e grande ajuda na elaboração deste trabalho.<br />
Ao Dr. Alberto Ribeiro de Souza Leão, amigo e companheiro nos momentos<br />
mais laboriosos deste trabalho.<br />
À Profa. Andrea Puchnick, pela grande ajuda e orientação nas diversas etapas<br />
da elaboração técnica desta tese e mais ainda pela inestimável amizade.<br />
Ao Prof. Dr. Durval Rosa Borges, pelo incentivo à pesquisa da<br />
esquistossomose mansoni e aos membros da sua equipe, Dr. Paulo Eugênio Brant e<br />
Dra. Luciane Aparecida Kopke de Aguiar, pelo auxílio na seleção dos pacientes.<br />
Ao Prof. Dr. Ramiro Colleoni Neto, pela ajuda na seleção de pacientes,<br />
permitindo a continuidade do trabalho, meu muito obrigado.<br />
Aos tecnólogos, Giuliano Martins de Oliveira e Júlio Cesar Soares Batista e ao<br />
biomédico, Benedito Herbert de Souza, que me ajudaram a realizar os exames que<br />
fazem parte deste trabalho, pela dedicação e amizade.<br />
Aos enfermeiros, Josefa Martins Alves e Paulo Silvano Silva e à auxiliar de<br />
enfermagem, Conceição de Oliveira que, com tanto carinho, trataram todos os<br />
envolvidos nesta pesquisa, principalmente os pacientes.<br />
v
Às Sras. Maria Rosa Honório da Silva, Giselle Cini Sobral e Ana Lúcia Brito dos<br />
Santos e às Srtas. Célia Virgínia Garcia de Oliveira, Patrícia Bonomo e Marina André<br />
da Silva pela amizade e colaboração, durante minha vida acadêmica na EPM.<br />
Aos pós-graduandos, residentes e ex-residentes do Departamento de<br />
Diagnóstico por Imagem com quem convivi nestes últimos anos, em especial às<br />
amizades que fiz aqui.<br />
Aos pacientes, que fizeram parte deste estudo, pela sua disponibilidade,<br />
cooperação e compreensão.<br />
vi
"A ausência da evidência não significa evidência da ausência."<br />
vii<br />
Carl Sagan (1934-1996)
Sumário<br />
Dedicatória............................................................................................................................................ iv<br />
Agradecimentos .................................................................................................................................. v<br />
Listas ...................................................................................................................................................... x<br />
Resumo.................................................................................................................................................. xiii<br />
1 INTRODUÇÃO................................................................................................................................. 1<br />
1.1 Objetivos ........................................................................................................................................ 3<br />
2 REVISÃO DA LITERATURA ...................................................................................................... 4<br />
2.1 Colangiopancreatografia por ressonância magnética...................................................... 4<br />
2.2 Colangiopatia na esquistossomose mansoni ..................................................................... 5<br />
3 MÉTODOS ........................................................................................................................................ 8<br />
3.1 Casuística ...................................................................................................................................... 8<br />
3.1.1 Critérios de inclusão................................................................................................................ 8<br />
3.1.2 Critérios de não-inclusão....................................................................................................... 8<br />
3.1.3 Critérios de exclusão .............................................................................................................. 9<br />
3.2 Exames de ressonancia magnética....................................................................................... 9<br />
3.2.1 Padronização da análise dos exames de RM................................................................. 9<br />
3.2.2 Alterações das vias biliares consideradas pela CPRM................................................ 10<br />
3.3 Análise Estatística ....................................................................................................................... 12<br />
4 RESULTADOS ................................................................................................................................ 14<br />
4.1 Avaliação da concordância <strong>interobservador</strong> nas alterações das vias biliares<br />
observadas pela CPRM....................................................................................................................<br />
14<br />
4.2 Frequência de alteração da via biliar considerada pelos examinadores, por<br />
segmento da árvore biliar.................................................................................................................<br />
17<br />
4.3 Correlação entre a presença de alteração na via biliar pela CPRM e a GGT<br />
sérica ......................................................................................................................................................<br />
18<br />
5 DISCUSSÃO .................................................................................................................................... 20<br />
6 CONCLUSÕES................................................................................................................................ 25<br />
7 ANEXOS............................................................................................................................................ 26<br />
8 REFERÊNCIAS ...............................................................................................................................<br />
Abstract<br />
Bibliografia Consultada<br />
31<br />
viii
Lista de figuras<br />
Figura 1 Alterações observadas das vias biliares............................................................... 10<br />
Figura 2 Alterações observadas das vias biliares............................................................... 11<br />
Figura 3 Alterações observadas das vias biliares............................................................... 12<br />
Figura 4<br />
Figura 5<br />
Figura 6<br />
Figura 7<br />
Seqüência SSTSE mostrando árvore biliar considerada harmônica e<br />
outra com distorção..................................................................................................... 12<br />
Frequência de alteração do hepatocolédoco considerada pelos<br />
examinadores................................................................................................................ 17<br />
Frequência de ductos hepáticos direito e esquerdo considerados<br />
normais ou alterados pelos examinadores .......................................................... 17<br />
Frequência de ductos de segunda ordem considerados normais ou<br />
alterados pelos examinadores ................................................................................. 18<br />
ix
Lista de quadros e tabelas<br />
Quadro 1 Classificação dos valores de kappa adotados nesta pesquisa.............................. 13<br />
Tabela 1 Avaliação da concordância <strong>interobservador</strong> quanto à caracterização de<br />
afilamento da via biliar ................................................................................................... 14<br />
Tabela 2 Avaliação da concordância <strong>interobservador</strong> quanto à caracterização de<br />
estenose dos ductos biliares ........................................................................................ 14<br />
Tabela 3 Avaliação da concordância <strong>interobservador</strong> quanto à caracterização de<br />
dilatação dos ductos biliares......................................................................................... 15<br />
Tabela 4 Avaliação da concordância <strong>interobservador</strong> quanto à caracterização de<br />
irregularidade dos ductos biliares ................................................................................ 15<br />
Tabela 5 Avaliação da concordância <strong>interobservador</strong> quanto à caracterização de<br />
distorção da árvore biliar ............................................................................................... 16<br />
Tabela 6 Avaliação da concordância <strong>interobservador</strong> quanto à caracterização de<br />
qualquer alteração na via biliar .................................................................................... 16<br />
Tabela 7 Correlação entre a alteração da via biliar e a GGT sérica ...................................... 18<br />
x
% porcentagem<br />
2-D bidimensional<br />
3-D tridimensional<br />
CBP cirrose biliar primária<br />
Lista de abreviaturas e símbolos<br />
CEP colangite esclerosante primária<br />
cm centímetro<br />
CPRE colangiopancreatografia retrógrada endoscópica<br />
CPRM colangiopancreatografia por ressonancia magnética<br />
CTPH colangiografia transparieto-hepática<br />
<strong>DDI</strong> Departamento de Diagnóstico por Imagem<br />
DHD ducto hepático direito<br />
DHE ducto hepático esquerdo<br />
DP desvio-padrão<br />
FA fosfatase alcalina<br />
FSE fast spin-echo<br />
FISP fast imaging with steady state precession<br />
FLASH fast low angle shot<br />
g grama<br />
GGT gamaglutamiltransferase<br />
GRE gradiente eco<br />
HASTE half-Fourier single shot turbo spin echo<br />
IC intervalo de confiança<br />
κ kappa<br />
MAO monoamino-oxidase<br />
xi
mm milímetro<br />
mT/m militesla/metro<br />
OMS Organização Mundial da Saúde<br />
PC phase contrast<br />
RARE half-Fourier rapid acquisition with relaxation enhancement<br />
RM ressonância magnética<br />
SE spin-echo<br />
SS single shot<br />
SSFP steady-state free precession<br />
SSTSE single shot turbo spin-echo<br />
T1 tempo de relaxamento longitudinal<br />
T2 tempo de relaxamento transversal<br />
TC tomografia computadorizada<br />
TE tempo de eco<br />
TR tempo de repetição<br />
TRUFI TM true FISP (true fast imaging with steady state precession)<br />
TSE turbo spin eco<br />
<strong>UNIFESP</strong> Universidade Federal de São Paulo<br />
US ultrassonografia<br />
VIBE volume interpolated breath hold examination<br />
xii
Resumo<br />
Objetivos: Descrever as alterações das vias biliares intra e extra-hepáticas pela colangiografia por<br />
ressonância magnética (CPRM) na esquistossomose hepatesplênica. Avaliar a concordância<br />
<strong>interobservador</strong> da CPRM na detecção de colangiopatia esquistossomótica. Métodos: Foi<br />
realizado estudo prospectivo e transversal em 24 pacientes portadores de esquistossomose<br />
mansoni com a forma hepatesplênica, sem sinais clínico-laboratoriais de hepatopatias associadas<br />
e em seis pacientes sem doença hepática conhecida, como grupo controle, com avaliação da via<br />
biliar com colangiografia por ressonância magnética. Foram analisados os seguintes padrões de<br />
alteração da via biliar: distorção ou desarranjo, afilamento, estenose, dilatação e irregularidade. Foi<br />
calculada a concordância interobsevador na caracterização de alteração da via biliar e suas<br />
alterações utilizando-se o teste de McNemar e o índice Kappa. Foi também estudada a relação<br />
entre a ocorrência de alteração da via biliar com o nível serico da gamaglutamiltransferase.<br />
Resultados: A concordância <strong>interobservador</strong> na caracterização de distorção e afilamento da via<br />
biliar foi quase perfeira (k = 0,867; intervalo de confiança [IC] 95% [0,512 – 1,0] e k = 0,865; IC<br />
95% [0,51 – 1,0], respectivamente). Em relação às outras variáveis, a concordância foi substancial<br />
para a estenose (k = 0,78; IC 95% [0,424 – 1,0]), moderada para dilatação (k = 0,595; IC 95%<br />
[0,247 – 0,942]) e regular para afilamento (k = 0,229; IC 95% [0,095 – 0,552]). A concordância<br />
foi também substancial quando se considerou qualquer tipo de alteração da árvore biliar (k =<br />
0,722; IC 95% [0,364 – 1,0]) Conclusões: As alterações observadas nas vias biliares desses<br />
pacientes foram, em ordem decrescente de ocorrência: afilamento, distorção, estenose, dilatação e<br />
irregularidade. A concordância <strong>interobservador</strong> para sinais de colangiopatia esquistossomótica foi<br />
quase perfeita para distorção e afilamento e substancial para estenose.<br />
xiii
1 INTRODUÇÃO<br />
Dentre as doenças parasitárias que assolam o mundo, a esquistossomose<br />
constitui uma das predominantes, calculando-se em duzentos a trezentos milhões de<br />
pessoas atingidas em mais de setenta e quatro países. (1-10) São três os principais tipos<br />
de esquistossomose no mundo: a mansônica, a japônica e a hematóbia. No Brasil, a<br />
esquistossomose mansoni atinge uma população estimada entre oito a dezoito milhões<br />
de indivíduos infectados, distribuídos numa faixa endêmica que se estende do Rio<br />
(1, 5, 10-20)<br />
Grande do Norte até Minas Gerais.<br />
A esquistossomose mansoni desenvolve-se em três estágios: a penetração<br />
pela cercária, a esquistossomose aguda e a esquistossomose crônica. A<br />
esquistossomose crônica manifesta-se em duas formas anatomopatológicas e<br />
clinicamente distintas: a forma hepatointestinal e a hepatesplênica. A hepatesplênica<br />
representa a forma mais grave da doença, levando à hipertensão portal, à<br />
(21, 22)<br />
esplenomegalia e à circulação venosa porto-sistêmica colateral.<br />
Na forma crônica, contata-se uma preservação relativa da função hepática,<br />
cursando com um quadro de hipertensão portal, caracteristicamente independente da<br />
ocorrência de lesão hepatocelular. (23) No fígado, o substrato anatômico da doença, que<br />
leva à forma letal da esquistossomose mansoni com o quadro de hipertensão portal, é<br />
a extensa fibrose dos espaços periportais. Essa fibrose faz parte do processo de<br />
cicatrização que segue a reação inflamatória granulomatosa aguda, ao redor dos ovos<br />
de schistosoma aprisionados nos pequenos vasos hepáticos. (24-26)<br />
Um dos aspectos que tem chamado a atenção na patogênese da<br />
esquistossomose é o envolvimento secundário da via biliar pelo processo inflamatório<br />
(1, 19, 27)<br />
periportal.<br />
Em sua tese de doutorado, Ganc mostrou que as alterações portais<br />
decorrentes de diversas doenças crônicas hepáticas, se correlacionavam com<br />
alterações dos ductos biliares, dada a íntima relação dessas estruturas. (28) Nesse<br />
estudo, com o uso de colangiografia percutânea e pós-morte de fígados<br />
esquistossomóticos, foram observadas alterações da árvore biliar intra-hepática com<br />
características desarmônicas, distorções ductais, irregularidades das paredes,
impressões micronodulares, estenoses focais curtas e aumento do número de ângulos<br />
obtusos de ramos biliares. Além disso, nos estudos colangiográficos desses fígados,<br />
percebeu-se um enchimento ductal pobre, nas colangiografias pós-morte, e rico nas<br />
transparieto-hepáticas, inferindo diminuição da complacência hepática pelo processo<br />
fibrótico. Notou-se ainda um paralelismo entre as alterações observadas no sistema<br />
portal e no biliar. (28)<br />
Os métodos diagnósticos invasivos mais comumente utilizados para o estudo<br />
da árvore biliar são a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) e a<br />
colangiografia transparieto-hepática (CTPH). Mais recentemente a<br />
colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM) veio proporcionar imagens<br />
colangiográficas semelhantes às da CPRE, sem o inconveniente e as complicações de<br />
um procedimento invasivo, além disso, com a vantagem de se estudar o parênquima<br />
hepático, o sistema porta e outras alterações relacionadas à hipertensão portal. (29-31)<br />
Assim, as alterações das vias biliares puderam ser acessíveis por um método<br />
não invasivo, o que nos motivou buscar um melhor entendimento das alterações das<br />
vias biliares nos pacientes esquistossomóticos. Propomos validar o método de imagem,<br />
por meio da avaliação da concordância <strong>interobservador</strong> e analisar as principais<br />
alterações morfológicas percebidas nas vias biliares desses pacientes.<br />
2
1.1 Objetivos<br />
1. Descrever as alterações das vias biliares intra e extra-hepáticas na CPRM, mais<br />
frequentemente observadas, na esquistossomose hepatesplênica.<br />
2. Avaliar a concordância <strong>interobservador</strong> da CPRM, na detecção de colangiopatia<br />
esquistossomótica.<br />
3
2.1 Colangiopancreatografia por ressonância magnética<br />
4<br />
2 REVISÃO DA LITERATURA<br />
Desde sua descrição original, em 1991 a colangiopancreatografia por<br />
ressonância magnética (CPRM) tem sido reconhecida, cada vez mais, como método de<br />
imagem não invasivo de escolha para o estudo das vias biliares. Tem substituido a<br />
colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), sobretudo nos casos em que,<br />
inicialmente, uma intervenção endoscópica não é nem esperada nem desejada. (32,<br />
33) Isso ocorre pelo fato de a CPRE constituir um método invasivo, sujeito a<br />
complicações, sendo as mais comuns a pancreatite, a hemorragia, a colangite e a<br />
(32, 34)<br />
perfuração.<br />
A CPRM pode ser executada com uma variedade de sequências fortemente<br />
ponderadas em T2. Baseia-se na demonstração das estruturas anatômicas contendo<br />
fluidos estacionários (vesícula biliar, vias biliares e ductos pancreáticos) que se<br />
apresentam com hipersinal, enquanto as estruturas sólidas circunvizinhas e o sangue<br />
circulante se apresentam com hipossinal. O conteúdo, característicamente líquido<br />
contido nessas estruturas, serve assim como meio de contraste intrínseco e desta<br />
forma cria-se uma condição de imagem ideal para o seu estudo. (29)<br />
Desde a primeira utilização da CPRM, avanços técnicos têm sido empregados,<br />
com melhoria das imagens e, tanto a rapidez quanto a praticidade na aquisição das<br />
mesmas. Seqüências rápidas permitiram a visualização do sistema ductal<br />
pancreatobiliar, aplicando-se sequências em apnéia, além das já utilizadas sequências<br />
com sincronização respiratória. Outra vantagem da CPRM é a sua capacidade<br />
multiplanar, que possibilita conseguir imagens em qualquer plano espacial, facilitando a<br />
determinação mais exata da topografia de determinadas lesões biliares. (35) Pode-se<br />
utilizar uma variedade de sequências na CPRM. No início, foi usada a sequência spinecho<br />
(SE) convencional e, com o tempo, além de mudanças nela efetuadas, foram<br />
introduzidas outras como as fast spin-echo (FSE), tanto bidimensionais quanto<br />
tridimensionais (2D-FSE e 3D-FSE, respectivamente). Dessa forma, com o auxílio de<br />
programas utilizando-se de algoritmos de máxima intensidade de projeção, foi possível<br />
obter imagens em três dimensões, a partir do volume de imagens conseguido com as
sequências supracitadas. Outras sequências mais novas se seguiram como a steadystate<br />
free precession (SSFP) e a half-Fourier rapid acquisition with relaxation<br />
enhancement (RARE). Soma-se a essas técnicas com cortes múltiplos outra forma de<br />
aquisição de imagens por meio da utilização de sequências com um único corte de<br />
maior espessura (usualmente de 30 a 70 mm), aplicado no plano de interesse,<br />
adquirido em cerca de um a dois segundos, gerando uma imagem bidimensional da<br />
(29, 36, 37)<br />
árvore biliar.<br />
A acurácia da CPRM é comparável à da CPRE para a avaliação de<br />
coledocolitíase, obstrução maligna, pancreatite crônica e variantes anatômicas. Pode<br />
revelar anormalidades de segmentos de ductos biliares e também pancreáticos não<br />
visualizados pela CPRE nos casos em que há obstrução do fluxo do contraste, quando,<br />
então, o segmento distal ao ponto de obstrução não pode ser preenchido pelo<br />
mesmo. (38-41)<br />
Assim, pode-se afirmar que a CPRM revolucionou a forma do manejo do<br />
paciente com icterícia obstrutiva e tantos outros colangiopatas, no que concerne à<br />
possibilidade de um diagnóstico preciso dessas enfermidades, sem a necessidade de<br />
um procedimento invasivo com potenciais complicações, ou da exposição do paciente<br />
à radiação ionizante.<br />
2.2 Colangiopatia na esquistossomose mansoni<br />
Além das doenças que afetam, primariamente, os ductos biliares intrahepáticos,<br />
como por exemplo, a cirrose biliar primária e a colangite esclerosante, uma<br />
série de doenças inflamatórias hepáticas pode afetar, secundariamente, o sistema<br />
biliar, podendo ou não apresentar repercussão clínica.<br />
O nosso interesse para melhor entendimento das patologias das vias biliares<br />
se baseia na importância dessas estruturas e pela frequência com que observamos<br />
alterações nas mesmas. Esse fato se deve, principalmente, à alta sensibilidade das<br />
vias biliares às alterações inflamatórias porto-hepáticas adjacentes. (42)<br />
Há registros de que os ductos biliares intra-hepáticos são lesados, ou<br />
apresentam alterações morfológicas, no curso da esquistossomose mansoni, tanto<br />
5
experimental quanto humana. Em um estudo experimental com camundongos<br />
observou-se que os ductos biliares apresentavam resposta proliferativa, após a<br />
infecção esquistossomótica, desde sua fase precoce de infestação. Advertiu-se, ainda,<br />
que essa proliferação ductal não tinha desenvolvido regressão, mesmo dez semanas<br />
após o tratamento antiparasitário específico. Isso é um contraponto em relação a outras<br />
patologias biliares que cursam com hiperplasia ductal. Usualmente, há regressão após<br />
a eliminação do fator etiológico determinante. (42) Citamos como exemplo disso a cirrose<br />
biliar secundária à ligadura do ducto biliar principal em ratos, em que se nota regressão<br />
quase completa da fibrose e da hiperplasia ductal depois do restabelecimento da<br />
drenagem biliar. (43-45) Torna-se uma possível explicação para isso o fato de que,<br />
mesmo após o tratamento antiparasitário da esquistossomose mansoni, a persistência<br />
de vermes mortos em desintegração possa servir de estímulo inflamatório para a<br />
manutenção do processo.<br />
Em um estudo realizado em humanos portadores de esquistossomose<br />
mansoni, Vianna et al. acharam alterações indicadoras de lesão nos ductos biliares<br />
como fibrose periductal, hiperplasia de epitélio ductal, degeneração ductal e<br />
proliferação ductular marginal. Descobriram <strong>correlação</strong> entre a presença das variáveis<br />
“degeneração ductal” e “proliferação ductular” e a presença do parasita no<br />
hospedeiro. (46) Esses autores descreveram ainda sinais de aumento da secreção<br />
mucinosa nos ductos biliares, o que seria interpretado, inicialmente, como uma<br />
característica secundária à hiperplasia ductal.<br />
Dessa forma, os ductos biliares mostram uma resposta proliferativa diante das<br />
alterações inflamatórias circunvizinhas determinadas pelo S. mansoni nos espaços<br />
porta. Apesar dessas alterações serem bem evidentes histopatologicamente, elas<br />
ainda não têm significado funcional ou prognóstico conhecido. (42)<br />
Quanto às alterações morfológicas macroscópicas das vias biliares de<br />
pacientes esquistossomóticos, visualizadas por métodos de imagem, podemos<br />
mencionar a distorção ductal, as impressões nodulares, as irregularidades e as<br />
estenoses. (28)<br />
Diante do que já foi exposto, fundamentado pelas alterações morfológicas das<br />
vias biliarese e ainda validado pelas modificações enzimáticas frequentes nos<br />
6
pacientes estudados, podemos incluir a esquistossomose mansoni nas doenças<br />
colestáticas ditas ductopênicas.<br />
7
3.1 Casuística<br />
8<br />
3 MÉTODOS<br />
Entre fevereiro de 2005 e fevereiro de 2007, procedeu-se a estudo<br />
observacional e transversal para avaliar a via biliar por meio da CPRM, em 30<br />
pacientes, sendo 24 pacientes portadores de esquistossomose mansoni com a forma<br />
hepatesplênica e seis pacientes sadios tidos como grupo controle. Este estudo foi<br />
conduzido no Hospital São Paulo – Universidade Federal de São Paulo (<strong>UNIFESP</strong>). Os<br />
pacientes eram provenientes do serviço de Gastroenterologia Clínica e de<br />
Gastroenterologia Cirúrgica da <strong>UNIFESP</strong>. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de<br />
Ética em Pesquisa da <strong>UNIFESP</strong> (CEP 1667/05 – anexo 1). Obteve-se o consentimento<br />
informado de cada paciente. O grupo estudado foi composto por 17 homens e 13<br />
mulheres, com idade variável entre 23 e 72 anos e média de 40 anos (anexo 2).<br />
3.1.1 Critérios de inclusão<br />
Os critérios de inclusão foram:<br />
a) Idade acima de 18 anos;<br />
b) Paciente com diagnóstico de esquistossomose: biópsia retal ou forte evidência<br />
clínico-laboratorial (coproparasitológico positivo, padrão de fibrose periportal na US)<br />
(47, 48)<br />
e epidemiológica (contato com rios e lagoas em área endêmica);<br />
3.1.2 Critérios de não-inclusão<br />
Os critérios de não-inclusão foram:<br />
a) Paciente portador de outras hepatopatias crônicas detectadas por exames<br />
laboratoriais e investigação epidemiológica nas consultas iniciais;
) Paciente em uso continuado de fármacos previsivelmente hepatotóxicos;<br />
c) Paciente com sorologia positiva para as hepatites B e C;<br />
d) Paciente com ingestão > 160 g/semana de álcool;<br />
e) Pacientes com contraindicação ao exame de RM (marcapasso cardíaco, implante<br />
coclear, claustrofobia, clipe de aneurisma cerebral).<br />
3.1.3 Critérios de exclusão<br />
Os critérios de exclusão foram:<br />
a) Exames incompletos;<br />
b) Exames considerados de qualidade inadequada.<br />
3.2 Exames de Ressonância Magnética<br />
Todos os exames foram realizados em equipamento de alto campo operando<br />
em 1,5 Tesla e gradiente de 40 mT/m (Magnetom Symphony TM ; Siemens – Erlangen,<br />
Alemanha) com bobina de sinergia. No anexo 3, estão relacionadas as sequências de<br />
RM usadas nesta pesquisa e seus parâmetros técnicos. Foi estabelecido um jejum de<br />
seis a oito horas antes da realização dos exames.<br />
3.2.1 Padronização da análise dos exames de RM<br />
Os exames de RM foram interpretados por dois médicos radiologistas (JEMS e<br />
DCS), ambos com mais de dez anos de experiência em radiologia do abdome,<br />
denominados examinador 1 e 2, respectivamente. A avaliação dos exames de RM foi<br />
efetuada de forma independente e cega. Foram analisadas as sequências de imagem<br />
SSTSE e 3D TSE Restore. Avaliaram-se alterações das vias biliares por meio de<br />
critérios estabelecidos previamente, conforme discriminados no item abaixo.<br />
9
3.2.2 Alterações das vias biliares consideradas pela CPRM<br />
Foram consideradas as seguintes alterações das vias biliares:<br />
(49, 50)<br />
• Distorção e/ou desarranjo – desvio irregular dos trajetos dos ductos ou distribuição<br />
desarmônica dos mesmos.<br />
• Afilamento – estreitamento ou alongamento difuso de um ducto biliar.<br />
• Estenose – estreitamentos focais do calibre dos ductos.<br />
• Dilatação – aumento do calibre ductal quando comparado com segmentos<br />
adjacentes do mesmo nível.<br />
• Irregularidade – presença de saliências ou reentrâncias nas paredes dos ductos.<br />
Preferiu-se a sequência volumétrica para caracterização das pequenas<br />
alterações focais das vias biliares. As sequências SSTSE prestaram-se,<br />
predominantemente, para a caracterização de alterações na morfologia estrutural e<br />
distribuição das vias biliares (figura 4).<br />
A B<br />
Figura 1. Alterações observadas das vias biliares.<br />
A – Estenose (seta longa) e dilatação (seta curta); B – ditação focal.<br />
10
A<br />
B<br />
Figura 2. Alterações observadas das<br />
vias biliares.<br />
A – afilamento; B – irregularidade.<br />
11
A B<br />
Figura 3. Alterações observadas das vias biliares.<br />
A e B – afilamento e distorção de ductos de segunda ordem.<br />
A B<br />
Figura 4. Seqüência SSTSE mostrando árvore biliar considerada harmônica (A) e com distorção (B).<br />
3.3 Análise Estatística<br />
A concordância entre os observadores foi avaliada pelo teste McNemar e foram<br />
também calculados os índices Kappa (k) e o respectivo intervalo de confiança de 95%<br />
(IC 95%).<br />
12
O Kappa representa uma medida de concordância <strong>interobservador</strong> que avalia o<br />
grau de concordância além do que seria esperado tão somente pelo acaso. Esta<br />
medida de concordância tem como valor máximo o um, significando total concordância;<br />
os valores próximos e até abaixo de zero indicam nenhuma concordância, ou a<br />
concordância constituiu, exatamente, a esperada pelo acaso. Assim, quando temos,<br />
numa análise, indicação de que existe alguma concordância (k > 0), resta-nos ainda<br />
estabelecer quão significativa é essa concordância. Para o valor ou peso de kappa foi<br />
adotada a categorização de acordo com Landis e Koch:<br />
Quadro 1. Classificação dos valores de kappa adotados nesta pesquisa.<br />
Valores de kappa<br />
Interpretação<br />
< 0 Sem concordância<br />
0 – 0,20 Concordância fraca<br />
0,21 – 0,40 Concordância regular<br />
0,41 – 0,60 Concordância moderada<br />
0,61 – 0,80 Concordância substancial<br />
0,81 – 1,00 Concordância quase perfeita<br />
Fonte: Landis JR, Koch GG. ()<br />
A associação entre alteração da via biliar e GGT foi avaliada com o teste exato<br />
de Fisher.<br />
Os valores de p
4 RESULTADOS<br />
4.1 Avaliação da concordância <strong>interobservador</strong> nas alterações das vias biliares<br />
observadas pela CPRM<br />
Tabela 1 – AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA INTEROBSERVADOR QUANTO À<br />
CARACTERIZAÇÃO DE AFILAMENTO DA VIA BILIAR<br />
Examinador 1 Examinador 2<br />
sim não Total<br />
sim 12 2 14<br />
não 0 16 16<br />
Total 12 18 30<br />
Quanto à caracterização de afilametno da via biliar pela CPRM, houve<br />
concordância quase perfeita entre os observadores (k = 0,865; intervalo de confiança<br />
[IC] 95% [0,51 – 1,0]).<br />
Tabela 2 – AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA INTEROBSERVADOR QUANTO À<br />
CARACTERIZAÇÃO DE ESTENOSE DOS DUCTOS BILIARES<br />
Examinador 1 Examinador 2<br />
sim não Total<br />
sim 9 1 10<br />
não 2 18 20<br />
Total 11 19 30<br />
Quanto à caracterização de estenose da via biliar pela CPRM, houve<br />
concordância substancial entre os observadores (k = 0,78; IC 95% [0,424 – 1,0]).<br />
14
Tabela 3 – AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA INTEROBSERVADOR QUANTO À<br />
CARACTERIZAÇÃO DE DILATAÇÃO DOS DUCTOS BILIARES<br />
Examinador 1 Examinador 2<br />
sim não Total<br />
sim 6 1 7<br />
não 4 19 23<br />
Total 10 20 30<br />
Quanto à caracterização de dilatação da via biliar pela CPRM, houve<br />
concordância moderada entre os observadores (k = 0,595; IC 95% [0,247 – 0,942]).<br />
Tabela 4 – AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA INTEROBSERVADOR QUANTO À<br />
CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE DOS DUCTOS BILIARES<br />
Examinador 1 Examinador 2<br />
sim não Total<br />
sim 3 7 10<br />
não 2 18 20<br />
Total 5 25 30<br />
Quanto à caracterização de irregularidade da via biliar pela CPRM, houve<br />
concordância regular entre os observadores (k = 0,229; IC 95% [0,095 – 0,552]).<br />
15
Tabela 5 – AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA INTEROBSERVADOR QUANTO À<br />
CARACTERIZAÇÃO DE DISTORÇÃO DA ÁRVORE BILIAR<br />
Examinador 1 Examinador 2<br />
sim não Total<br />
sim 15 0 15<br />
não 2 13 15<br />
Total 17 13 30<br />
Quanto à presença de distorção da via biliar, os examinadores apresentaram<br />
uma concordância quase perfeita (k = 0,867; IC 95% [0,512 – 1,0]).<br />
Tabela 6 – AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA INTEROBSERVADOR QUANTO À<br />
CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER ALTERAÇÃO NA VIA BILIAR<br />
Examinador 1 Examinador 2<br />
sim não Total<br />
sim 10 2 12<br />
não 2 16 18<br />
Total 12 18 30<br />
De uma forma geral, considerando-se a presença ou ausência de qualquer tipo<br />
de alteração na árvore biliar, a concordância entre os examinadores foi substancial (k =<br />
0,722; IC 95% [0,364 – 1,0]).<br />
16
4.2 Frequência de alteração da via biliar considerada pelos examinadores, por<br />
segmento da árvore biliar<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
80%<br />
87%<br />
20%<br />
Não Sim<br />
alt_coledoco<br />
13%<br />
Examinador 1<br />
Examinador 2<br />
Figura 5: Frequência de alteração do hepatocolédoco considerada pelos examinadores.<br />
Na figura 5 demonstramos, por gráfico, a distribuição percentual de<br />
hepatocolédocos considerados como normais ou alterados, conforme avaliação de<br />
cada um dos examinadores.<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
47%<br />
47%<br />
53%<br />
Não Sim<br />
DHD/DHE<br />
53%<br />
Examinador 1<br />
Examinador 2<br />
Figura 6: Frequência de ductos hepáticos direito e esquerdo, considerados normais<br />
ou alterados pelos examinadores.<br />
17
Na figura 6 demonstramos, por meio de gráfico, o percentual de ductos<br />
hepáticos direito e esquerdo considerados normais e alterados conforme cada um dos<br />
examinadores.<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
17%<br />
11%<br />
83%<br />
89%<br />
Normal Alterado<br />
2 ordem<br />
Examinador 1<br />
Examinador 2<br />
Figura 7: Frequência de ductos de segunda ordem considerados normais ou<br />
alterados pelos examinadores.<br />
A figura 7 demonstra, por meio de gráfico, o percentual de ductos biliares de<br />
segunda ordem, considerados pelos examinadores com normais ou alterados.<br />
4.3 Correlação entre a presença de alteração na via biliar pela CPRM e a GGT<br />
sérica<br />
Tabela 7 – CORRELAÇÃO ENTRE A ALTERAÇÃO DA VIA BILIAR E A GGT SÉRICA<br />
alteração da via biliar GGT<br />
normal elevada Total<br />
não 0 2 2<br />
sim 9 7 16<br />
Total 9 9 18<br />
18
Utilizamos a leitura do examinador 2 para a <strong>correlação</strong> entre a presença de<br />
alteração na via biliar com ocorrência de elevação da GGT. O valor de p encontrado foi<br />
0,471, não sendo significante.<br />
19
20<br />
5 DISCUSSÃO<br />
O significado clínico das alterações dos ductos biliares em pacientes<br />
(27, 42)<br />
portadores de esquistossomose mansoni ainda não foi totalmente esclarecido.<br />
Consta, porém, que, em diversas outras patologias hepáticas, já foram<br />
descritos critérios prognósticos, classificatórios ou evolutivos relacionados com a<br />
presença ou ausência de alteração na árvore biliar. Como ilustração do que foi exposto,<br />
podemos citar a <strong>correlação</strong> entre alterações proliferativas e degenerativas dos ductos<br />
biliares e uma evolução clínica mais grave em pacientes portadores de hepatite B e C,<br />
ou ainda a ocorrência de epitélio biliar anormal na vigência de hepatite viral aguda<br />
grave e também a <strong>correlação</strong> de alterações de ductos biliares e a evolução para fibrose<br />
(42, 51, 52)<br />
em casos de hepatite C.<br />
Na prática clínica e no entendimento desta doença tão prevalente em nossa<br />
sociedade, há muito tempo se conhecem as alterações das vias biliares dos pacientes<br />
esquistossomóticos. (15, 28) Além disso, tais alterações não foram somente vistas em<br />
humanos, mas também já foram reproduzidas em estudos experimentais feitos com<br />
camundongos e coelhos. (42) Deve-se salientar que não apenas são frequentes, como<br />
também marcantes no estudo tanto, microscópico quanto macroscópico, dos ductos<br />
biliares comprometidos pela doença.<br />
Apesar de a esquistossomose mansoni se caracterizar por uma preservação<br />
relativa da função hepática, há alterações laboratoriais frequentes nesses pacientes,<br />
(1, 10, 27)<br />
como a elevação de enzimas colestáticas no curso da doença.<br />
Colestase consiste no conjunto de eventos clínicos e biológicos relacionados<br />
com a secreção biliar anormal, responsável por um aumento da concentração, no<br />
sangue, de moléculas normalmente secretadas na bile. (53) A esquistossomose não se<br />
caracteriza pela presença de colestase strictu sensu, evoluindo, na sua forma pura,<br />
sem o aparecimento de icterícia ou prurido. (27) Vale enfatizar que a elevação de<br />
enzimas colestáticas em pacientes esquistossomóticos foi observada tanto na forma<br />
hepatesplênica quanto na forma hepatointestinal. (1)<br />
Há evidências de que a GGT apresenta maior sensibilidade para detecção da<br />
colestase em relação a outra enzima marcadora, a fosfatase alcalina (FA). (54) Isso pode<br />
ser causado pelo fato de a GGT originar-se, primariamente, de células biliares e da FA
ser uma enzima presente predominantemente na membrama plasmática do hepatócito,<br />
assim, o aumento da GGT traduziria inicialmente um obstáculo ao fluxo biliar. Outro<br />
estudo mencionou que a elevação da GGT não se correlaciona com a carga parasitária<br />
da doença ou ainda com a sua característica ultrassonográfica, inclusive estas a<br />
(1, 55)<br />
precedem.<br />
A GGT sérica ativa origina-se, primariamente, no fígado. Consideram-se como<br />
as principais causas da sua elevação a própria colestase e a estimulação crônica do<br />
sistema microssomal (ocasionada pela indução e liberação da GGT da fração<br />
microssomal do hepatócito). (54) Em pacientes portadores da forma hepatointestinal da<br />
esquistossomose, a causa microssomal já foi afastada, mas não o foi da forma<br />
hepatesplênica. (56)<br />
Em outro trabalho, sugeriu-se que a avaliação da GGT associada à da<br />
monoamino-oxidase (MAO) possibilitaria diferenciar bioquimicamente entre as formas<br />
de infecção precoce e crônica pelo Schistosoma mansoni. (57)<br />
Aparentemente, o mecanismo da elevação da GGT na esquistossomose é<br />
distinto daquele da hepatopatia alcoólica. Assim, como observado na cirrose biliar<br />
primária, a elevação da GGT na esquistossomose mansoni responde à terapia com o<br />
ácido ursodeoxicólico. (55)<br />
Em um estudo com o uso da colangiografia percutânea em pacientes vivos,<br />
colangiografia pós-morte e moldes de “vinilite” de fígados normais e com patologias<br />
diversas, Ganc percebeu, nos fígados esquistossomóticos, alterações da árvore biliar<br />
intra-hepática com características desarmônicas, distorções ductais, irregularidades<br />
das paredes, impressões micronodulares, estenoses focais curtas e aumento do<br />
número de ângulos obtusos de ramos biliares. Além disso, observou um enchimento<br />
ductal pobre nas colangiografias pós-morte e rico nas transparieto-hepáticas, inferindo<br />
aumento da resistência ou diminuição da complacência das vias biliares/tecido peribiliar<br />
nesses pacientes, decorrente do processo fibrótico de base. Notou ainda um<br />
paralelismo entre as alterações do sistema portal e as do biliar. (28) Esse paralelismo<br />
deve-se à alta sensibilidade das vias biliares às alterações inflamatórias de tecidos<br />
vizinhos. O processo inicia-se pela formação de granulomas que se desenvolvem a<br />
partir de ovos de Schistoma mansoni depositados no espaço portal. Nessa primeira<br />
etapa o espaço portal encontra-se alargado por edema e um infiltrado celular com<br />
21
predomínio de eosinófilos, linfócitos e macrófagos. Na fase crônica, o espaço portal<br />
(19, 42)<br />
apresenta-se alargado pela fibrose, além de granulomas periovulares.<br />
As alterações biliares descritas por Ganc não foram encontradas<br />
exclusivamente na esquistossomose mansoni, mas também em outras doenças<br />
hepáticas fibronodulares, a citar, a cirroses hepáticas de etiologias variadas, a hepatite<br />
crônica ativa e a colangite esclerosante. (28)<br />
Foram descritas alterações de ductos biliares em cobaias submetidas à<br />
infecção por Schistosoma mansoni, caracterizadas por graus variáveis de hiperplasia<br />
ductal, por vezes com sinais de aumento de secreção mucinosa. (19, 42) A fibrose, na<br />
fase crônica, determina alterações mecânicas sobre os ductos biliares, relacionadas<br />
com as forças compressivas e retráteis características dessa alteração histológica.<br />
Assim, já foi proposto que, alterações da árvore biliar secundárias à fibrose<br />
periportal da forma crônica da esquistossomose mansoni poderiam servir de base<br />
anatômica para o estabelecimento da colestase. (27, 28, 56) Desse modo, levanta-se a<br />
possibilidade da <strong>correlação</strong> do mecanismo de elevação da GGT com a presença de<br />
alteração da via biliar observada nesses pacientes.<br />
Sabemos, no entanto, que outras características clínicas da esquistossomose<br />
também podem estar relacionadas com as alterações enzimáticas descritas acima. Em<br />
um estudo com o uso da ultrassonografia Doppler em pacientes esquistossomóticos<br />
Alves et al. acharam uma <strong>correlação</strong> positiva entre o fluxo sanguíneo na veia porta e os<br />
níveis séricos da GGT. (10) Aventaram a hipótese de que a congestão hepática,<br />
relacionada com o regime de maior fluxo e pressão no sistema porta, também<br />
influenciaria a colestase. Devemos relembrar a possibilidade da causa microssomal,<br />
ainda não totalmente afastada, da elevação da GGT nos pacientes esquistossomóticos<br />
com a forma hepatesplênica da doença. (56)<br />
Do ponto de vista morfológico das alterações das vias biliares, pode haver uma<br />
associação de fatores causais determinantes, a citar: a própria fibrose, alteração<br />
marcante e característica da doença, as alterações microscópicas intrínsecas dos<br />
ductos biliares e ainda os efeitos mecânicos exercidos pelos vasos portais ectasiados<br />
sobre a via biliar adjacente. A possibilidade da causa intrínseca microscópica como<br />
fator determinante na elevação da GGT explicaria, por exemplo, o fato da elevação<br />
dessa enzima preceder as alterações morfológicas macroscópicas observadas pela<br />
22
CPRE (27) ou não se correlacionar diretamente com as alterações ultrassonográficas<br />
observadas nesses fígados. (1)<br />
Os aspectos clínicos da elevação da GGT na esquistossomose já foram<br />
abordados por Brant et al., num outro trabalho, partindo do mesmo projeto de pesquisa<br />
que este nosso. (27) O propósito deste trabalho foi a validação do método de imagem<br />
utilizado para a visualização das alterações biliares.<br />
Diversos trabalhos já estabeleceram a eficácia da CPRM para o estudo das<br />
vias biliares, apontando este método diagnóstico como alternativa à CPRE, quando não<br />
se vislumbra terapia adjuvante. (35, 58, 59) Não dispúnhamos porém, de dados que<br />
validassem o uso da CPRM para as alterações das vias biliares observadas na<br />
esquistossomose mansoni, ou ainda, que avaliassem a reprodutibilidade do método no<br />
estudo desta doença.<br />
Diante da frequência com que ocorrem as alterações das vias biliares nos<br />
pacientes esquistossomóticos e da alta prevalência desta doença na nossa população,<br />
validado ainda pela presença de um quadro colestático ainda não bem compreendido<br />
clinicamente, faz-se necessário o estabelecimento de um método minimamente<br />
invasivo, preciso, confiável e reprodutível para o estudo da via biliar destes pacientes.<br />
Assim, procuramos, neste trabalho, reproduzir as alterações das vias biliares<br />
de pacientes esquistossomóticos descritas previamente pela colangiografia<br />
convencional, com o uso da CPRM. Para saber se uma dada<br />
caracterização/classificação de um objeto é confiável, é necessário tê-lo caracterizado<br />
ou classificado várias vezes, por exemplo, por mais de um juiz. Assim, com a finalidade<br />
de estabelecer critérios de confiabilidade da CPRM especificamente nesta doença,<br />
propusemos realizar a análise dos resultados pela concordância <strong>interobservador</strong>.<br />
Não podemos deixar de considerar o fato de a CPRM apresentar uma menor<br />
acurácia, em relação às colangiografias convencionais, para o estudo das vias biliares<br />
intra-hepáticas de calibre normal ou reduzido. Sabemos que isso se dá principalmente<br />
devido à sua limitação quanto à resolução espacial e à relação sinal-ruído. Essa<br />
limitação prejudicaria especialmente a avaliação de patologias ditas ductopênicas. A<br />
introdução de novas tecnologias, como o equipamento de ressonância magnética com<br />
campo magnético de 3 T veio melhorar estes parâmetros técnicos e portanto aventar a<br />
possibilidade de aumentar a sua acurácia. (33) Outro fator que deve ser considerado é o<br />
23
fato de a colangiografia convencional e a colangiografia pós-morte (esta realizada no<br />
trabalho de Ganc), trabalharem com a injeção de contraste sob pressão na via biliar, (60,<br />
61)<br />
ao contrário da CPRM, que gera imagens da via biliar sob pressão normal.<br />
Assim, na avaliação morfológica dessas vias biliares por meio da CPRM, nós<br />
optamos por considerar um número menor de variáveis comparativamente àquelas<br />
inicialmente propostas por Ganc e limitamos ainda o estudo até o nível das vias biliares<br />
de terceira ordem.<br />
Houve certa dificuldade quanto à visualização de ductos biliares de terceira<br />
ordem. Isso dificultou a análise estatística quanto à concordância entre a presença ou<br />
ausência de alteração neste segmento da árvore biliar em decorrência da inconstância<br />
das alterações encontradas pelos examinadores.<br />
Contudo, não houve dificuldade, tanto na visualização quanto na<br />
caracterização de alteração no hepatocolédoco, nos ductos hepáticos direito e<br />
esquerdo e nos ductos biliares de segunda ordem.<br />
As alterações patológicas observadas nestes segmentos da via biliar foram,<br />
como já exposto, distorção da árvore biliar, afilamento, estenose, dilatação e<br />
irregularidade dos contornos dos ductos.<br />
A concordância entre os observadores na caracterização de distorção da<br />
árvore biliar e de afilamento de ductos biliares foi quase perfeita. Quanto à definição de<br />
estenose de ductos biliares a concordância <strong>interobservador</strong> foi substancial.<br />
Finalmente, a concordância <strong>interobservador</strong> foi moderada na visualização de dilatação<br />
e regular para irregularidade dos ductos biliares. Não houve <strong>correlação</strong> entre a<br />
presença de alteração da via biliar com a GGT.<br />
As alterações encontradas nas vias biliares dos pacientes esquistossomóticos<br />
pela CPRM foram ainda concordantes com aquelas pioneiramente descritas por Ganc,<br />
por meio da colangiopancreatografia percutânea e pela colangiografia pós-morte,<br />
validando este método para o estudo das vias biliares secundariamente comprometidas<br />
pela esquistossomose mansoni.<br />
24
25<br />
6 CONCLUSÕES<br />
1. As alterações observadas nas vias biliares desses pacientes foram, em ordem<br />
decrescente de ocorrência: afilamento de ductos biliares, distorção, estenose, dilatação<br />
e irregularidade.<br />
2. A concordância <strong>interobservador</strong> de sinais de colangiopatia esquistossomótica pela<br />
CPRM foi, quase perfeita, para a caracterização de distorção e afilamento da árvore<br />
biliar e, substancial, para detecção de estenose.
Anexo 1. Parecer do comitê de ética institucional.<br />
Parte A -<br />
26<br />
7 ANEXOS
Parte B –<br />
27
Anexo 2. Quadro de pacientes incluídos na pesquisa e leitura dos exames de CPRM realizadas pelos<br />
examinadores 1 e 2.<br />
Parte A – Pacientes que realizaram exames de CPRM e as alterações colangiográficas observadas pelo<br />
examinador 1<br />
N o<br />
NOME ID SX Vis col Alt col<br />
Vis<br />
DHD<br />
Alt<br />
DHD<br />
Vis<br />
DHE<br />
Alt DHE<br />
Vis 2<br />
ord<br />
Alt 2<br />
ord<br />
Vis 3<br />
ord<br />
Alt 3<br />
ord<br />
distorção<br />
1 ASF 48 M sim afilam sim afilam sim nl sim afilam não - sim<br />
2 BRS 52 F sim nl sim nl sim est sim est/irg sim irg sim<br />
3 CJN 42 M sim nl sim afilam sim afilam sim afilam não - sim<br />
4 CMS 25 F sim nl sim nl sim nl sim nl sim afilam não<br />
5 CS 23 F sim nl sim irg sim nl sim afilam sim afilam sim<br />
6 DPC 42 M sim nl sim afilam sim est sim nl sim afilam sim<br />
7 EPS 33 M sim nl sim afilam sim nl não - não - não<br />
8 ERA 37 F sim nl sim irg sim est/dil sim est/dil sim afilam sim<br />
9 FVA 56 M sim est/dil sim nl sim nl sim est/irg sim afilam sim<br />
10 IMF 40 F sim nl sim afilam sim nl sim dil/est sim afilam sim<br />
11 JMS 33 M sim nl sim nl sim nl sim nl não - não<br />
12 LS 46 F sim nl sim afilam sim nl sim nl sim afilam não<br />
13 MAC 49 F sim nl sim afilam sim nl sim afilam não - não<br />
14 MAM 72 M sim nl sim nl sim nl sim nl não - não<br />
15 MC 30 F sim irg sim afilam sim est/irg sim irg sim afilam sim<br />
16 MMO 47 F sim irg sim nl sim nl sim nl sim nl não<br />
17 MLS 44 F sim nl sim afilam sim irg sim dil/est não - sim<br />
18 MPQ 33 F sim nl sim nl sim nl sim afilam não - sim<br />
19 OFO 58 M sim nl sim nl sim nl sim afilam não - não<br />
20 RLL 50 M sim nl sim nl sim nl sim nl sim afilam não<br />
21 SCS 34 F sim est/dil sim est/dil sim irg sim nl sim nl sim<br />
22 TS 57 F sim nl sim afilam sim irg sim est/dil não - sim<br />
23 WCTR 34 M sim nl sim afilam sim nl sim afilam não - sim<br />
24 WS 39 M sim dil/est sim irg sim nl sim nl sim afilam sim<br />
25 GMO 28 M sim nl sim nl sim nl sim nl sim nl não<br />
26 JCSB 31 M sim nl sim nl sim nl sim nl sim afilam não<br />
27 BHS 33 M sim nl sim nl sim nl sim nl sim afilam não<br />
28 DMS 34 M sim nl sim nl sim nl sim afilam sim afilam não<br />
29 GTS 31 M sim nl sim nl sim nl sim nl sim nl não<br />
30 MS 27 M sim nl sim nl sim nl sim nl sim nl não<br />
28
Parte B – Pacientes que realizaram exames de CPRM e as alterações colangiográficas observadas pelo<br />
examinador 2<br />
N o<br />
NOME ID SX Vis col Alt col<br />
Vis<br />
DHD<br />
Alt DHD<br />
Vis<br />
DHE<br />
Alt DHE<br />
Vis 2<br />
ord<br />
Alt 2<br />
ord<br />
Vis 3<br />
ord<br />
Alt 3<br />
ord<br />
distorção<br />
1 ASF 48 M sim afilam sim afilam sim nl sim afilam não - sim<br />
2 BRS 52 F sim nl sim nl sim nl sim est/dil sim afilam sim<br />
3 CJN 42 M sim nl sim afilam sim afilam não - não - sim<br />
4 CMS 25 F sim nl sim nl sim nl sim nl sim afilam não<br />
5 CS 23 F sim nl sim dil/est sim dil/est sim afilam não - sim<br />
6 DPC 42 M sim nl sim afilam sim est sim est/dil sim afilam sim<br />
7 EPS 33 M sim nl sim afilam sim nl não - não - não<br />
8 ERA 37 F sim nl sim nl sim est/dil sim est/dil sim afilam sim<br />
9 FVA 56 M sim est/dil sim est/dil sim est/dil sim est/dil sim afilam sim<br />
10 IMF 40 F sim nl sim afilam sim nl sim dil/est sim afilam sim<br />
11 JMS 33 M sim nl sim nl sim nl sim irg não - não<br />
12 LS 46 F sim nl sim afilam sim nl sim nl não - não<br />
13 MAC 49 F sim nl sim afilam sim nl sim afilam não - não<br />
14 MAM 72 M sim nl sim nl sim nl sim nl não - não<br />
15 MC 30 F sim nl sim nl sim irg sim irg não - sim<br />
16 MMO 47 F sim nl sim nl sim nl sim nl sim afilam não<br />
17 MLS 44 F sim nl não - sim irg sim dil/est não - sim<br />
18 MPQ 33 F sim nl sim afilam sim est/dil não - não - sim<br />
19 OFO 58 M sim nl sim nl sim nl sim afilam não - não<br />
20 RLL 50 M sim nl sim nl sim nl sim nl sim nl não<br />
21 SCS 34 F sim est/dil sim est/dil sim est/dil sim nl sim afilam sim<br />
22 TS 57 F sim nl sim afilam sim dil sim dil/est não - não<br />
23 WCTR 34 M sim nl sim nl sim nl sim afilam não - sim<br />
24 WS 39 M sim dil/est sim dil/est sim nl sim nl sim afilam sim<br />
25 GMO 28 M sim nl sim nl sim nl sim nl sim afilam não<br />
26 JCSB 31 M sim nl sim nl sim nl sim nl sim afilam não<br />
27 BHS 33 M sim nl sim nl sim nl sim nl não - não<br />
28 DMS 34 M sim nl sim nl sim nl sim nl sim afilam não<br />
29 GTS 31 M sim nl sim nl sim nl sim nl sim nl não<br />
30 MS 27 M sim nl sim nl sim nl sim nl sim nl não<br />
NOME – Iniciais do paciente<br />
ID – Idade do paciente em anos na época do exame<br />
SEXO – Sexo do paciente<br />
VIS COL – visualização do colédoco<br />
ALT COL – alteração do colédoco<br />
VIS DHD – visualização do ducto hepático direito<br />
ALT DHD – alteração do ducto hepático direito<br />
VIS DHE – visualização do ducto hepático esquerdo<br />
ALT DHE – alteração do ducto hepático esquerdo<br />
VIS 2 ORD – visualização de ducto biliar de segunda ordem<br />
ALT 2 ORD – alteração de ducto biliar de segunda ordem<br />
VIS 3 ORD – visualização de ducto biliar de terceira ordem<br />
ALT 3 ORD – alteração de ducto biliar de terceira ordem<br />
Afilam – afilamento<br />
Est – estenose<br />
Dil – dilatação<br />
Irg – irregularidade<br />
29
Anexo 3. Seqüências de RM utilizadas na pesquisa.<br />
Parte A – Parâmetros técnicos utilizados nas seqüências de rotina.<br />
Seqüência<br />
FLASH – em<br />
fase e fora de<br />
fase<br />
T2 TSE<br />
T2* GRE<br />
(FISP)<br />
T2 HASTE<br />
3D VIBE pré e<br />
pós- contraste<br />
SSTSE<br />
3D TSE<br />
Restore<br />
TR (ms) 173 1670 20 900 5,45 4500 1500<br />
TE (ms) 2,38/5,0 86/173 4/9 87 2,59 992 681<br />
Ângulo de inclinação ( o ) 70 90 20 180 30 150 170<br />
Número de excitações 1 2 1 1 1 1<br />
2D/3D 2D 2D 2D 2D 3D 2D 3D<br />
Espessura (mm) 8 8 8 5 2,5 40 1,5<br />
Espaçamento 2 0,8 0,8 0,5 0 0 0,75<br />
Campo de visão 350 350 350 350 350 350 380<br />
Número de cortes 30 30 30 30 1 1 40<br />
Orientação Axial Axial Axial Coronal Volumétrico Coronal Coronal<br />
Tempo de aquisição (s) 48 194 27 20 4,5 1,32<br />
Fase/Freqüência 134/256 144/320 195/256 134/256 410/512 384/384<br />
Campo de visão<br />
retangular<br />
75% 75% Não 75% Não<br />
Saturação de gordura Não Sim Não Não Sim Sim Não<br />
Pré-saturação Não Não Não Não Não Não Não<br />
Fourier parcial Não Não Não Sim Não Sim Não<br />
Bobina<br />
Torso em<br />
arranjo de<br />
fase<br />
Torso em<br />
arranjo de<br />
fase<br />
Torso em<br />
arranjo de<br />
fase<br />
Torso em<br />
arranjo de<br />
fase<br />
Torso em<br />
arranjo de<br />
fase<br />
Torso em<br />
arranjo de<br />
fase<br />
Não<br />
30<br />
Torso em<br />
arranjo de<br />
fase<br />
Número de medidas/repetições 2 4 1 1 1 1<br />
Circuito de disparo por<br />
ECG<br />
Não Não Não Não Não Não<br />
Não<br />
Compensação respiratória Não Sim Não Não Não Não Sim<br />
Ordem (Cobertura do espaço K) Padrão Padrão Padrão half-Fourier half-Fourier Padrão<br />
Disparo Múltiplo Múltiplo Múltiplo Múltiplo Múltiplo Simples Múltiplo<br />
Comprimento do trem de eco Fast 11 195 Fast 410 129<br />
Largura de banda<br />
(Hz/pixel)<br />
380 252 391 250 140<br />
Apnéia Sim Não Não Sim Sim Sim Não<br />
FLASH: fast low angle shot; TSE: turbo spin eco; GRE: gradiente-eco; FISP: fast imaging with steady state precession; HASTE:<br />
half-Fourier single shot turbo spin echo; VIBE: volume interpolated breath hold examination; SS: single shot; TR: tempo de<br />
repetição; TE: tempo de eco; ECG: eletrocardiograma.<br />
250
31<br />
8 REFERÊNCIAS<br />
1. Amaral AC, de Aguiar LA, Souza MR, de Toledo CF, Borges DR. [Serum gammaglutamyltransferase<br />
alteration in hepatic schistosomiasis doesn't correlate with<br />
parasitic load and precedes ultrasound alterations]. Arq Gastroenterol 2002;39:27-<br />
31.<br />
2. Bialasiewicz AA, Hassenstein A, Schaudig U. Subretinal granuloma, retinal<br />
vasculitis and keratouveitis with secondary open-angle glaucoma in<br />
schistosomiasis. Ophthalmologe 2001;98:972-975.<br />
3. Chitsulo L, Loverde P, Engels D. Schistosomiasis. Nat Rev Microbiol 2004;2:12-13.<br />
4. Eltoum IA, Taha TE, Saad AM, Suliman SM, Bennett JL, Nash TE, Homeida MM.<br />
Predictors of upper gastrointestinal bleeding in patients with schistosomal periportal<br />
fibrosis. Br J Surg 1994;81:996-999.<br />
5. Evangelista Neto J, Pereira FF, França ST, Amaral FJ, Brandt CT, Lacerda CM.<br />
Esplenectomia e ligadura da veia gástrica esquerda na esquistossomose<br />
mansônica: efeitos sobre a pressão das varizes do esôfago e os indicadores<br />
endoscópicos de risco de sangramento por varizes esofagogástricas. An Fac Med<br />
Univ Fed Pernamb 2004;49:23-33.<br />
6. Hatz CF. The use of ultrasound in schistosomiasis. Adv Parasitol 2001;48:225-284.<br />
7. Lima CA, Cavalcanti AC, Lima MM, Piva N. Pseudoneoplastic lesion of the breast<br />
caused by Schistosoma mansoni. Rev Soc Bras Med Trop 2004;37:63-64.<br />
8. Morales-Montor J, Mohamed F, Damian RT. Schistosoma mansoni: the effect of<br />
adrenalectomy on the murine model. Microbes Infect 2004;6:475-480.<br />
9. Souza MR, Toledo CF, Borges DR. Thrombocytemia as a predictor of portal<br />
hypertension in schistosomiasis. Dig Dis Sci 2000;45:1964-1970.<br />
10. Alves A, Jr., Fontes DA, de Melo VA, Machado MC, Cruz JF, Santos EA.<br />
[Schistosomal portal hypertension: influence of the portal blood flow in serum levels<br />
of hepatic enzymes]. Arq Gastroenterol 2003;40:203-208.
11. Borges DR. Etiopatogenia das alteraçöes de testes plasmáticos da hemostasia na<br />
forma hepatesplênica da esquistossomose mansoni. GED Gastroenterol Endosc<br />
Dig 1995;14:251-253.<br />
12. Brandt FT, Albuquerque CD, Brandt CT, Lorenzato FR, Leal CR, Barbosa CD,<br />
Nobrega LV. Varicoceles in adolescents and young adults after surgery for<br />
hepatosplenic schistosomiasis. Urol Int 2003;71:373-376.<br />
13. Cleva R, Pugliese V, Zilberstein B, Saad WA, Pinotti HW, Laudanna AA. Estado<br />
hiperdinamico sistemico na forma hepatoesplenica da esquistossomose<br />
mansonica. Rev Hosp Clin Fac Med Univ Sao Paulo 1998;53:6-10.<br />
14. Ferraz AA, Bacelar TS, Silveira MJ, Coelho AR, Camara Neto RD, de Araujo Junior<br />
JG, Ferraz EM. Surgical treatment of schistosomal portal hypertension. Int Surg<br />
2001;86:1-8.<br />
15. de Oliveira-e-Silva A, D'Albuquerque LA. [Hepatosplenic schistosomiasis mansoni:<br />
a tragic disease]. Arq Gastroenterol 2003;40:201-202.<br />
16. Pereira LM, Domingues AL, Spinelli V, McFarlane IG. Ultrasonography of the liver<br />
and spleen in Brazilian patients with hepatosplenic schistosomiasis and cirrhosis.<br />
Trans R Soc Trop Med Hyg 1998;92:639-642.<br />
17. Petroianu A, De Oliveira AE, Alberti LR. Hypersplenism in schistosomatic portal<br />
hypertension. Arch Med Res 2005;36:496-501.<br />
18. Raia S, Massarollo PCB, Mellendez HEV. Tratamento cirúrgico da hipertensão<br />
portal na esquistossomose mansônica: estado atual da questão. Rev Med São<br />
Paulo 1992;71:108-113.<br />
19. da Silva LC, Vianna MR, Abrantes CP, Lima DM, Falavigna AL, Antonelli-Cardoso<br />
RH, Gallucci SD, et al. Liver morphology with emphasis on bile ducts changes and<br />
survival analysis in mice submitted to multiple Schistosoma mansoni infections and<br />
chemotherapy. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 1990;32:328-337.<br />
20. Silva-Neto Wde B, Cavarzan A, Herman P. Intra-operative evaluation of portal<br />
pressure and immediate results of surgical treatment of portal hypertension in<br />
schistosomotic patients submitted to esophagogastric devascularization with<br />
splenectomy. Arq Gastroenterol 2004;41:150-154.<br />
32
21. Mahmoud AAF: Schistosomiasis and other trematode infections. In: Kasper DL,<br />
Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jamerson JL, eds. Harrison’s<br />
principles of internal medicine. 16 ed. New York: McGraw-Hill, 2005; 1266-1272.<br />
22. Bogliolo L. [Schistosomiasis mansoni. Pathology.]. Rev Bras Malariol Doencas Trop<br />
1959;11:359-424.<br />
23. Camacho-Lobato L, Borges DR. Early liver dysfunction in schistosomiasis. J<br />
Hepatol 1998;29:233-240.<br />
24. Mohamed-Ali Q, Elwali NE, Abdelhameed AA, Mergani A, Rahoud S, Elagib KE,<br />
Saeed OK, et al. Susceptibility to periportal (Symmers) fibrosis in human<br />
schistosoma mansoni infections: evidence that intensity and duration of infection,<br />
gender, and inherited factors are critical in disease progression. J Infect Dis<br />
1999;180:1298-1306.<br />
25. Sleigh AC, Mott KE, Hoff R, Barreto ML, Mota EA, Maguire JH, Sherlock I, et al.<br />
Three-year prospective study of the evolution of Manson's schistosomiasis in northeast<br />
Brazil. Lancet 1985;2:63-66.<br />
26. Gryseels B, Polderman AM, Engels D. Experiences with the control of<br />
schistosomiasis mansoni in two foci in central Africa. Mem Inst Oswaldo Cruz<br />
1992;87 Suppl 4:187-194.<br />
27. Brant PE, Kopke-Aguiar L, Shigueoka DC, Sales D, D'Ippolito G, Kouyoumdjian M,<br />
Borges DR. Anicteric cholangiopathy in schistosomiasis patients. Acta Trop 2008.<br />
28. Ganc AJ. As alteraçoes do sistema bilífero intra-hepático: correlaçao anátomoradiológica.<br />
Sao Paulo: Escola Paulista de Medicina; 1974.<br />
29. Szejnfeld J. Comparação da Colangiopancreatografia por Ressonância Magnética<br />
(CPRM) e por Endoscopia Retrógrada (CPER) em Pacientes com Suspeita de<br />
Doenças Biliares ou Pancreáticas. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo;<br />
1999.<br />
30. Fulcher AS. Magnetic resonance cholangiopancreatography: is it becoming the<br />
study of choice for evaluating obstructive jaundice? J Clin Gastroenterol<br />
2004;38:839-840.<br />
31. Fulcher AS, Turner MA. MR cholangiopancreatography. Radiol Clin North Am<br />
2002;40:1363-1376.<br />
33
32. Wallner BK, Schumacher KA, Weidenmaier W, Friedrich JM. Dilated biliary tract:<br />
evaluation with MR cholangiography with a T2-weighted contrast-enhanced fast<br />
sequence. Radiology 1991;181:805-808.<br />
33. Merkle EM, Haugan PA, Thomas J, Jaffe TA, Gullotto C. 3.0- Versus 1.5-T MR<br />
cholangiography: a pilot study. AJR Am J Roentgenol 2006;186:516-521.<br />
34. Masci E, Toti G, Mariani A, Curioni S, Lomazzi A, Dinelli M, Minoli G, et al.<br />
Complications of diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective multicenter study.<br />
Am J Gastroenterol 2001;96:417-423.<br />
35. Valls C, Ruiz S, Martinez L. [Magnetic resonance cholangiography: has it met<br />
expectations?]. Cir Esp 2007;81:167-169.<br />
36. Fulcher AS, Turner MA, Capps GW. MR cholangiography: technical advances and<br />
clinical applications. Radiographics 1999;19:25-41; discussion 41-24.<br />
37. Morita S, Ueno E, Suzuki K, Machida H, Fujimura M, Kojima S, Hirata M, et al.<br />
Navigator-triggered prospective acquisition correction (PACE) technique vs.<br />
conventional respiratory-triggered technique for free-breathing 3D MRCP: an initial<br />
prospective comparative study using healthy volunteers. J Magn Reson Imaging<br />
2008;28:673-677.<br />
38. Lee MG, Lee HJ, Kim MH, Kang EM, Kim YH, Lee SG, Kim PN, et al. Extrahepatic<br />
biliary diseases: 3D MR cholangiopancreatography compared with endoscopic<br />
retrograde cholangiopancreatography. Radiology 1997;202:663-669.<br />
39. Soto JA, Barish MA, Yucel EK, Siegenberg D, Ferrucci JT, Chuttani R. Magnetic<br />
resonance cholangiography: comparison with endoscopic retrograde<br />
cholangiopancreatography. Gastroenterology 1996;110:589-597.<br />
40. Hintze RE, Adler A, Veltzke W, Abou-Rebyeh H, Hammerstingl R, Vogl T, Felix R.<br />
Clinical significance of magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP)<br />
compared to endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP). Endoscopy<br />
1997;29:182-187.<br />
41. Leyendecker JR, Elsayes KM, Gratz BI, Brown JJ. MR cholangiopancreatography:<br />
spectrum of pancreatic duct abnormalities. AJR Am J Roentgenol 2002;179:1465-<br />
1471.<br />
34
42. Oliveira L, Andrade ZA. Significance of bile-duct changes in schistosomiasis. Rev<br />
Soc Bras Med Trop 2005;38:464-468.<br />
43. Alpini G, McGill JM, Larusso NF. The pathobiology of biliary epithelia. Hepatology<br />
2002;35:1256-1268.<br />
44. Gaudio E, Onori P, Pannarale L, Alvaro D. Hepatic microcirculation and peribiliary<br />
plexus in experimental biliary cirrhosis: a morphological study. Gastroenterology<br />
1996;111:1118-1124.<br />
45. Liu Z, Sakamoto T, Ezure T, Yokomuro S, Murase N, Michalopoulos G, Demetris<br />
AJ. Interleukin-6, hepatocyte growth factor, and their receptors in biliary epithelial<br />
cells during a type I ductular reaction in mice: interactions between the periductal<br />
inflammatory and stromal cells and the biliary epithelium. Hepatology 1998;28:1260-<br />
1268.<br />
46. Vianna MR, Gayotto LC, Telma R, Santos M, Alves VA, Fukushima J, de Brito T.<br />
Intrahepatic bile duct changes in human hepatosplenic schistosomiasis mansoni.<br />
Liver 1989;9:100-109.<br />
47. Bezerra AS, D'Ippolito G, Caldana RP, Cecin AO, Ahmed M, Szejnfeld J. Chronic<br />
hepatosplenic schistosomiasis mansoni: magnetic resonance imaging and magnetic<br />
resonance angiography findings. Acta Radiol 2007;48:125-134.<br />
48. Bezerra ASdA, D'Ippolito G, Caldana RP, Cecin AO, Szejnfeld J. Avaliação<br />
hepática e esplênica por ressonância magnética em pacientes portadores de<br />
esquistossomose mansônica crônica. Radiol Bras 2004;37:313-321.<br />
49. Ultrasound in schistosomiasis: a practical guide to the standardized use of<br />
ultrasonography for the assessment of schistosomiasis-related morbidity. Niamey:<br />
WHO/TDR; 2000.<br />
50. Vezozzo DCP, Rocha DC, Cerri GG: Fígado. In: Cerri GG, Rocha DC, eds. Ultrasonografia<br />
abdominal: convencional, Doppler, técnicas endoscópicas, pediatria,<br />
intervenção. São Paulo: Sarvier, 1993; 61-90.<br />
51. Pirovino M, Altorfer J, Maranta E, Hammerli UP, Schmid M. [(Intrahepatic<br />
cholestasis with jaundice due to amyloidosis of the liver) ]. Z Gastroenterol<br />
1982;20:321-331.<br />
35
52. Schmid M, Pirovino M, Altorfer J, Gudat F, Bianchi L. Acute hepatitis non-A, non-B;<br />
are there any specific light microscopic features? Liver 1982;2:61-67.<br />
53. Poupon R, Chazouilleres O, Poupon RE. Chronic cholestatic diseases. J Hepatol<br />
2000;32:129-140.<br />
54. Alves Jr A, Fontes DA, Melo VA, Machado MCC, Cruz JF, Santos EAS.<br />
Hipertensão portal esquistossomótica: influência do fluxo sangüíneo portal nos<br />
níveis séricos das enzimas hepáticas. Arq Gastroenterol 2003;40:203-208.<br />
55. de JRP, Narciso JL, de Toledo CF, Borges DR. Gamma-glutamyltransferase<br />
decreases in patients with the chronic form of schistosomiasis mansoni treated with<br />
ursodeoxycholic acid. J Clin Pathol 2005;58:783-784.<br />
56. Martins RD, Borges DR. Ethanol challenge in non-alcoholic patients with<br />
schistosomiasis. J Clin Pathol 1993;46:250-253.<br />
57. Mansour MM, Farid Z, Bassily S, Salah LH, Watten RH. Serum enzyme tests in<br />
hepatosplenic schistosomiasis. Trans R Soc Trop Med Hyg 1982;76:109-111.<br />
58. Sakai Y, Tsuyuguchi T, Tsuchiya S, Sugiyama H, Miyakawa K, Ebara M, Saisho H,<br />
et al. Diagnostic value of MRCP and indications for ERCP. Hepatogastroenterology<br />
2007;54:2212-2215.<br />
59. Zajaczek JE, Keberle M. [Value of radiological methods in the diagnosis of biliary<br />
diseases]. Radiologe 2005;45:976-978, 980-976.<br />
60. Reibscheid S, Lederman H, A.J. G, Vilela MP, Secaf F. Hepatomas e metástases<br />
hepáticas: emprego da colangiografia transparieto-hepática. Revta Paul Med.<br />
1974;83:15-20.<br />
61. Reibscheid S, Secaf F, Vilela MP, Miszputen SJ, Ganc AJ. Colangiografia<br />
transparieto-hepática: técnica, eficácia, complicações e imagem. Rev Assoc Med<br />
Brasil. 1967;13:417-422.<br />
36
Abstract<br />
Objective: To describe the biliary changes by means of magnetic resonance (MR)<br />
cholangiography in a group of patients with schistosomiasis mansoni. To evaluate<br />
interobserver agreement in detecting biliary ducts changes in these patients. Materials<br />
and methods: A prospective and transversal study was carried out from February 2005<br />
to February 2007 in our University Hospital. Twenty four patients with hepatosplenic<br />
schistosomiasis and six healthy patients without known liver disease, considered as a<br />
control group, were submitted to MR cholangiography exam. The following patterns of<br />
biliary duct changes were established: distortion, thinning, stenosis, dilation and<br />
irregularity. The assessment of interobserver agreement in characterizing biliary<br />
changes was calculated using the McNemar test and the weight kappa test. It was also<br />
calculated the relationship between the occurrence of changes in the biliary ducts and<br />
the serum level of gamaglutamiltransferase, using the Fisher’s exact test. Results: The<br />
interobserver agreement in detecting distortion and thinning of the biliary tree was<br />
almost perfect (k = 0,867; confidence interval [CI] 95% [0,512 – 1,0] e k = 0,865; CI 95%<br />
[0,51 – 1,0], respectively). There was a substantial agreement in viewing stenosis (k =<br />
0,78; CI 95% [0,424 – 1,0]), moderate agreement for dilation (k = 0,595; CI 95% [0,247<br />
– 0,942]) and mild agreement for thinning (k = 0,229; CI 95% [0,095 – 0,552]). A<br />
substantial agreement was also found when we considered any change in the biliary<br />
tree (k = 0,722; CI 95% [0,364 – 1,0]) Conclusions: The changes found in the biliary<br />
tree were, from the most to the lesser frequent: thinning, distortion, stenosis, dilation<br />
and irregularity. The interobserver agreement was almost perfect in viewing distortion<br />
and thinning of the biliary ducts and it was substantial in detecting stenosis.
Bibliografia consultada<br />
Conselho Nacional de Estatística. Normas de apresentação tabular. Rev Bras Estat<br />
1963; 24:42-8.<br />
Rosner, B FUNDAMENTALS OF BIOSTATISTICS, Duxbury Press, 4ª edição New<br />
York, 1994, pp. 682<br />
SIEGEL S, CASTELLAN N. Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences. 2.ed.<br />
New York: McGraw-Hill, 1988. p 284-285.<br />
FLEISS Joseph L. Statistical methods for rates and proportions. New York: John Wiley,<br />
1981. p 212-236.<br />
Ferreira, ABH. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 3ª ed. Curitiba: Positivo;<br />
2004.<br />
Houaiss A, Villar MS. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 1ª ed. Rio de Janeiro:<br />
Objetiva; 2001.<br />
Manuila L, Manuila A, Lewalle P, Nicoulin M. Manuila dicionário médico MEDSI. 9ª ed.<br />
Traduzido por Fernandes GJM. Rio de Janeiro: MEDSI; 2003.<br />
Doyon D, Domengie F, Francke JP, Vézina G, Cabanis EA, Iffenecker C. Nomenclatura<br />
anatômica radiológica internacional. Traduzido por Caldas JGMP, Duchêne M,<br />
Junqueira A. Rio de Janeiro: MEDSI; 2000.<br />
International Commitee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for<br />
manuscripts submitted to biomedical journal. Ann Intern Med 1997; 126:36-47.<br />
Rother ET, Braga MER. Como elaborar sua tese: estrutura e referências. 2ª ed. São<br />
Paulo: BC Gráfica; 2005. 122p.