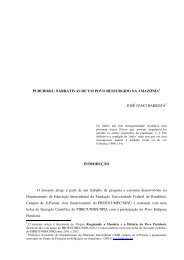cecilia rebelo de oliveira matos - XI Encontro Nacional de História Oral
cecilia rebelo de oliveira matos - XI Encontro Nacional de História Oral
cecilia rebelo de oliveira matos - XI Encontro Nacional de História Oral
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
A MEMÓRIA DAS MULHERES QUE FICARAM NO BRASIL – UMA<br />
ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DAS MILITANTES POLÍTICAS JESSIE JANE<br />
VIEIRA DE SOUZA E MARIA AMÉLIA TELES<br />
Cecília Rebelo <strong>de</strong> Oliveira Matos 1<br />
A Ditadura Militar brasileira produziu uma estrutura oficial <strong>de</strong> repressão<br />
bastante burocratizada, ao contrário do que ocorreu na maioria dos outros países latino-<br />
americanos on<strong>de</strong> também houve golpes militares, o que resultou num vasto espólio<br />
documental, cujo acesso é problemático ainda hoje.<br />
As principais instituições criadas para sustentar essa estrutura foram: o Serviço<br />
<strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Informação (SNI), os Centros <strong>de</strong> Informação do Exército (CIEX), da<br />
Marinha (CENIMAR) e da Aeronáutica (CISA), os Destacamentos <strong>de</strong> Operações e<br />
Informações e Centros <strong>de</strong> Operações <strong>de</strong> Defesa Interna (DOI-CODI) e, em São Paulo,<br />
havia ainda a Operação Ban<strong>de</strong>irantes (OBAN), ligada ao Exército. Esses órgãos<br />
<strong>de</strong>veriam assegurar o cumprimento da Lei <strong>de</strong> Segurança <strong>Nacional</strong> 2 e, para isso, a prática<br />
da tortura foi amplamente utilizada, havendo relatos legais que comprovam sua<br />
existência. 3<br />
Em 1975, com a morte do jornalista Wladimir Herzog, houve uma intensificação<br />
dos movimentos que pediam anistia para os presos políticos. Essas organizações<br />
também reivindicavam: a volta dos exilados; a reintegração profissional <strong>de</strong> todos os que<br />
haviam sido expurgados <strong>de</strong> seus empregos por razões políticas; a averiguação das<br />
1<br />
Mestranda do Programa <strong>de</strong> Pós Graduação em <strong>História</strong> Social da UFRJ.<br />
2<br />
A Doutrina <strong>de</strong> Segurança <strong>Nacional</strong> e Desenvolvimento foi elaborada no Brasil após o término da<br />
segunda guerra mundial, sob influência norte-americana, e consiste em um abrangente corpo teórico<br />
formado por elementos i<strong>de</strong>ológicos e diretrizes <strong>de</strong> manutenção da segurança interna em face à ameaça <strong>de</strong><br />
ação indireta comunista. Vinculada às teorias geopolíticas, ao antimarxismo e às tendências<br />
conservadoras do pensamento social católico, a Doutrina <strong>de</strong> Segurança <strong>Nacional</strong> priorizava o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> um corpo orgânico <strong>de</strong> pensamento para o planejamento <strong>de</strong> Estado e as políticas <strong>de</strong><br />
segurança e <strong>de</strong>senvolvimento. Ver GURGEL, José Alfredo Amaral. Segurança e <strong>de</strong>mocracia: Uma<br />
reflexão política sobre a doutrina da Escola Superior <strong>de</strong> Guerra. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Editora Biblioteca do<br />
Exército e Livraria José Olympio Editora, 1975, passim.<br />
2<br />
FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar, Revista Brasileira <strong>de</strong> <strong>História</strong>,<br />
São Paulo, v. 24, n. 47, p. 38.<br />
3<br />
FICO, Carlos. Como eles agiam. Os subterrâneos da ditadura militar: espionagem e polícia política. Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro: Record, 2001, p. 62-63.
circunstâncias <strong>de</strong> mortes e <strong>de</strong>saparecimentos; a responsabilização das Forças Armadas<br />
por estes crimes e o julgamento dos torturadores e assassinos ligados ao regime.<br />
A criação do Movimento Feminino pela Anistia (MFPA), dos Comitês<br />
Brasileiros pela Anistia (CBAs), que tinham se<strong>de</strong> em vários estados, e da Associação <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>fesa dos direitos e pró-anistia ampla dos atingidos por atos institucionais (AMPLA)<br />
possibilitou a difusão do <strong>de</strong>bate pela socieda<strong>de</strong> civil.<br />
Em 1978, durante o primeiro Congresso Brasileiro pela anistia, o lema “Anistia<br />
ampla, geral e irrestrita” ganhou força. Decidiu-se que a luta <strong>de</strong>veria se aproximar dos<br />
<strong>de</strong>mais movimentos sociais em curso no país, como, por exemplo, o sindicalismo e os<br />
grupos ligados aos trabalhadores rurais. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB),<br />
partido <strong>de</strong> oposição ao governo, li<strong>de</strong>rou o movimento no Congresso <strong>Nacional</strong> e insistiu<br />
para que o caráter amplo do projeto <strong>de</strong> lei fosse respeitado. 4<br />
No entanto, a resposta indireta do governo não <strong>de</strong>ixava margem para esperanças:<br />
para que os presos e exilados que haviam participado da luta armada fossem<br />
inocentados, os torturadores também o <strong>de</strong>veriam ser. Esses guerrilheiros, até o<br />
momento, eram chamados <strong>de</strong> terroristas e as acusações que pairavam sobre eles se<br />
referiam a “crimes <strong>de</strong> sangue”. Já os militares envolvidos em mortes ou<br />
<strong>de</strong>saparecimentos eram tratados apenas como participantes <strong>de</strong> crimes conexos 5 .<br />
A greve <strong>de</strong> fome dos presos políticos ocorrida em todo o Brasil, no mês <strong>de</strong> julho<br />
<strong>de</strong> 1979, contra esse projeto <strong>de</strong> anistia parcial que tramitava no Congresso, através da<br />
cobertura maciça da imprensa e repercussão internacional, fez com que a expressão<br />
“terroristas” fosse substituída por “presos políticos”. Em agosto do mesmo ano, quando<br />
a Lei foi aprovada, os exilados pu<strong>de</strong>ram voltar e os presos foram soltos gradativamente.<br />
A questão da reparação, no entanto, foi mencionada <strong>de</strong> forma pouco significativa e não<br />
se falou em in<strong>de</strong>nização para os familiares dos <strong>de</strong>saparecidos, tampouco em punição<br />
para os abusos <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r cometidos durante a repressão.<br />
Após a aprovação da lei, a esquerda se dividiu e se engajou em outros objetivos.<br />
As eleições diretas e a criação <strong>de</strong> novos partidos políticos foram alguns <strong>de</strong>les.<br />
Organizações não-governamentais (ONGs) foram criadas, surgiram novos institutos <strong>de</strong><br />
4 RODEGHERO, Carla Simone; DIENSTMANN, Gabriel e TRINDADE, Tatiana. Anistia ampla, geral e<br />
irrestrita: história <strong>de</strong> uma luta inconclusa. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011.<br />
5 Há duas <strong>de</strong>finições <strong>de</strong> crimes conexos, uma dos militares, que diz serem os crimes <strong>de</strong> tortura, conexos<br />
aos da luta armada, por isso não sendo passiveis <strong>de</strong> julgamento, já que a anistia vale para ambos. E a<br />
segunda <strong>de</strong>finição é comum entre os juristas e diz que crimes conexos são as infrações menores,<br />
cometidas para fazer acontecer um gran<strong>de</strong> crime, como por exemplo: o roubo <strong>de</strong> um veículo para assaltar<br />
um banco.<br />
2
pesquisa, a questão da censura ganhou importância e o movimento pela anistia acabou<br />
ficando restrito aos familiares <strong>de</strong> mortos e <strong>de</strong>saparecidos e a alguns poucos ativistas.<br />
(RODERGHERO, 2011)<br />
Em 1985, houve a publicação do livro “Brasil: nunca mais” (ARQUIDIOCESE DE<br />
SÂO PAULO, 1985), uma reunião <strong>de</strong> documentos oficiais copiados clan<strong>de</strong>stinamente<br />
por membros progressistas da igreja católica que con<strong>de</strong>navam a prática da tortura. Tal<br />
fato trouxe <strong>de</strong> volta à tona a i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> que a anistia obtida não dava conta das <strong>de</strong>mandas<br />
dos grupos que pretendia contemplar. Era necessário que a Lei <strong>de</strong> 79 fosse atualizada e<br />
se tornasse mais abrangente. O Estado <strong>de</strong>veria reconhecer a existência <strong>de</strong> mortos e<br />
<strong>de</strong>saparecidos, assumir a responsabilida<strong>de</strong> por esses crimes e pela tortura e in<strong>de</strong>nizar<br />
vítimas e familiares.<br />
Em 1985, foi feita a primeira modificação da lei original, que consistiu na<br />
inclusão <strong>de</strong> trabalhadores das empresas <strong>de</strong> capital privado e misto que tivessem sido<br />
<strong>de</strong>mitidos, no montante que tinha direito à anistia, <strong>de</strong>vendo, portanto, ser reintegrados<br />
ao antigo trabalho. Na prática, contudo, isso nunca aconteceu.<br />
Nesse mesmo ano, houve uma reunião entre a Comissão <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
levantamento <strong>de</strong> mortos e <strong>de</strong>saparecidos e Tancredo Neves, quando este era candidato à<br />
presidência, na qual se <strong>de</strong>terminou que, caso ele fosse eleito, os crimes cometidos pelos<br />
militares seriam apurados. Após sua morte, entretanto, José Sarney, que assumiu a<br />
presidência, não falou mais sobre o assunto.<br />
Durante as discussões para elaboração da Constituição <strong>de</strong> 1988, falou-se em<br />
pagar uma in<strong>de</strong>nização progressiva tanto para os funcionários públicos e militares,<br />
quanto para os da iniciativa privada que tivessem sido perseguidos. Tendo sido<br />
encaminhado, no entanto, um pedido que beneficiaria apenas os expurgados da<br />
Aeronáutica, o governo não legislou nem sobre eles, postergando ainda mais a causa. 6<br />
Em 1992, já no governo Collor, com a criação do Instituto <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong><br />
Segurida<strong>de</strong> Social (INSS), <strong>de</strong>cretou-se uma lei que permitia aposentadoria para os<br />
trabalhadores vitimas da repressão, mas, após a <strong>de</strong>scoberta <strong>de</strong> frau<strong>de</strong>s em seu<br />
cumprimento, rapidamente se interrompeu o cumprimento da mesma.<br />
Somente no primeiro governo <strong>de</strong> Fernando Henrique Cardoso, a discussão<br />
acerca da revisão da Lei da Anistia ganhou apelo social novamente. Houve uma forte<br />
pressão para que o Estado se <strong>de</strong>clarasse culpado pelas mortes e <strong>de</strong>saparecimentos e para<br />
6 SUSSEKIND, Elizabeth (org.). “Memória e Justiça”, RJ, Museu da República, 2009.<br />
3
que tais casos fossem apurados. O segundo ponto permaneceu não sendo atendido, mas<br />
houve mudanças importantes: FHC liberou in<strong>de</strong>nizações (entre cem e cento e cinquenta<br />
mil reais) para os parentes das vítimas e o Estado brasileiro reconheceu formalmente a<br />
existência <strong>de</strong> <strong>de</strong>saparecidos.<br />
Essa lei ficou conhecida como Lei dos Desaparecidos e, posteriormente a ela,<br />
fundou-se uma Comissão especial no Ministério da Justiça para tratar <strong>de</strong>sse assunto. Os<br />
integrantes seriam: um membro das Forças Armadas; um do Ministério Público; um do<br />
Itamaraty; um da Comissão <strong>de</strong> Direitos Humanos do governo e um da Comissão<br />
nacional <strong>de</strong> familiares <strong>de</strong> mortos e <strong>de</strong>saparecidos. Tal iniciativa pretendia investigar as<br />
circunstâncias das mortes e julgar pedidos <strong>de</strong> in<strong>de</strong>nização. Punições aos torturadores, no<br />
entanto, não estavam na pauta. Até 2008, 284 <strong>de</strong>saparecidos haviam sido reconhecidos<br />
pelo Estado.<br />
Em 2001, foi criada a Comissão <strong>de</strong> Anistia, o que intensificou ainda mais a<br />
pressão junto ao governo, mas somente em 2002 a Lei passou, <strong>de</strong> fato, a ser ampla,<br />
como pedia o slogan <strong>de</strong> 1979. Foram incluídas na folha <strong>de</strong> in<strong>de</strong>nizações as questões<br />
trabalhistas dos funcionários expurgados, além da reparação financeira para estudantes e<br />
exilados. Convencionou-se que pessoas que tivessem vínculo empregatício receberiam<br />
uma prestação mensal <strong>de</strong> acordo com a posição que ocupassem progressivamente no<br />
local on<strong>de</strong> trabalhavam. Já os que não tinham vínculo, receberiam uma só prestação<br />
como reparação simbólica pelos danos causados pela repressão.<br />
Atualmente, a Comissão funciona com três câmaras: uma que julga os pedidos<br />
<strong>de</strong> reparação <strong>de</strong> servidores públicos, outra <strong>de</strong> militares e uma terceira, que analisa os<br />
processos <strong>de</strong> estudantes e trabalhadores autônomos. Assim, muitos dos perseguidos<br />
políticos pu<strong>de</strong>ram ter, mesmo que <strong>de</strong> maneira incompleta, uma resposta do Estado em<br />
relação aos erros cometidos durante o regime autoritário.<br />
Em 2007, já no governo Lula, a Comissão da anistia passou a enfocar o pedido<br />
mais caro, e também mais <strong>de</strong>licado, dos movimentos ligados à causa: o direito à<br />
memória e à verda<strong>de</strong>, que se encaixam numa perspectiva <strong>de</strong> Justiça <strong>de</strong> transição 7 entre a<br />
Ditadura e a Democracia.<br />
Dessa forma, a ênfase que a Comissão dá atualmente aos processos <strong>de</strong> reparação<br />
vai além da questão financeira. Assim, o pedido <strong>de</strong> <strong>de</strong>sculpas do Estado não se reduz<br />
7 Para Glenda Mezarobba, Justiça <strong>de</strong> transição são as atitu<strong>de</strong>s tomadas por um país, após o término <strong>de</strong> um<br />
governo autoritário, a fim <strong>de</strong> organizar uma forma <strong>de</strong> estratégia para lidar com a herança <strong>de</strong> violência<br />
<strong>de</strong>ixada. (Mezarobba, 2009)<br />
4
apenas a uma quantia em dinheiro, e o problema <strong>de</strong>ixa <strong>de</strong> ser tratado como uma questão<br />
isolada, passível <strong>de</strong> ser resolvida <strong>de</strong> forma particular (Greco, 2009).<br />
As primeiras iniciativas na direção <strong>de</strong> aproximar a socieda<strong>de</strong> civil do direito à<br />
verda<strong>de</strong> foram as Caravanas da Anistia. Trata-se <strong>de</strong> cerimônias públicas itinerantes, que<br />
julgam pedidos <strong>de</strong> reparação e homenageiam perseguidos políticos históricos, como<br />
Leonel Brizola e Carlos Marighela. Ao final da leitura do processo <strong>de</strong> cada um dos<br />
casos <strong>de</strong> anistiados julgados pela Comissão, é feito um pedido oficial <strong>de</strong> perdão em<br />
nome do Estado brasileiro à pessoa em questão.<br />
Além disso, há projetos como a construção do Memorial da Anistia, em Belo<br />
Horizonte, que abrigará toda a documentação referente aos processos <strong>de</strong> reparação e<br />
in<strong>de</strong>nização <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1979. É importante ressaltar que a in<strong>de</strong>nização é apenas uma etapa<br />
<strong>de</strong>ssa reparação, mas não é a única. O reconhecimento pelo Estado <strong>de</strong> sua<br />
responsabilida<strong>de</strong> em relação à tortura e às mortes do período militar, a apuração das<br />
circunstâncias <strong>de</strong>sses acontecimentos e o julgamento dos autores <strong>de</strong>sses crimes<br />
constituem a parte mais importante e menos avançada do processo no Brasil. A luta pela<br />
criação da Comissão da Verda<strong>de</strong>, que investigaria e julgaria, sem caráter punitivo,<br />
apenas tornando públicos os nomes <strong>de</strong> torturadores, é uma das mais importantes em<br />
curso no Brasil atualmente.<br />
É importante <strong>de</strong>stacar que, no último mês <strong>de</strong> setembro, o Congresso <strong>Nacional</strong><br />
aprovou a instalação da Comissão da Verda<strong>de</strong>, mas não autorizou a abertura da maioria<br />
dos arquivos que po<strong>de</strong>riam elucidar as múltiplas interrogações que pairam sobre os anos<br />
em que o Brasil esteve sob a tutela do regime militar.<br />
No presente momento, com a discussão sobre a criação <strong>de</strong> uma Comissão<br />
instituída pelo governo, que se propõe a revelar a verda<strong>de</strong> sobre o regime militar, os<br />
estudos sobre esse período ganham ainda mais importância.<br />
As questões que envolvem a Ditadura ocupam um espaço <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque nos<br />
estudos da <strong>História</strong> do tempo presente. Historiadores como Carlos Fico, Daniel Aarão<br />
Reis, Denise Rolemberg, Samantha Quadrat, Maria Paula Araújo, Carla Ro<strong>de</strong>ghero,<br />
entre outros, são alguns dos principais nomes que têm se <strong>de</strong>bruçado a respeito do tema,<br />
levantando novos olhares e possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> investigação e interpretação sobre o<br />
período. Para esse trabalho, nos interessam particularmente as discussões propostas pro<br />
Daniel Aarão Reis e Carla Ro<strong>de</strong>ghero.<br />
5
Aarão Reis, em seu livro “Ditadura militar, esquerdas e socieda<strong>de</strong>”, argumenta<br />
que a Ditadura não teria durado tanto tempo, sem nenhum período <strong>de</strong> ruptura, se não<br />
tivesse havido apoio da socieda<strong>de</strong> civil (AARÃO REIS, 2000 p 69 a 71).<br />
Essa concordância com o regime, segundo o autor, teria se dado em razão do<br />
crescimento econômico e da sensação <strong>de</strong> segurança que os setores médios nacionais<br />
experimentaram durante a primeira meta<strong>de</strong> da Ditadura. No entanto, quando o país<br />
entrou em crise, a inflação voltou a crescer e o arrocho salarial reapareceu, o regime<br />
teria começado a se encaminhar para o fim. Foi nesse contexto que a questão da anistia<br />
ganhou importância.<br />
Para o autor, nesse momento, são cometidas duas reconstruções históricas: uma<br />
que afirma que as organizações <strong>de</strong> esquerda teriam sempre sido favoráveis à<br />
Democracia – na medida em que a maioria das organizações não lutavam pela<br />
restituição do presi<strong>de</strong>nte eleito, João Goulart, mas sim por uma Revolução Socialista –<br />
e a outra, que trata da Ditadura militar como um corpo estranho à socieda<strong>de</strong>, que nunca<br />
teria estado ao seu lado. Desprezam-se, <strong>de</strong> súbito, as Marchas da Família com Deus pela<br />
Liberda<strong>de</strong> e a conivência das pessoas que seguiam suas vidas, não se importando com o<br />
que acontecia nos quartéis e prisões brasileiros. É como se toda a socieda<strong>de</strong> civil sempre<br />
tivesse sido <strong>de</strong> esquerda e fosse combativa à repressão <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início.<br />
Sendo assim, a luta pela anistia não seria uma causa a ser abraçada por esta<br />
mesma socieda<strong>de</strong>, já que <strong>de</strong>nunciar as torturas é também falar do silêncio com o qual a<br />
mesma compactuou. Ao julgar os abusos <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r dos militares, os brasileiros estariam<br />
também se julgando. Portanto, o esquecimento seria a melhor saída.<br />
Nessa mesma corrente <strong>de</strong> pensamento, Helena Greco usa, em seu artigo “Anistia<br />
anamnese vs Anistia amnésia: A dimensão trágica da luta pela anistia”, publicado no<br />
volume 2 do livro “Desarquivando a Ditadura”, organizado por Cecília Mcdowell,<br />
Janaína Teles e Edson Teles, afirma que o projeto <strong>de</strong> anistia vitorioso no Brasil é o que<br />
trata da causa como esquecimento, e não como reminiscência. Para a autora, a socieda<strong>de</strong><br />
não se i<strong>de</strong>ntifica com a anistia anamnese porque quer esquecer o que é inesquecível:<br />
sua própria responsabilida<strong>de</strong> em relação às torturas, às mortes e ao <strong>de</strong>saparecimento <strong>de</strong><br />
pessoas que não se restringiu ao período da Ditadura, mantendo-se como assunto<br />
irresoluto até os dias atuais.<br />
Para a autora, ainda se <strong>de</strong>ve <strong>de</strong>stacar que houve um erro das organizações<br />
ligadas à anistia, que foi a propagação da i<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> que a socieda<strong>de</strong> havia conquistado<br />
esse direito, quando essa não seria a realida<strong>de</strong>. A anistia teria sido conduzida pelos<br />
6
militares, que, ainda segundo os argumentos <strong>de</strong> Daniel Aarão, tratou <strong>de</strong>sse <strong>de</strong>sfecho<br />
como um armistício pós-guerra, on<strong>de</strong> ambos os lados tiveram <strong>de</strong> se ren<strong>de</strong>r. Munidas<br />
<strong>de</strong>sse tipo <strong>de</strong> argumento, as Forças Armadas se inocentam da maioria das acusações que<br />
lhes são feitas.<br />
Glenda Mezarobba, em artigo publicado no mesmo livro citado acima, sustenta<br />
que, para os militares e familiares das vitimas da repressão, não foi possível esquecer a<br />
Ditadura. Por esse motivo, a disputa em torno da criação da Comissão da verda<strong>de</strong> e da<br />
abertura dos arquivos relacionados ao assunto é contínua. A seu ver, apenas a socieda<strong>de</strong><br />
civil se mantém alheia ao <strong>de</strong>bate.<br />
Mezarobba afirma ainda que Justiça <strong>de</strong> transição é o termo usado para se referir<br />
às providências a serem tomadas pela socieda<strong>de</strong> para lidar com o legado <strong>de</strong> violência<br />
<strong>de</strong>ixado pelos regime autoritário. Se a socieda<strong>de</strong> não se volta para essa questão, será<br />
para sempre permissiva a abusos <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r.<br />
Já Carla Ro<strong>de</strong>ghero, Gabriel Dienstmann e Tatiana Trinda<strong>de</strong>, no livro “Anistia<br />
Ampla Geral e Irrestrita”, lançado este ano, tratam da questão da anistia como um<br />
assunto que teria causado comoção na socieda<strong>de</strong> civil, mas que, após a volta dos<br />
exilados políticos e com a divisão da esquerda, que se seguiu ao fim do bipartidarismo<br />
obrigatório, per<strong>de</strong>ria o apelo para com a socieda<strong>de</strong>.<br />
Os autores explicam que, especialmente o retorno <strong>de</strong> Leonel Brizola, tanto<br />
satisfez boa parte da opinião pública, quanto colaborou para que seus apoiadores se<br />
voltassem para as questões referentes à disputa pela sigla do PTB e pela criação do<br />
PDT. Teria havido, então, um esvaziamento da luta pela anistia que nunca foi<br />
recuperado. Em 2002, contudo, após a criação da Comissão da Anistia, o tema teria<br />
readquirido importância. A obra sustenta ainda que a anistia teria sido uma conquista da<br />
socieda<strong>de</strong> civil, e não um indulto dos militares.<br />
Maria Paula Araújo no artigo “Lutas <strong>de</strong>mocráticas contra a ditadura”, que<br />
compõe o volume 3 do livro “As esquerdas no Brasil”, organizado por Jorge Ferreira e<br />
Daniel Aarão Reis, traça um panorama da luta <strong>de</strong>mocrática que se estabeleceu no país<br />
após 1874, não se atendo apenas as lutas políticas oficiais, mas sublinhando os<br />
múltiplos movimentos sociais que apoiaram a causa.<br />
Sua linha <strong>de</strong> pensamento, assim como a <strong>de</strong> Ro<strong>de</strong>ghero rejeita o tom “<strong>de</strong>nuncista”<br />
em relação a socieda<strong>de</strong> civil, utilizado por Daniel Aarão, como vimos anteriormente.<br />
Ambas as autoras percebem o papel da socieda<strong>de</strong> civil no processo <strong>de</strong> anistia como<br />
sendo menos intenso após 79, mas nunca caracterizado pela ausência.<br />
7
A recuperação das trajetórias <strong>de</strong> vida das pessoas que foram perseguidas pela<br />
ditadura militar, suas experiências <strong>de</strong> exílio, prisão, tortura e rompimento <strong>de</strong> laços, o<br />
<strong>de</strong>bate sobre a maneira como o Estado e a socieda<strong>de</strong> lidam com o legado <strong>de</strong> violência<br />
<strong>de</strong>ixado pelo regime autoritário e a abordagem das questões que envolvem o direito à<br />
memória, a reconciliação nacional e a reparação das vítimas; além das pon<strong>de</strong>rações<br />
sobre as diferentes construções <strong>de</strong> memória entre os grupos <strong>de</strong> resistência à repressão<br />
entrevistados pelo projeto, analisando suas interpretações acerca do processo <strong>de</strong><br />
reparação-in<strong>de</strong>nização, são as estratégias que pretendo utilizar neste trabalho.<br />
Utilizaremos para a parte teórica <strong>de</strong>ssa pesquisa duas linhas conceituais, A<br />
primeira que trata sobre construções <strong>de</strong> memória e outra que aborda o entendimento do<br />
perdão.<br />
Dentre os muitos autores que analisam a questão da memória, Maurice<br />
Halbwachs e Michael Pollak são os que melhor se encaixam com nossos objetivos.<br />
Halbwachs, ao tratar da memória como construção social, atenta para os<br />
diferentes pontos <strong>de</strong> referência que estruturam esse processo, enten<strong>de</strong>ndo que existem<br />
registros que permanecem subterrâneos e outros que alcançam a coletivida<strong>de</strong>, mas não<br />
enxerga essa última como opressora da anterior. Para esse autor há uma dimensão<br />
positiva na constituição da memória comum que não po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>sprezada. É o que ele<br />
chama <strong>de</strong> “comunida<strong>de</strong> afetiva”.<br />
A nós o pensamento <strong>de</strong>sse autor é importante porque estamos lidando com a<br />
construção <strong>de</strong> memórias subterrâneas sobre o regime militar, já que analisaremos<br />
<strong>de</strong>poimentos individuais, mas ao estabelecer comparações, é provável que encontremos<br />
<strong>de</strong>nominadores comuns ou contradições, o que <strong>de</strong>ve ser levado em conta para a análise<br />
final <strong>de</strong>ste trabalho. É a negociação entre as lembranças coletivas e particulares que nos<br />
interessa aqui.<br />
Já Michael Pollak é importante porque vê na <strong>História</strong> oral um relevante meio <strong>de</strong><br />
se recuperar a memória dos excluídos e <strong>de</strong> analisar as disputas entre as recordações<br />
oficiais e as escusas. O autor sustenta ainda que longos silêncios são uma maneira que a<br />
socieda<strong>de</strong> civil encontra <strong>de</strong> se opor a continua produção <strong>de</strong> discursos oficiais. As<br />
lembranças subalternas são guardadas no foro íntimo dos grupos sociais, sobrevivendo<br />
sem serem publicadas. Certamente, segundo Pollak, ao virem à tona, essas vozes<br />
suscitarão reivindicações. Há ainda as “zonas <strong>de</strong> sombra” presentes na <strong>História</strong>, que é<br />
8
como o autor chama as informações não ditas. Para nós, o não dito tem relevância<br />
similar a das palavras.<br />
Já em relação aos conceitos <strong>de</strong> perdão e reparação, nos apropriaremos aqui das<br />
idéias <strong>de</strong> Hannah Arendt 8 e Jacques Derrida 9 . A primeira autora enten<strong>de</strong> o perdão como<br />
um ato <strong>de</strong> superação do passado. A seu ver, as paixões maléficas como a vingança,<br />
<strong>de</strong>vem ser esquecidas quando as vítimas perdoam seus algozes, para que se dê lugar a<br />
um presente consciente e vigilante no que diz respeito ao erro cometido.<br />
Arendt sustenta ainda que por ser uma atitu<strong>de</strong> nova, que inaugura um andamento<br />
diferente para a socieda<strong>de</strong> on<strong>de</strong> os direitos humanos foram <strong>de</strong>srespeitados, o perdão<br />
<strong>de</strong>ve ser dado em esfera pública, sem caráter punitivo, mas objetivando o enfrentamento<br />
<strong>de</strong> um povo com o seu <strong>de</strong>svio. Nesse sentido, perdoar seria, portanto, uma atitu<strong>de</strong><br />
política. Como neste trabalho, abordaremos os processos <strong>de</strong> requerimento público do<br />
perdão, Hannah Arendt po<strong>de</strong> acrescentar bastante em nossa análise.<br />
Já Jacques Derrida enten<strong>de</strong> o perdão <strong>de</strong> uma forma bastante oposta a <strong>de</strong> Arendt.<br />
Para esse autor, perdoar é um ato íntimo, que quando levado a esfera pública, acaba<br />
per<strong>de</strong>ndo o seu caráter puro por anexar a si, outros interesses. Derrida atenta ainda para<br />
a globalização da prática cristã <strong>de</strong> perdoar, o que impe<strong>de</strong> que cada cultura resolva as<br />
dívidas dos seus povos da forma como melhor lhe couber.<br />
Como nessa pesquisa, lidaremos com <strong>de</strong>poimentos pessoais inclusive <strong>de</strong><br />
indivíduos que são requerentes <strong>de</strong> reparação oficial, mas que ainda não a obtiveram, nos<br />
parece relevante a idéia <strong>de</strong> se abordar o perdão como algo que transcen<strong>de</strong> o bem estar da<br />
nação ou as in<strong>de</strong>nizações que são dadas em troca do mesmo.<br />
Os dois autores, apesar das diferenças, enten<strong>de</strong>m que apenas a revelação do<br />
passado, sem nenhum tipo <strong>de</strong> censura ou proteção, po<strong>de</strong> fazer com que um país evolua.<br />
As idéias <strong>de</strong> ambos apontam para a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se abrir arquivos e ouvir quaisquer<br />
pessoas que tenham se sentido injustiçadas pela socieda<strong>de</strong> da qual fazem parte. Em<br />
nossa pesquisa pensamos o mesmo.<br />
Utilizaremos nesse trabalho a metodologia da <strong>História</strong> oral 10 , que consistirá na<br />
escolha <strong>de</strong> entrevistados que tenham resistido ao regime militar, seguida por uma<br />
8 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.<br />
9 DERRIDA, Jacques. O perdão, a verda<strong>de</strong>, a reconciliação: Qual gênero? In: NASCIMENTO, Evando.<br />
O perdão, o a<strong>de</strong>us e a herança em Derrida. . Atos <strong>de</strong> memória. In: NASCIMENTO (org). Jacques Derrida:<br />
pensar a <strong>de</strong>sconstrução. São Paulo: Estação Liberda<strong>de</strong>, 2005.<br />
10 A história oral é uma metodologia <strong>de</strong> pesquisa que consiste em realizar entrevistas gravadas com<br />
pessoas que po<strong>de</strong>m testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos <strong>de</strong> vida ou outros<br />
aspectos da história contemporânea. Ver mais sobre o assunto em: http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral<br />
9
pesquisa sobre a sua trajetória e a confecção <strong>de</strong> um roteiro <strong>de</strong> perguntas. As entrevistas<br />
serão gravadas, transcritas e posteriormente analisadas.<br />
Além disso, confrontaremos os <strong>de</strong>poimentos com os processos <strong>de</strong> requerimento<br />
<strong>de</strong> reparação, cedidos pelos próprios <strong>de</strong>poentes com os documentos judiciais <strong>de</strong>sse<br />
período que se encontram disponíveis. Faremos comparações entre as construções <strong>de</strong><br />
memória individuais e dos grupos <strong>de</strong> resistência a ditadura militar.<br />
Como o presente artigo tem como objetivo analisar a trajetória <strong>de</strong> militância<br />
política, <strong>de</strong>tenção, libertação e superação <strong>de</strong> mulheres entrevistadas pelo projeto Marcas<br />
da Memória-<strong>História</strong> <strong>Oral</strong> da Anistia, foram escolhidos dois exemplos que<br />
consi<strong>de</strong>ramos interessantes. São elas: Jessie Jane Vieira <strong>de</strong> Souza e Maria Amélia Teles.<br />
A escolha <strong>de</strong> ambas se <strong>de</strong>u em razão das múltiplas semelhanças existentes nos cursos <strong>de</strong><br />
suas vidas e dos diferentes <strong>de</strong>sdobramentos que tiveram cada um dos seus percursos.<br />
O primeiro fato comum entre Jessie Jane e Maria Amélia é o fato <strong>de</strong> as duas<br />
pertencerem a famílias comunistas. O pai <strong>de</strong> Jessie foi enviado pelo Partido Comunista<br />
Brasileiro para organizar camponeses nas colônias fe<strong>de</strong>rais do Mato Grosso, i<strong>de</strong>alizadas<br />
por Getúlio Vargas ainda nos anos 50. Era opositor <strong>de</strong> Luís Carlos Prestes e, alguns<br />
anos antes do golpe <strong>de</strong> 64, <strong>de</strong>ixou o partido, se mudando com a família para São Paulo,<br />
on<strong>de</strong> permaneceu ligado ao movimento operário. Já o pai <strong>de</strong> Maria Amélia era estivador<br />
no Porto <strong>de</strong> Santos, e, por consequência do envolvimento com organizações sindicais<br />
vinculadas ao PCB, migrou para Contagem, em Minas Gerais, on<strong>de</strong> perpetuou suas<br />
ativida<strong>de</strong>s políticas e em 1962, se vinculou ao Partido Comunista do Brasil.<br />
Por terem nascido em lares comunistas, na ocasião do golpe <strong>de</strong> 1964, Jessie e<br />
Amélia, sofreram junto com suas famílias, <strong>de</strong> forma instantânea, a ameaça do novo<br />
governo que se instalava. No caso da família <strong>de</strong> Jessie, a i<strong>de</strong>ntificação com a Aliança<br />
Libertadora <strong>Nacional</strong>, li<strong>de</strong>rada por Carlos Marighella, fez com que eles se unissem a<br />
ALN no combate aos militares. Em 1966 o pai <strong>de</strong> Jessie foi preso e ela saiu da<br />
legalida<strong>de</strong>. Na família Teles, entretanto, o patriarca foi preso já em 1964, o que fez com<br />
que a clan<strong>de</strong>stinida<strong>de</strong> se tornasse necessária antes para Maria Amélia.<br />
Esse é um período constantemente <strong>de</strong>scrito como difícil, pela maioria dos presos<br />
políticos. Flávia Shilling, que ficou exilada com sua família no Uruguai, e que foi presa<br />
por ter se envolvido com os Tupamaros, <strong>de</strong>fine da seguinte forma esta situação: “É um<br />
espaço vazio, uma inutilida<strong>de</strong> e uma brutalida<strong>de</strong>. A clan<strong>de</strong>stinida<strong>de</strong> é um momento<br />
terrível, porque você não faz nada, você só se escon<strong>de</strong>. Você não existe.”.<br />
10
A frase <strong>de</strong>fine bem o que passaram Jessie e Maria Amélia. A primeira, ao per<strong>de</strong>r<br />
o contato com seus companheiros <strong>de</strong> organização, <strong>de</strong>cidiu, juntamente com dois<br />
amigos, os irmãos gêmeos, Fernando e Eiraldo Palha Freire, e o namorado, Colombo <strong>de</strong><br />
Souza, encontrar uma estratégia que os levasse a Cuba. A outra trabalhou como<br />
comunicadora interna do PCdoB, e junto com o marido Augusto Teles, teve dois filhos:<br />
Edson e Janaína. A situação financeira <strong>de</strong> ambas era complicada, pois não podiam<br />
trabalhar, já que seus documentos originais não podiam ser usados, e cada vez ficava<br />
mais difícil o acesso aos núcleos dos seus organismos <strong>de</strong> resistência.<br />
Em 1970, Jessie Jane e seus companheiros armaram o sequestro <strong>de</strong> um avião que<br />
fazia o trajeto Rio <strong>de</strong> Janeiro-Buenos Aires, com o objetivo <strong>de</strong> fazer com que o piloto os<br />
levasse até Havana e, <strong>de</strong>pois, retornasse com a tripulação. A ação não foi bem sucedida,<br />
e, Eiraldo, um dos companheiros, foi morto pelos militares. Jessie, Colombo e Fernando<br />
foram levados para a prisão.<br />
A captura <strong>de</strong> Maria Amélia se dá em circunstâncias menos espetaculares, mas<br />
não pouco dolorosas. Ela estava indo encontrar um companheiro que lhe daria dinheiro<br />
para que ela pu<strong>de</strong>sse comprar um remédio para seu marido, que estava com tuberculose,<br />
quando foi interceptada.<br />
Jessie Jane passou nove anos presa. Maria Amélia, um ano e meio. As duas,<br />
entretanto, são bons exemplos do que po<strong>de</strong>mos classificar como exílio interno, ou<br />
“insilio”, como mencionou Flávia Shilling. Durante todo o período militar, essas<br />
mulheres estavam no Brasil, e após a sua libertação não tiveram facilida<strong>de</strong>s para<br />
recompor suas vidas.<br />
Hoje, Jessie Jane é professora <strong>de</strong> <strong>História</strong> da América na Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral<br />
do Rio <strong>de</strong> Janeiro e parceira da Comissão da Anistia. Maria Amélia se tornou uma das<br />
principais ativistas brasileiras a favor <strong>de</strong> causas feministas e não se sente contemplada<br />
pelos processos <strong>de</strong> reparação que vêm ocorrendo no país, mas permanece lutando. São<br />
duas mulheres da geração <strong>de</strong> 1964, que se tornaram nomes atemporais na luta por um<br />
Brasil mais justo e <strong>de</strong>mocrático.<br />
11
6. Bibliografia:<br />
ARAUJO, Maria Paula Nascimento. A utopia fragmentada: as novas esquerdas no<br />
Brasil e no mundo na década <strong>de</strong> 70. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2000.<br />
_____________________________. “Por uma história da esquerda brasileira”. Topoi –<br />
Revista <strong>de</strong> <strong>História</strong>, Rio <strong>de</strong> Janeiro, PPGHIS/UFRJ, v. 5, 2002.<br />
_____________________________; FERREIRA, Marieta <strong>de</strong> M.; FICO, Carlos e<br />
QUADRAT, Samantha Viz (orgs). Ditadura e Democracia na América Latina: Balanço<br />
histórico e perspectivas. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Editora FGV, 2009<br />
____________________________. Lutas <strong>de</strong>mocráticas contra a ditadura. In: REIS<br />
FILHO, Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge. As esquerdas no Brasil. Rio <strong>de</strong> Janeiro:<br />
Civilização Brasileira. v.3.<br />
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Brasil: nunca mais. Petrópolis: Vozes, 1985.<br />
BARAHON DE BRITO, Alexandra; FERNANDEZ, Paloma Aguillar & ENRIQUEZ,<br />
Carmen González (eds). “Las politicas hacia el pasado: juicios, <strong>de</strong>puraciones, perdón y<br />
olvido en las nuevas <strong>de</strong>mocracias”. Ediciones Istmo, 2002, Madrid.<br />
Brasil: Artigos do Presi<strong>de</strong>nte da Comissão <strong>de</strong> Anistia. Ministério da Justiça, Paulo<br />
Abraão.<br />
BRITO, Alexandra Barahon. “Verdad, justicia y memoria em Cono Sur” IN:<br />
BARAHON DE BRITO, Alexandra; FERNANDEZ, Paloma Aguillar & ENRIQUEZ,<br />
Carmen González (eds). “Las politicas hacia el pasado: juicios, <strong>de</strong>puraciones, perdón y<br />
olvido en las nuevas <strong>de</strong>mocracias”. Ediciones Istmo, 2002, Madrid.<br />
CARDOSO, Irene. “Memória <strong>de</strong> 86: terror e interdição do passado”. In: Tempo Social,<br />
Revista <strong>de</strong> Sociologia da USP, vol. 2, 2º semestre 1990.<br />
CATELA, Ludmila da Silva y JELIN, Elizabeth (comps). Los archivos <strong>de</strong> la represión:<br />
documentos, memoria y verdad. Buenos Aires: Siglo X<strong>XI</strong>, 2002.<br />
CATROGA, Fernando. “A representação do ausente”. IN: Revista Anistia Política e<br />
Justiça <strong>de</strong> Transição, n. 2 (2010).<br />
D. Krchoke: “Comissão <strong>de</strong> Verda<strong>de</strong> <strong>de</strong> El Salvador”. IN: SUSSEKIND, Elizabeth<br />
(org.). “Memória e Justiça”, RJ, Museu da República, 2009.<br />
FERNANDEZ, Paloma Aguillar. “Justicia, politica y memoria: los legados <strong>de</strong>l<br />
franquismo en la transición española.” IN: BARAHON DE BRITO, Alexandra;<br />
FERNANDEZ, Paloma Aguillar & ENRIQUEZ, Carmen González (eds). “Las<br />
politicas hacia el pasado: juicios, <strong>de</strong>puraciones, perdón y olvido en las nuevas<br />
<strong>de</strong>mocracias”. Ediciones Istmo, 2002, Madrid.<br />
12
GRECO, Heloísa. Dimensões fundacionais da luta ela anistia. Belo Horizonte: UFMG,<br />
2003. (Tese <strong>de</strong> doutorado em <strong>História</strong>) (Brasil).<br />
RICOUER, Paul. A <strong>História</strong>, a memória e o esquecimento. Campinas: Editora<br />
Unicamp, 2007.<br />
HUNTINGTON, Samuel. “Reforming civil-military relations”. In: Larry Diamon & arc<br />
Plattner. Civil-Relations and Democracy. Baltimore, Maryland: John Hopkins, 1996.<br />
GÓMEZ, José Maria.“Memória, justiça e Direitos Humanos no Cone Sul” IN:<br />
SUSSEKIND, Elizabeth (org.). “Memória e Justiça”, RJ, Museu da República, 2009.<br />
GRECO, Heloísa Amélia. Anistia anamnese vs. Anistia amnésia: a dimensão trágica da<br />
luta pela anistia. In: SANTOS, Cecília MacDowell; TELES, Edson; TELES, Janaína <strong>de</strong><br />
Almeida (orgs). Desarquivando a ditadura: memória e justiça no Brasil. 2v, São Paulo:<br />
A<strong>de</strong>raldo & Rothschild Editores, 2009.<br />
JELIN, Elizabeth. “La justicia <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l juicio” IN: FICO, C., FERREIRA, M.,<br />
ARAÚJO, Maria Paula, QUADRAT, Samantha (orgs). “Ditadura e Democracia na<br />
América Latina: balanço histórico e perspectivas”, Rio <strong>de</strong> Janeiro, FGV, 2008<br />
(Argentina).<br />
KUCINSKY, Bernardo. Abertura, a história <strong>de</strong> uma crise. São Paulo: Brasil Debates,<br />
1982.<br />
LAZZARA, Michael. “Prismas <strong>de</strong> la memoria. Narración y trauma em la transición<br />
chilena”. Santiago: Editorial Cuarto Proprio, 2007.<br />
MARCELINO, Douglas Attila. Passado recente em disputa: memória, historiografia e<br />
as censuras da ditadura militar. In: SANTOS, Cecília MacDowell; TELES, Edson;<br />
TELES, Janaína <strong>de</strong> Almeida (orgs). Desarquivando a ditadura: memória e justiça no<br />
Brasil. 2v, São Paulo: A<strong>de</strong>raldo & Rothschild Editores, 2009.<br />
MEZAROBBA, Glenda. Um acerto <strong>de</strong> contas com o futuro. A anistia e suas<br />
consequências: um estudo do caso brasileiro. Mestrado em Ciência Política. São Paulo:<br />
Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ao Paulo<br />
(USP), 2003.<br />
____________________. Anistia <strong>de</strong> 1979: o que restou da lei forjada pelo arbítrio?. In:<br />
SANTOS, Cecília MacDowell; TELES, Edson; TELES, Janaína <strong>de</strong> Almeida (orgs).<br />
Desarquivando a ditadura: memória e justiça no Brasil. 2v, São Paulo: A<strong>de</strong>raldo &<br />
Rothschild Editores, 2009.<br />
NORA, Pierre. “Entre mémoire et histoire”. In: Les lieux <strong>de</strong> mémoire. La Republique,<br />
vol. 1. Paris: Gallimard, 1997.<br />
O ESTADO DE DIREITO E A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO EM SOCIEDADES EM<br />
CONFLITO OU PÓS-CONFLITO. RELATÓRIO S/2004/616 DO SECRETÁRIO-<br />
13
GERAL AO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES<br />
UNIDAS. IN: Revista Anistia e Justiça <strong>de</strong> Transição, n. 1 jan./jun. 2009.<br />
OLIVEIRA, Antonio Leal <strong>de</strong>. “O perdão e a reconcilação com o passado em Hannah<br />
Arendt e Jacques Derrida”. IN: Revista Anistia Política e Justiça <strong>de</strong> Transição, n. 1<br />
jan./jun. 2009.<br />
OLIVEIRA, Eliézer Rizzo <strong>de</strong>. “Os <strong>de</strong>saparecidos e anistia”. In: Correio Popular,<br />
Campinas, 1.º/8/1995, Ca<strong>de</strong>rno Opinião, p. 2.<br />
PANDOLFI, Dulce. Anistia não é esquecimento. In: SUSSEKIND, Elizabeth (org.).<br />
“Memória e Justiça”, RJ, Museu da República, 2009.<br />
Teles, Janaína. “Mortos e <strong>de</strong>saparecidos políticos: um resgate da memória brasileira”.<br />
In: Teles, J. (org.). Mortos e <strong>de</strong>saparecidos políticos. Reparação ou impunida<strong>de</strong>? 2ª ed.<br />
São Paulo: Humanitas/FFLCH/ USP, 2001, pp. 157-98.<br />
PINTO, Antonio Costa. “El ajuste <strong>de</strong> cuentas con el pasado en una turbulenta transición<br />
a la <strong>de</strong>mocracia: el caso portugués.” IN: BARATHON DE BRITO, Alexandra;<br />
FERNANDEZ, Paloma Aguillar & ENRIQUEZ, Carmen González (eds). “Las<br />
politicas hacia el pasado: juicios, <strong>de</strong>puraciones, perdón y olvido en las nuevas<br />
<strong>de</strong>mocracias”. Ediciones Istmo, 2002, Madrid.<br />
POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento, silêncio”. In: Estudos Históricos, vol. 2,<br />
n° 3. 1989<br />
PORTELLI, Alessandro. ”O massacre <strong>de</strong> Civitella Val di Chiana”. In: FERREIRA,<br />
Marieta <strong>de</strong> M. e AMADO, Janaína. Usos e abusos da <strong>História</strong> <strong>Oral</strong>. Rio <strong>de</strong> Janeiro:<br />
FGV Editora, 1996<br />
RICHARD, Nelly; MOREIRAS, Alberto. Pensar em/la postdictadura. Santiago: 1 ed.<br />
Editorial Cuarto Proprio, 2001. Unida<strong>de</strong> “Lo social, lo politico”.<br />
RICOEUR, Paul. “Avant la justice non violence, la justice violente”. IN: CASSAN,<br />
CAYLA y SALAZAR: “Verité, Réconciliation, Réparation” (Senil, 2004).<br />
REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e socieda<strong>de</strong>. 3ª ed., Rio <strong>de</strong> Janeiro:<br />
Jorge Zahar Ed., 2005.<br />
—. Os muitos véus da impunida<strong>de</strong>: socieda<strong>de</strong> tortura e ditadura no Brasil. Disponível<br />
em: www.artnet.com.br/gramsci/arquiv94.htm Acesso em: 24/2/2003.<br />
—. “Versões e ficções: a luta pela apropriação da memória”. In: Versões e ficções, o<br />
sequestro da história. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1997, pp. 101-06.<br />
—. “Um passado imprevisível: a construção da memória da esquerda nos anos 60”. In:<br />
Versões e ficções, o sequestro da história. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1997,<br />
pp. 101-06 e 31-45.<br />
14
RODEGHERO, Carla Simone; DIENSTMANN, Gabriel e TRINDADE, Tatiana.<br />
Anistia ampla, geral e irrestrita: história <strong>de</strong> uma luta inconclusa. Santa Cruz do Sul:<br />
EDUNISC, 2011.<br />
Roviello, Anne-Marie. Senso comum e mo<strong>de</strong>rnida<strong>de</strong> em Hahhan Arendt. Lisboa:<br />
Instituto Piaget, 1978.<br />
SANTOS, Cecília MacDowell; TELES, Edson; TELES, Janaína <strong>de</strong> Almeida (orgs).<br />
Desarquivando a ditadura: memória e justiça no Brasil. 2v, São Paulo: A<strong>de</strong>raldo &<br />
Rothschild Editores, 2009.<br />
SOARES, Samuel Alves e PRADO, Larissa Brisola Brito. O processo político da anistia<br />
e os espaços <strong>de</strong> autonomia militar. In: SANTOS, Cecília MacDowell; TELES, Edson;<br />
TELES, Janaína <strong>de</strong> Almeida (orgs). Desarquivando a ditadura: memória e justiça no<br />
Brasil. 2v, São Paulo: A<strong>de</strong>raldo & Rothschild Editores, 2009.<br />
VILLALOBO, Carlos Perez. “La edición <strong>de</strong> la memoria: la batalla <strong>de</strong> Chile” IN:<br />
RICHARD, Nelly. “Politicas y esteticas <strong>de</strong> la memoria”. Santiago do Chile, Editorial<br />
Cuarto Proprio, 2006.<br />
15