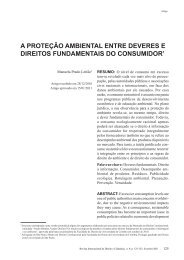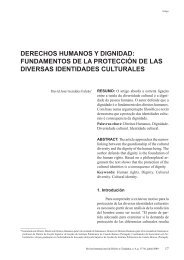DIREITOS DOS DESCENDENTES DE ESCRAVOS ... - Reid.org.br
DIREITOS DOS DESCENDENTES DE ESCRAVOS ... - Reid.org.br
DIREITOS DOS DESCENDENTES DE ESCRAVOS ... - Reid.org.br
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Artigo<<strong>br</strong> />
<strong>DIREITOS</strong> <strong>DOS</strong> <strong><strong>DE</strong>SCEN<strong>DE</strong>NTES</strong> <strong>DE</strong><<strong>br</strong> />
<strong>ESCRAVOS</strong> (REMANESCENTES DAS<<strong>br</strong> />
COMUNIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> QUILOMBOS) 1<<strong>br</strong> />
Walter Claudius Rothenburg 2 *<<strong>br</strong> />
RESUMO: O artigo trata dos direitos dos quilombolas<<strong>br</strong> />
no ordenamento jurídico <strong>br</strong>asileiro, a<<strong>br</strong> />
partir da consagração destes no texto constitucional.<<strong>br</strong> />
Além do valor simbólico, o autor destaca<<strong>br</strong> />
conseqüências jurídicas relevantes, decorrentes<<strong>br</strong> />
do caráter constitucional, que confere, além da<<strong>br</strong> />
evidência, supremacia e rigidez aos respectivos<<strong>br</strong> />
dispositivos normativos. O trabalho realça a necessidade<<strong>br</strong> />
de tratamento do tema em sua contemporaneidade,<<strong>br</strong> />
com a ampliação do campo de aplicação<<strong>br</strong> />
das normas jurídicas que se referem direta<<strong>br</strong> />
ou indiretamente a quilombos, para reconhecer<<strong>br</strong> />
e proteger realidades atuais e não apenas a<<strong>br</strong> />
memória do passado. Por fim, o autor traz argumentos<<strong>br</strong> />
acerca da autoaplicabilidade do art. 68<<strong>br</strong> />
ADCT, do descabimento de desapropriação, do<<strong>br</strong> />
cabimento de indenização aos proprietários das<<strong>br</strong> />
terras quilombolas, apresentando ainda um rol<<strong>br</strong> />
de direitos individuais e coletivos que precisam<<strong>br</strong> />
ser implementados em relação às comunidades<<strong>br</strong> />
quilombolas.<<strong>br</strong> />
Palavras chave: comunidades quilombolas,<<strong>br</strong> />
patrimônio cultural e quilombos, direitos dos<<strong>br</strong> />
quilombolas, titulação terras quilombolas.<<strong>br</strong> />
ABSTRACT: The article deals with the rights<<strong>br</strong> />
of quilombolas in the Brazilian legal system,<<strong>br</strong> />
from their establishment in the constitutional<<strong>br</strong> />
text. Beside the symbolic value, the author<<strong>br</strong> />
1<<strong>br</strong> />
Texto originalmente publicado no livro “Igualdade, diferença e direitos humanos”, coordenado por Daniel Sarmento, Daniela Ikawa e Flávia Piovesan<<strong>br</strong> />
(Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 445-471 – ISBN 978-85-375-0281-5).<<strong>br</strong> />
2<<strong>br</strong> />
Procurador Regional da República, Mestre e Doutor em Direito pela UFPR, Pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade de Paris II,<<strong>br</strong> />
Professor da Instituição Toledo de Ensino – ITE.<<strong>br</strong> />
* Dedico este texto a Deborah Macedo Duprat de Brito Pereira (Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal)<<strong>br</strong> />
e a Maria Bernardete Lopes da Silva (Diretora de Proteção ao Patrimônio Afro-<strong>br</strong>asileiro da Fundação Cultural Palmares).<<strong>br</strong> />
Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008<<strong>br</strong> />
189
ROTHENBURG, W. C.<<strong>br</strong> />
detaches important juridical outcomes of<<strong>br</strong> />
constitutional character that confers, beyond the<<strong>br</strong> />
evidence, supremacy and rigidness to the<<strong>br</strong> />
respective normative devices. The work<<strong>br</strong> />
enhances the need of dealing with the subject in<<strong>br</strong> />
its comtemporality, with the magnifying of the<<strong>br</strong> />
field of application of the juridical rules that refer<<strong>br</strong> />
directly or indirectly to the quilombo, in order<<strong>br</strong> />
to recognize and protect current realities, not<<strong>br</strong> />
only the memory of the past. Finally, the author<<strong>br</strong> />
<strong>br</strong>ings arguments concerning the autoenforcement<<strong>br</strong> />
of article n. 68 of the Act of Constitutional<<strong>br</strong> />
Transitory Dispositions, the improperness of<<strong>br</strong> />
land expropriation, the possibility of compensation<<strong>br</strong> />
to the owners of quilombola lands,<<strong>br</strong> />
presenting still a set of individual and collective<<strong>br</strong> />
rights that need to be carried out in relation to<<strong>br</strong> />
the quilombola communities.<<strong>br</strong> />
Keywords: quilombola communities - cultural<<strong>br</strong> />
heritage and quilomobo - quilombola’s rightstitling<<strong>br</strong> />
of quilombola lands.<<strong>br</strong> />
Não é pouca coisa uma Constituição falar em<<strong>br</strong> />
quilombos. Quilombo é o lugar e a comunidade<<strong>br</strong> />
formados principalmente por negros, escravos<<strong>br</strong> />
ou não, eventualmente longe das fazendas e cidades,<<strong>br</strong> />
em busca de liberdade e identidade. A<<strong>br</strong> />
constituição dos quilombos era diversa, a partir<<strong>br</strong> />
de “fugas, heranças, doações e até compra de<<strong>br</strong> />
terras em pleno vigor do sistema escravista no<<strong>br</strong> />
país” (ITESP). Nem sempre por escravos fugidos<<strong>br</strong> />
ou abandonados: havia negros libertos e livres<<strong>br</strong> />
que buscavam uma comunidade mais receptiva<<strong>br</strong> />
e autêntica, e havia não-negros. 3<<strong>br</strong> />
Na Constituição <strong>br</strong>asileira, há referência expressa<<strong>br</strong> />
aos quilombos em dois dispositivos. Ao<<strong>br</strong> />
tratar da cultura e afirmar que o Estado protegerá<<strong>br</strong> />
as manifestações das culturas afro-<strong>br</strong>asileiras<<strong>br</strong> />
(art. 215, § 1º), a Constituição estabelece especificamente<<strong>br</strong> />
o tombamento de todos os documentos<<strong>br</strong> />
e sítios detentores de reminiscências históricas<<strong>br</strong> />
dos antigos quilombos (art. 216, § 5º). Nas<<strong>br</strong> />
disposições transitórias, a Constituição reconhece,<<strong>br</strong> />
aos remanescentes das comunidades dos<<strong>br</strong> />
quilombos que estejam ocupando suas terras, a<<strong>br</strong> />
propriedade definitiva, e incumbe o Estado de<<strong>br</strong> />
emitir os respectivos títulos (art. 68 ADCT).<<strong>br</strong> />
Além do relevante valor simbólico da consagração<<strong>br</strong> />
textual, há conseqüências jurídicas relevantes,<<strong>br</strong> />
decorrentes do caráter constitucional,<<strong>br</strong> />
que confere, além da evidência, supremacia e<<strong>br</strong> />
rigidez aos respectivos dispositivos normativos.<<strong>br</strong> />
O aspecto jurídico mais importante da referência<<strong>br</strong> />
constitucional aos quilombos, contudo, é<<strong>br</strong> />
a vinculação com direitos fundamentais.<<strong>br</strong> />
Os quilombolas formam – com outros negros<<strong>br</strong> />
(art. 215, § 1º), os índios (art. 231), as pessoas<<strong>br</strong> />
portadoras de deficiência (art. 37, VIII), os idosos<<strong>br</strong> />
(art. 230), as mulheres (art. 5º, I), os presidiários<<strong>br</strong> />
(art. 5º, XLIX), os po<strong>br</strong>es (art. 203), os<<strong>br</strong> />
estrangeiros (art. 5º, caput), os <strong>br</strong>asileiros de<<strong>br</strong> />
certas regiões (art. 19, III), os crentes de determinadas<<strong>br</strong> />
convicções (art. 5º, VI e VIII) e outros<<strong>br</strong> />
grupos e indivíduos não expressos, mas acolhidos,<<strong>br</strong> />
como os homossexuais e transexuais (art.<<strong>br</strong> />
5º, XLI) – as “minorias” ou “fragilizados”, para<<strong>br</strong> />
os quais os direitos fundamentais, isonomia à<<strong>br</strong> />
cabeceira, têm uma relevância particular. O paradoxo<<strong>br</strong> />
lingüístico é proposital: no universal dos<<strong>br</strong> />
direitos fundamentais, buscar o particular.<<strong>br</strong> />
O enorme contingente de negros que formou<<strong>br</strong> />
e forma a população <strong>br</strong>asileira não autoriza que<<strong>br</strong> />
alguém se surpreenda com estimativas que dão<<strong>br</strong> />
conta de cerca de três mil comunidades que talvez<<strong>br</strong> />
se caracterizem como remanescentes de<<strong>br</strong> />
quilombos. 4 É legítimo que essa realidade esteja<<strong>br</strong> />
estampada na Constituição da República Federativa<<strong>br</strong> />
do Brasil (art. 68 do Ato das Disposições<<strong>br</strong> />
Constitucionais Transitórias: “Aos remanescentes<<strong>br</strong> />
das comunidades dos quilombos que<<strong>br</strong> />
estejam ocupando suas terras é reconhecida a<<strong>br</strong> />
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes<<strong>br</strong> />
os títulos respectivos”) e reproduzida em<<strong>br</strong> />
algumas Constituições estaduais 5 , como da<<strong>br</strong> />
Bahia (art. 51 do Ato das Disposições Transitórias:<<strong>br</strong> />
“O Estado executará, no prazo de um ano<<strong>br</strong> />
3<<strong>br</strong> />
Walter Claudius Rothenburg, Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional, 2007 : 313-314.<<strong>br</strong> />
4<<strong>br</strong> />
Dado da Articulação Nacional de Remanescentes de Quilombos, referido por Arruti, 2003.<<strong>br</strong> />
5<<strong>br</strong> />
Comissão Pró-Índio de São Paulo, 2007 : 4.<<strong>br</strong> />
190 Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008
<strong>DIREITOS</strong> <strong>DOS</strong> <strong><strong>DE</strong>SCEN<strong>DE</strong>NTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ESCRAVOS</strong> (REMANESCENTES DAS COMUNIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> QUILOMBOS)<<strong>br</strong> />
após a promulgação desta Constituição, a identificação,<<strong>br</strong> />
discriminação e titulação das suas terras<<strong>br</strong> />
ocupadas pelos remanescentes das comunidades<<strong>br</strong> />
dos quilombos.”), de Goiás (art. 16 do Ato<<strong>br</strong> />
das Disposições Constitucionais Transitórias:<<strong>br</strong> />
“Aos remanescentes das comunidades dos<<strong>br</strong> />
quilombos que estejam ocupando suas terras, é<<strong>br</strong> />
reconhecida a propriedade definitiva, devendo<<strong>br</strong> />
o Estado emitir-lhes os respectivos títulos.”), do<<strong>br</strong> />
Maranhão (art. 229 da Constituição: “O Estado<<strong>br</strong> />
reconhecerá e legalizará, na forma da lei, as terras<<strong>br</strong> />
ocupadas por remanescentes das comunidades<<strong>br</strong> />
dos quilombos.”), do Mato Grosso (art. 33<<strong>br</strong> />
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:<<strong>br</strong> />
“O Estado emitirá, no prazo de um ano,<<strong>br</strong> />
contado da promulgação desta Constituição e<<strong>br</strong> />
independentemente de legislação, complementar<<strong>br</strong> />
ou ordinária, os títulos definitivos relativos<<strong>br</strong> />
às terras dos remanescentes das comunidades<<strong>br</strong> />
negras rurais que estejam ocupando suas terras<<strong>br</strong> />
há mais de meio século.”) e do Pará (art. 322 da<<strong>br</strong> />
Constituição: “Aos remanescentes das comunidades<<strong>br</strong> />
dos quilombos que estejam ocupando suas<<strong>br</strong> />
terras, é reconhecida a propriedade definitiva,<<strong>br</strong> />
devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos<<strong>br</strong> />
no prazo de um ano, após promulgada esta Constituição.”).<<strong>br</strong> />
1. A desconstrução de um conceito<<strong>br</strong> />
Os que trabalhamos com o Direito temos lá<<strong>br</strong> />
nossas limitações de compreensão em relação a<<strong>br</strong> />
um conceito que já não é isento de complexidade<<strong>br</strong> />
nos domínios da sociologia, da história, da<<strong>br</strong> />
antropologia... No entanto, é preciso estipular<<strong>br</strong> />
um conceito que permita aplicar o art. 68 ADCT,<<strong>br</strong> />
mesmo sabendo-se que essa redução conceitual<<strong>br</strong> />
representa “uma ameaça permanente” à realidade<<strong>br</strong> />
institucional dos quilombos, pois cria “um<<strong>br</strong> />
novo sistema de identificação modelizante”<<strong>br</strong> />
(JOSÉ MAURÍCIO P. A. ARRUTI, 2003).<<strong>br</strong> />
Além da definição sugerida no início deste<<strong>br</strong> />
texto, existe uma definição normativa que esclarece<<strong>br</strong> />
o art. 68 ADCT, dada pelo Decreto 4.887,<<strong>br</strong> />
de 20 de novem<strong>br</strong>o de 2003 (que “[r]egulamenta<<strong>br</strong> />
o procedimento para identificação, reconhecimento,<<strong>br</strong> />
delimitação, demarcação e titulação das<<strong>br</strong> />
terras ocupadas por remanescentes das comunidades<<strong>br</strong> />
dos quilombos”): “Consideram-se remanescentes<<strong>br</strong> />
das comunidades dos quilombos, para<<strong>br</strong> />
os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais,<<strong>br</strong> />
segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória<<strong>br</strong> />
histórica própria, dotados de relações territoriais<<strong>br</strong> />
específicas, com presunção de ancestralidade<<strong>br</strong> />
negra relacionada com a resistência à opressão<<strong>br</strong> />
histórica sofrida.” (art. 2º).<<strong>br</strong> />
Outros textos normativos oferecem definições<<strong>br</strong> />
mais genéricas, como é o caso do Decreto<<strong>br</strong> />
6.040, de 7 de fevereiro de 2007 (que “[i]institui<<strong>br</strong> />
a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável<<strong>br</strong> />
dos Povos e Comunidades Tradicionais”):<<strong>br</strong> />
“Povos e Comunidades Tradicionais: grupos<<strong>br</strong> />
culturalmente diferenciados e que se reconhecem<<strong>br</strong> />
como tais, que possuem formas próprias<<strong>br</strong> />
de <strong>org</strong>anização social, que ocupam e usam<<strong>br</strong> />
territórios e recursos naturais como condição<<strong>br</strong> />
para sua reprodução cultural, social, religiosa,<<strong>br</strong> />
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos,<<strong>br</strong> />
inovações e práticas gerados e<<strong>br</strong> />
transmitidos pela tradição” (art. 3º, I).<<strong>br</strong> />
Nesse sentido, a Convenção 169 da Organização<<strong>br</strong> />
Internacional do Trabalho – OIT, de 27<<strong>br</strong> />
de junho de 1989 (“relativa aos povos indígena<<strong>br</strong> />
e tribais em países independentes”), cujo art. 1º<<strong>br</strong> />
diz que a Convenção aplica-se aos povos tribais<<strong>br</strong> />
“cujas condições sociais, culturais e econômicas<<strong>br</strong> />
os distingam de outros setores da coletividade<<strong>br</strong> />
nacional, e que sejam regidos, total ou parcialmente,<<strong>br</strong> />
por seus próprios costumes ou tradições<<strong>br</strong> />
ou por legislação especial”, bem como aos<<strong>br</strong> />
povos “considerados indígenas pelo fato de descenderem<<strong>br</strong> />
de populações que habitavam o país<<strong>br</strong> />
ou uma região geográfica pertencente ao país<<strong>br</strong> />
na época da conquista ou da colonização ou do<<strong>br</strong> />
estabelecimento das atuais fronteiras estatais e<<strong>br</strong> />
que, seja qual for sua situação jurídica, conservam<<strong>br</strong> />
todas as suas próprias instituições sociais,<<strong>br</strong> />
econômicas, culturais e políticas, ou parte dela”<<strong>br</strong> />
(sic). 6<<strong>br</strong> />
6<<strong>br</strong> />
Aprovada pelo Decreto Legislativo 143, de 20 de junho de 2002 e promulgada pelo Decreto 5.051, de 19 de a<strong>br</strong>il de 2004.<<strong>br</strong> />
Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008<<strong>br</strong> />
191
ROTHENBURG, W. C.<<strong>br</strong> />
1.1 Quilombos para o futuro<<strong>br</strong> />
Parece-me que o aspecto mais relevante de<<strong>br</strong> />
um conceito adequado, tendo em vista as possibilidades<<strong>br</strong> />
de aplicação eficiente da norma do art.<<strong>br</strong> />
68 ADCT (uma perspectiva jurídico-pragmática,<<strong>br</strong> />
portanto), seja a projeção presente e futura:<<strong>br</strong> />
os quilombos em sua contemporaneidade. Isso<<strong>br</strong> />
significa ampliar o campo de aplicação das normas<<strong>br</strong> />
jurídicas que se referem direta ou indiretamente<<strong>br</strong> />
a quilombos, para reconhecer e proteger<<strong>br</strong> />
realidades atuais e não apenas a memória do<<strong>br</strong> />
passado.<<strong>br</strong> />
A discussão jurídica acerca de quilombos<<strong>br</strong> />
parece ter sempre apontado para o passado. A<<strong>br</strong> />
primeira referência expressa que a Constituição<<strong>br</strong> />
faz a quilombos é quando trata da cultura, ao<<strong>br</strong> />
declarar “tombados todos os documentos e os<<strong>br</strong> />
sítios detentores de reminiscências históricas dos<<strong>br</strong> />
antigos quilombos” (art. 216, § 5º). Sintomaticamente,<<strong>br</strong> />
a consagração normativa dessa memória<<strong>br</strong> />
é feita na parte “permanente” da Constituição,<<strong>br</strong> />
tendo-se relegado a questão territorial para<<strong>br</strong> />
as disposições constitucionais transitórias.<<strong>br</strong> />
É preciso reorientar temporalmente a leitura<<strong>br</strong> />
jurídica das normas concernentes. “A questão<<strong>br</strong> />
fundamental é, portanto, perceber como o<<strong>br</strong> />
quilombo histórico foi metaforizado para ganhar<<strong>br</strong> />
funções políticas no presente e como tal conversão<<strong>br</strong> />
simbólica teve como produto, uma construção<<strong>br</strong> />
jurídica que permite pensar projetos de<<strong>br</strong> />
futuro.” – observa Arruti (2003), baseado na<<strong>br</strong> />
proposta de reconhecimento das “novas dimensões<<strong>br</strong> />
do significado atual de quilombos”, de<<strong>br</strong> />
Alfredo Wagner Berno de Almeida, que “tem<<strong>br</strong> />
como ponto de partida, situações sociais específicas<<strong>br</strong> />
e coetâneas, caracterizadas so<strong>br</strong>etudo por<<strong>br</strong> />
instrumentos político-<strong>org</strong>anizativos, cuja finalidade<<strong>br</strong> />
precípua é a garantia da terra e a afirmação<<strong>br</strong> />
de uma identidade própria”.<<strong>br</strong> />
A tônica da compreensão jurídica dos remanescentes<<strong>br</strong> />
de quilombos é prospectiva, alforriando<<strong>br</strong> />
a interpretação da norma do art. 68 ADCT<<strong>br</strong> />
das amarras do passado. Como esclarece Arruti<<strong>br</strong> />
(2003):<<strong>br</strong> />
“apesar das exigências do termo, os ‘remanescentes’<<strong>br</strong> />
não são so<strong>br</strong>as de antigos<<strong>br</strong> />
quilombos, presas aos fatos do passado<<strong>br</strong> />
por uma continuidade evidente e prontamente<<strong>br</strong> />
resgatada na ‘memória coletiva’<<strong>br</strong> />
do grupo, prontos para serem identificados<<strong>br</strong> />
como tais. Independente de<<strong>br</strong> />
‘como de fato foi’ no passado, os laços<<strong>br</strong> />
dessas comunidades com grupos do passado<<strong>br</strong> />
precisam ser produzidos hoje, através<<strong>br</strong> />
da seleção e recriação de elementos<<strong>br</strong> />
da memória, de traços culturais que sirvam<<strong>br</strong> />
como os ‘sinais externos’ reconhecidos<<strong>br</strong> />
pelos mediadores e pelo órgão que<<strong>br</strong> />
têm a autoridade de nomeá-los ou reconhecê-los.”<<strong>br</strong> />
1.2 O lugar e a comunidade<<strong>br</strong> />
O conceito procura ressaltar uma dimensão<<strong>br</strong> />
não-territorial que o texto do art. 68 ADCT contém<<strong>br</strong> />
mas não explicita. Quilombo é, ainda e antes<<strong>br</strong> />
de mais, uma comunidade, um grupo de pessoas<<strong>br</strong> />
que desenvolvem relações específicas. Ainda<<strong>br</strong> />
que a base territorial seja fundamental para<<strong>br</strong> />
permitir que essas relações se formem e se mantenham,<<strong>br</strong> />
a dimensão “humana” possui importância<<strong>br</strong> />
jurídica própria e fornece argumento para<<strong>br</strong> />
que se proteja juridicamente uma comunidade<<strong>br</strong> />
que esteja sem território ou que tenha sido<<strong>br</strong> />
deslocada para outro território ou cujo território<<strong>br</strong> />
esteja em processo de regularização. Quilombo<<strong>br</strong> />
é o lugar e é também a comunidade.<<strong>br</strong> />
1.3 Origem diversa: a fuga de uma causa única<<strong>br</strong> />
A atualidade dos quilombos relativiza a importância<<strong>br</strong> />
de sua origem. Pouco importa se eram<<strong>br</strong> />
escravos fugidos que formaram as comunidades,<<strong>br</strong> />
se pessoas de outra procedência a eles agregaram-se<<strong>br</strong> />
ou se foram eles que se agregaram. Também<<strong>br</strong> />
o caráter rural da localização e das atividades<<strong>br</strong> />
não é fundamental.<<strong>br</strong> />
As fugas são consideradas a principal causa<<strong>br</strong> />
de formação dos quilombos, mas pode ser que<<strong>br</strong> />
essa imagem de resistência – romântica e ideológica<<strong>br</strong> />
– não corresponda à realidade mais freqüente.<<strong>br</strong> />
No entanto, essa compreensão está fortemente<<strong>br</strong> />
arraigada. O Dicionário Houaiss (2001:<<strong>br</strong> />
2359) refere o vocábulo “quilombo” a “local<<strong>br</strong> />
192 Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008
<strong>DIREITOS</strong> <strong>DOS</strong> <strong><strong>DE</strong>SCEN<strong>DE</strong>NTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ESCRAVOS</strong> (REMANESCENTES DAS COMUNIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> QUILOMBOS)<<strong>br</strong> />
escondido, ger. no mato, onde se a<strong>br</strong>igavam escravos<<strong>br</strong> />
fugidos”, e “povoação fortificada de negros<<strong>br</strong> />
fugidos do cativeiro”. Pietro Lora Alarcón<<strong>br</strong> />
(2007), ao tratar dos “palenques” colombianos,<<strong>br</strong> />
afirma que albergavam os “cimarrones”, “escravos<<strong>br</strong> />
fugidos que lá encontraram o lugar ideal para<<strong>br</strong> />
não somente refugiar-se, mas também aprender<<strong>br</strong> />
um sentido de dignidade até então desconhecido<<strong>br</strong> />
em terras americanas”.<<strong>br</strong> />
A legislação repressora acompanhou essa<<strong>br</strong> />
compreensão, mas também suas alterações. Enquanto<<strong>br</strong> />
no período colonial eram necessários ao<<strong>br</strong> />
menos cinco escravos fugidos reunidos e formando<<strong>br</strong> />
ranchos permanentes, a exigência a<strong>br</strong>andou-se<<strong>br</strong> />
no período imperial, bastando então três<<strong>br</strong> />
escravos fugidos reunidos, mesmo que não formassem<<strong>br</strong> />
ranchos permanentes. 7 A legislação de<<strong>br</strong> />
hoje deve adaptar-se e valer-se de uma compreensão<<strong>br</strong> />
atual, não mais presa a uma origem única,<<strong>br</strong> />
baseada na fuga de escravos.<<strong>br</strong> />
Com efeito, na América em geral, parece<<strong>br</strong> />
terem sido “relativamente diminutas as freqüências<<strong>br</strong> />
de fugas de escravos”, assinala Manolo<<strong>br</strong> />
Florentino (2005). Às vésperas da abolição formal<<strong>br</strong> />
da escravidão (1888), “[c]resceu o número<<strong>br</strong> />
de quilombos, alguns patrocinados por<<strong>br</strong> />
abolicionistas, como o do Leblon na capital do<<strong>br</strong> />
império”, informa José Murilo de Carvalho<<strong>br</strong> />
(2007 : 188). Ainda que as fugas tenham sido<<strong>br</strong> />
importante fator causal, outros motivos concorreram<<strong>br</strong> />
para a manutenção dos quilombos: “as<<strong>br</strong> />
fugas não necessariamente representariam o<<strong>br</strong> />
principal meio de reprodução da maioria dos<<strong>br</strong> />
grandes quilombos americanos” (Florentino,<<strong>br</strong> />
2005).<<strong>br</strong> />
Alfredo Wagner B. de Almeida refere a diversidade<<strong>br</strong> />
de formas jurídicas na origem de muitos<<strong>br</strong> />
quilombos: “aqueles domínios doados, entregues<<strong>br</strong> />
ou adquiridos, com ou sem formalização<<strong>br</strong> />
jurídica, por famílias de escravos”. A transferência<<strong>br</strong> />
teria sido realizada tanto por particulares<<strong>br</strong> />
– “os descendentes diretos de grandes proprietários,<<strong>br</strong> />
sem o antigo poder de coerção, permitiram<<strong>br</strong> />
a permanência das famílias de antigos escravos<<strong>br</strong> />
(e as formas e regras de uso comum) por<<strong>br</strong> />
meio de aforamentos de valor simbólico, como<<strong>br</strong> />
forma de não a<strong>br</strong>ir mão do seu direito de propriedade<<strong>br</strong> />
formal so<strong>br</strong>e elas” –, quanto pelo Estado –<<strong>br</strong> />
“concessões feitas... em retribuição à prestação<<strong>br</strong> />
de serviços guerreiros”. Mas a aquisição das terras<<strong>br</strong> />
pode não se ter prendido a uma transferência<<strong>br</strong> />
e sim ter-se constituído modo de aquisição<<strong>br</strong> />
originária, por ocupação de “domínios ou extensões<<strong>br</strong> />
correspondentes a antigos quilombos e<<strong>br</strong> />
áreas de alforriados...”. 8<<strong>br</strong> />
A formação e o desenvolvimento dos quilombos<<strong>br</strong> />
continuou mesmo depois da abolição oficial<<strong>br</strong> />
da escravidão, pois esta não representou muito<<strong>br</strong> />
mais do que um marco formal e simbólico. A<<strong>br</strong> />
seguir esse entendimento, é possível, conquanto<<strong>br</strong> />
de improvável ocorrência, a formação atual<<strong>br</strong> />
de um (novo) quilombo.<<strong>br</strong> />
Embora a maioria das comunidades quilombolas<<strong>br</strong> />
seja rural, sendo essa uma característica<<strong>br</strong> />
destacada por muitos conceitos formulados 9 e<<strong>br</strong> />
que acentua a importância da terra, há quilombos<<strong>br</strong> />
formados na cidade. A comunidade conhecida<<strong>br</strong> />
como “Família Silva”, localizado em área privilegiada<<strong>br</strong> />
do Município de Porto Alegre (RS), pode<<strong>br</strong> />
ser mencionada como exemplo de quilombo urbano.<<strong>br</strong> />
1.4 A escravidão e a negritude, mas não<<strong>br</strong> />
somente elas<<strong>br</strong> />
Pode-se supor que, não houvesse a escravidão<<strong>br</strong> />
de negros, não haveria quilombos. Talvez a<<strong>br</strong> />
discriminação racial produzisse guetos, mas talvez<<strong>br</strong> />
não com a intensidade – e certamente não<<strong>br</strong> />
com as características – dos quilombos. O conceito<<strong>br</strong> />
proposto não consegue libertar-se da cor.<<strong>br</strong> />
Entendo que o art. 68 ADCT, ao determinar um<<strong>br</strong> />
tratamento jurídico diferenciado e mais favorável<<strong>br</strong> />
aos remanescentes das comunidades de<<strong>br</strong> />
quilombos, consagra uma ação afirmativa baseada<<strong>br</strong> />
na discriminação étnica.<<strong>br</strong> />
Não é sem hora de alguma compensação. Na<<strong>br</strong> />
candente exortação de Joaquim Nabuco (2000 :<<strong>br</strong> />
7<<strong>br</strong> />
Arruti, 2003, citando Alfredo Wagner B. de Almeida.<<strong>br</strong> />
8<<strong>br</strong> />
Arruti, 2003.<<strong>br</strong> />
9<<strong>br</strong> />
Arruti, 2003, citando Glória Moura.<<strong>br</strong> />
Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008<<strong>br</strong> />
193
ROTHENBURG, W. C.<<strong>br</strong> />
15): “Por esses sacrifícios sem número, por esses<<strong>br</strong> />
sofrimentos, cuja terrível concatenação com<<strong>br</strong> />
o progresso lento do país faz da história do Brasil<<strong>br</strong> />
um dos mais tristes episódios do povoamento<<strong>br</strong> />
da América, a raça negra fundou, para outros,<<strong>br</strong> />
uma pátria que ela pode, com muito mais direito,<<strong>br</strong> />
chamar sua...”<<strong>br</strong> />
Regimes jurídicos diferenciados podem concretizar<<strong>br</strong> />
a igualdade, “devendo as situações desiguais<<strong>br</strong> />
ser tratadas de maneira dessemelhante,<<strong>br</strong> />
evitando-se assim o aprofundamento e a perpetuação<<strong>br</strong> />
de desigualdades engendradas pela própria<<strong>br</strong> />
sociedade”, assevera Joaquim. B. Barbosa<<strong>br</strong> />
Gomes (2001 : 4). Especificamente quanto aos<<strong>br</strong> />
remanescentes de comunidades de quilombos,<<strong>br</strong> />
aponta Daniel Sarmento (2007) que, por um<<strong>br</strong> />
lado, “trata-se de norma que se liga à promoção<<strong>br</strong> />
da igualdade substantiva e da justiça social, na<<strong>br</strong> />
medida em que confere direitos territoriais aos<<strong>br</strong> />
integrantes de um grupo desfavorecido, composto<<strong>br</strong> />
quase exclusivamente por pessoas muito po<strong>br</strong>es<<strong>br</strong> />
e que são vítimas de estigma e discriminação”;<<strong>br</strong> />
e, por outro lado, “cuida-se também de uma<<strong>br</strong> />
medida reparatória, que visa a resgatar uma dívida<<strong>br</strong> />
histórica da Nação com comunidades compostas<<strong>br</strong> />
predominantemente por descendentes de<<strong>br</strong> />
escravos, que sofrem ainda hoje os efeitos perversos<<strong>br</strong> />
de muitos séculos de dominação e de violações<<strong>br</strong> />
de direitos”. 10<<strong>br</strong> />
Pouco importa, porém, se todos os que integraram<<strong>br</strong> />
os quilombos eram negros ontem ou se<<strong>br</strong> />
todos são negros hoje. Lem<strong>br</strong>o-me de, numa reunião<<strong>br</strong> />
com uma comunidade remanescente de<<strong>br</strong> />
quilombo no litoral, haver-se manifestado alguém<<strong>br</strong> />
de perfil nórdico, pele e cabelos muito claros,<<strong>br</strong> />
que lá vivia há muito tempo, casado com<<strong>br</strong> />
uma negra da comunidade. Vivendo as vicissitudes<<strong>br</strong> />
da comunidade e vindo a beneficiar-se de<<strong>br</strong> />
políticas públicas que porventura contemplassem<<strong>br</strong> />
essa comunidade, esse alguém não deveria<<strong>br</strong> />
ser considerado quilombola?<<strong>br</strong> />
No campo dos conceitos e suas palavras, há<<strong>br</strong> />
avanços na utilização da etnia, ao invés da raça,<<strong>br</strong> />
como fator de caracterização dos quilombos. É<<strong>br</strong> />
o que explica Arruti (2003):<<strong>br</strong> />
“Como explica Banton (1977), a substituição<<strong>br</strong> />
da raça pela etnicidade aponta<<strong>br</strong> />
para uma mudança nos valores socialmente<<strong>br</strong> />
atribuídos à raça e etnia, na medida<<strong>br</strong> />
em que o uso da primeira aponta<<strong>br</strong> />
para a existência de critérios substantivos<<strong>br</strong> />
(como a cor ou a descendência) e<<strong>br</strong> />
reflete tendências negativas de dissolução<<strong>br</strong> />
e exclusão (os estudos so<strong>br</strong>e o racismo<<strong>br</strong> />
seriam sempre so<strong>br</strong>e a natureza e<<strong>br</strong> />
o poder das maiorias), enquanto a segunda,<<strong>br</strong> />
além de apontar para critérios<<strong>br</strong> />
<strong>org</strong>anizativos, reflete as tendências positivas<<strong>br</strong> />
de identificação e inclusão (os<<strong>br</strong> />
estudos étnicos iluminando o poder que<<strong>br</strong> />
pode ser mobilizado pelas minorias).”<<strong>br</strong> />
1.5 Razões sentimentais e jurídicas<<strong>br</strong> />
A razão da constituição ou da adesão à comunidade<<strong>br</strong> />
(a<strong>br</strong>igo, liberdade, resistência, adesão<<strong>br</strong> />
sem constrangimento externo...), bem como o<<strong>br</strong> />
fundamento jurídico da posse da terra (ocupação,<<strong>br</strong> />
doação, herança, compra...) também têm<<strong>br</strong> />
uma importância mitigada. Importa, sim, investigar<<strong>br</strong> />
como e por que se formaram os quilombos,<<strong>br</strong> />
mas importa so<strong>br</strong>etudo demonstrar a existência<<strong>br</strong> />
atual de uma comunidade tradicional.<<strong>br</strong> />
A idéia de resistência é comumente associada<<strong>br</strong> />
aos quilombos e provavelmente esteja na origem<<strong>br</strong> />
de muitos. Resistência essa que pode ser<<strong>br</strong> />
cultural, “de rebeldia contra os padrões de vida<<strong>br</strong> />
impostos pela sociedade oficial”; ou política, de<<strong>br</strong> />
contestação do poder dominante; ou racial, de<<strong>br</strong> />
afirmação étnica. 11 Dimas Salustiano da Silva<<strong>br</strong> />
(1994 : 58-59) insiste na rebeldia contra a escravidão,<<strong>br</strong> />
na transgressão à ordem, como fator<<strong>br</strong> />
decisivo da formação dos quilombos, que ofereciam<<strong>br</strong> />
alternativa para um destino miserável:<<strong>br</strong> />
“Desde o aborto, quando as mães precipitavam<<strong>br</strong> />
seus filhos ao falecimento para não vê-los sob<<strong>br</strong> />
sofrimento; passando pelas fugas isoladas, sem<<strong>br</strong> />
maiores obstáculos para o aprisionamento; pelos<<strong>br</strong> />
suicídios, forma extrema do encontro da li-<<strong>br</strong> />
10<<strong>br</strong> />
Territórios Quilombolas e Constituição: A ADI 3.239-09 e a Constitucionalidade do Decreto 4.88703. Parecer apresentado em 2007 ao Grupo de<<strong>br</strong> />
Trabalho so<strong>br</strong>e Quilombos, Povos e Comunidades Tradicionais da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – Procuradoria-Geral<<strong>br</strong> />
da República.<<strong>br</strong> />
11<<strong>br</strong> />
Arruti, 2003, citando Édson Carneiro, entre outros.<<strong>br</strong> />
194 Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008
<strong>DIREITOS</strong> <strong>DOS</strong> <strong><strong>DE</strong>SCEN<strong>DE</strong>NTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ESCRAVOS</strong> (REMANESCENTES DAS COMUNIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> QUILOMBOS)<<strong>br</strong> />
berdade pelo sacrifício da vida; até o reencontro<<strong>br</strong> />
com a esperança de decidirem so<strong>br</strong>e seus<<strong>br</strong> />
destinos, suas vidas e Histórias, ao <strong>org</strong>anizarem<<strong>br</strong> />
os Quilombos.”<<strong>br</strong> />
O conceito de resistência pode ser bastante<<strong>br</strong> />
a<strong>br</strong>angente. A Associação Brasileira de Antropologia<<strong>br</strong> />
(ABA) instituiu um grupo de trabalho<<strong>br</strong> />
que, em 1994, formulou a seguinte definição<<strong>br</strong> />
para quilombos: “‘grupos que desenvolveram<<strong>br</strong> />
práticas de resistência na manutenção e reprodução<<strong>br</strong> />
de seus modos de vida característicos num<<strong>br</strong> />
determinado lugar’, cuja identidade se define por<<strong>br</strong> />
‘uma referência histórica comum, construída a<<strong>br</strong> />
partir de vivências e valores partilhados’”<<strong>br</strong> />
(ARRUTI, 2003). Uma concepção mais estreita<<strong>br</strong> />
de resistência, no entanto, pode revelar não ser<<strong>br</strong> />
indispensável essa característica. O que mais importa<<strong>br</strong> />
é a emergência de uma identidade comunitária,<<strong>br</strong> />
não necessariamente por oposição.<<strong>br</strong> />
A abertura conceitual tem em vista apreender<<strong>br</strong> />
a diversidade de aspectos que contam na<<strong>br</strong> />
formação e desenvolvimento dos quilombos.<<strong>br</strong> />
1.6 O anacronismo das datas<<strong>br</strong> />
O revogado Decreto 3.912, de 10 de setem<strong>br</strong>o<<strong>br</strong> />
de 2001, so<strong>br</strong>e o “processo administrativo<<strong>br</strong> />
para identificação dos remanescentes das<<strong>br</strong> />
comunidades dos quilombos e para o reconhecimento,<<strong>br</strong> />
a delimitação, a demarcação, a titulação<<strong>br</strong> />
e o registro imobiliário das terras por eles ocupadas”,<<strong>br</strong> />
dispunha artificialmente que “somente<<strong>br</strong> />
pode ser reconhecida a propriedade so<strong>br</strong>e as terras<<strong>br</strong> />
que: I – eram ocupadas por quilombos em<<strong>br</strong> />
1888; e II – estavam ocupadas por remanescentes<<strong>br</strong> />
das comunidades dos quilombos em 5 de outu<strong>br</strong>o<<strong>br</strong> />
de 1988” (data da promulgação da atual<<strong>br</strong> />
Constituição da República).<<strong>br</strong> />
13 de maio de 1888 é apenas uma data<<strong>br</strong> />
relevante de um processo de abolição que se iniciou<<strong>br</strong> />
antes e não se encerrou imediatamente nesse<<strong>br</strong> />
dia. Muitos preferem inclusive, como data simbólica,<<strong>br</strong> />
o 20 de novem<strong>br</strong>o, “Dia da Consciência<<strong>br</strong> />
Negra”, que corresponde ao dia da morte de<<strong>br</strong> />
12<<strong>br</strong> />
Rothenburg, 2007 : 313.<<strong>br</strong> />
13<<strong>br</strong> />
José Murilo de Carvalho, 2007 : 257.<<strong>br</strong> />
14<<strong>br</strong> />
Rothenburg, 2001 : 18.<<strong>br</strong> />
Zumbi, um dos líderes do mais famoso quilombo<<strong>br</strong> />
<strong>br</strong>asileiro, de Palmares, no Estado de Alagoas,<<strong>br</strong> />
que chegou a ter aproximadamente 30 mil pessoas<<strong>br</strong> />
e foi arrasado por ordem dos colonizadores<<strong>br</strong> />
portugueses em 1694. 12<<strong>br</strong> />
A abolição formal da escravidão em 13 de<<strong>br</strong> />
maio de 1888 não deve representar um marco<<strong>br</strong> />
temporal muito importante, pois as notícias dessa<<strong>br</strong> />
abolição – que já havia sido decretada antes<<strong>br</strong> />
(1884) em algumas províncias como Ceará e<<strong>br</strong> />
Amazonas 13 – chegaram em momentos diversos<<strong>br</strong> />
ao diferentes lugares de um país de vastas proporções<<strong>br</strong> />
e precárias condições de transporte e<<strong>br</strong> />
comunicação em fins do século XIX, e não significaram,<<strong>br</strong> />
necessariamente, uma alteração efetiva<<strong>br</strong> />
das condições de vida: “a abolição não alterou<<strong>br</strong> />
a situação de fato da população negra no<<strong>br</strong> />
Brasil, que permaneceu excluída dos mais elementares<<strong>br</strong> />
direitos do cidadão” (ARRUTI, 2003);<<strong>br</strong> />
“o fim da escravidão não resultou no fim da violência<<strong>br</strong> />
racial, nem dos processos de expropriação<<strong>br</strong> />
fundiária e, muito menos, da resistência a<<strong>br</strong> />
eles” (idem).<<strong>br</strong> />
Quilombos houve que se formaram mesmo<<strong>br</strong> />
após a abolição formal da escravidão. “Assim –<<strong>br</strong> />
pontua Dalmo de A<strong>br</strong>eu Dallari (2001 : 11-12)<<strong>br</strong> />
–, muitos dos quilombos formados anteriormente<<strong>br</strong> />
não se desfizeram e outros se constituíram, porque<<strong>br</strong> />
continuaram a ser, para muitos, a única possibilidade<<strong>br</strong> />
de viver em liberdade, segundo sua<<strong>br</strong> />
cultura e preservando sua dignidade.” Portanto,<<strong>br</strong> />
as terras ocupadas ou justamente reivindicadas<<strong>br</strong> />
por remanescentes das comunidades de quilombos<<strong>br</strong> />
“podem ter sido ocupadas por quilombolas<<strong>br</strong> />
depois de 1888”. 14 Já tive ocasião de ilustrar:<<strong>br</strong> />
“Ademais, várias razões poderiam levar<<strong>br</strong> />
a que terras de quilombos se encontrassem,<<strong>br</strong> />
em 1888, ocasionalmente desocupadas.<<strong>br</strong> />
Imagine-se um quilombo anterior<<strong>br</strong> />
a 1888 que, por violência de latifundiários<<strong>br</strong> />
da região, houvesse sido desocupado<<strong>br</strong> />
temporariamente em 1888 mas<<strong>br</strong> />
voltasse a ser ocupado logo em seguida<<strong>br</strong> />
(digamos, em 1889), quando a violência<<strong>br</strong> />
cessasse. Então, as terras em questão<<strong>br</strong> />
podem não ter estado ocupadas por<<strong>br</strong> />
quilombolas em 1888.” 15<<strong>br</strong> />
Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008<<strong>br</strong> />
195
ROTHENBURG, W. C.<<strong>br</strong> />
Aproveitando-se indevidamente de uma topografia<<strong>br</strong> />
(norma situada nas disposições constitucionais<<strong>br</strong> />
transitórias) e de uma redação (o<<strong>br</strong> />
gerúndio “remanescentes das comunidades dos<<strong>br</strong> />
quilombos que estejam ocupando suas terras”),<<strong>br</strong> />
o Decreto 3.912/2001 “pretendeu delimitar temporalmente<<strong>br</strong> />
a incidência da norma num momento<<strong>br</strong> />
preciso”: a data da promulgação da Constituição<<strong>br</strong> />
<strong>br</strong>asileira, em 5 de outu<strong>br</strong>o de 1988. Ignorou-se<<strong>br</strong> />
que o importante é uma ocupação atual<<strong>br</strong> />
e que a vocação da norma jurídica é a disciplina<<strong>br</strong> />
do presente e do futuro.<<strong>br</strong> />
“A noção de ocupação tradicional não<<strong>br</strong> />
implica, necessariamente, uma ocupação<<strong>br</strong> />
antiga e ininterrupta, prendendo-se<<strong>br</strong> />
o conceito antes ao modo de ocupação<<strong>br</strong> />
(ligado à tradição da comunidade) que<<strong>br</strong> />
a seu lapso temporal. Basta imaginar<<strong>br</strong> />
novamente uma situação de desocupação<<strong>br</strong> />
ocasional em 5 de outu<strong>br</strong>o de 1988:<<strong>br</strong> />
em virtude, por exemplo, da pressão da<<strong>br</strong> />
especulação imobiliária, toda uma comunidade<<strong>br</strong> />
quilombola é instada a abandonar<<strong>br</strong> />
a região, indo instalar-se na periferia<<strong>br</strong> />
de um centro urbano maior, muitos<<strong>br</strong> />
voltando, porém, à primeira oportunidade<<strong>br</strong> />
ou desilusão. Fantasiemos a tragicomédia<<strong>br</strong> />
de uma comunidade quilombola<<strong>br</strong> />
que tivesse sido convidada a assistir,<<strong>br</strong> />
em Brasília, à promulgação da Constituição<<strong>br</strong> />
de 1988 – que lhes reconheceu<<strong>br</strong> />
a propriedade das terras tradicionalmente<<strong>br</strong> />
ocupadas; ao retornar, a comunidade<<strong>br</strong> />
teria perdido o direito, pois não estava<<strong>br</strong> />
ocupando as terras no fatídico dia 5 de<<strong>br</strong> />
outu<strong>br</strong>o de 1988...” 16<<strong>br</strong> />
É inconstitucional essa indevida restrição<<strong>br</strong> />
“cronológica” que o antigo decreto pretendeu<<strong>br</strong> />
impor à norma da Constituição. Esta não estabeleceu<<strong>br</strong> />
marcos temporais nem exigiu “coincidência<<strong>br</strong> />
entre a ocupação originária e a atual”<<strong>br</strong> />
(ARRUTI, 2003).<<strong>br</strong> />
A falta de razoabilidade no estabelecimento<<strong>br</strong> />
de tal período salta aos olhos quando se percebe<<strong>br</strong> />
que a aquisição da propriedade por usucapião é<<strong>br</strong> />
muito mais fácil: “o maior prazo para usucapião<<strong>br</strong> />
da legislação civil [<strong>br</strong>asileira] é de 15 anos (art.<<strong>br</strong> />
1.238 do Código Civil)”, enquanto, para os<<strong>br</strong> />
quilombolas, exigir-se-ia o prazo absurdo de cem<<strong>br</strong> />
anos (1888-1988), aponta Daniel Sarmento<<strong>br</strong> />
(2007).<<strong>br</strong> />
2. Fenômeno latino-americano<<strong>br</strong> />
A escravidão negra como causa freqüente dos<<strong>br</strong> />
quilombos fez com que eles aparecessem em<<strong>br</strong> />
quase toda a América Latina. Diversos foram as<<strong>br</strong> />
designações: “quilombos” ou “mocambos” (no<<strong>br</strong> />
Brasil) 17 , “palenques” (na Colômbia – onde se<<strong>br</strong> />
formaram desde o final do século XVI 18 ; nas<<strong>br</strong> />
Guianas), “marrons” (na Jamaica), “cumbes”,<<strong>br</strong> />
“manieles”. Nem os Estados Unidos escaparam:<<strong>br</strong> />
na Flórida então espanhola, no vilarejo de Gracia<<strong>br</strong> />
Real de Santa Teresa de Mose, formou-se “um<<strong>br</strong> />
santuário... que acolhia e libertava os escravos<<strong>br</strong> />
que fugiam das Treze Colônias” (Florentino,<<strong>br</strong> />
2005).<<strong>br</strong> />
3. Os sujeitos: comunidades remanescentes<<strong>br</strong> />
de quilombos ou remanescentes<<strong>br</strong> />
das comunidades de<<strong>br</strong> />
quilombos?<<strong>br</strong> />
A considerar a relação fortemente comunitária<<strong>br</strong> />
que integra os remanescentes de quilombos<<strong>br</strong> />
e o modo coletivo como grande parte das comunidades,<<strong>br</strong> />
de vocação rural, apropria-se da terra e<<strong>br</strong> />
dos recursos naturais, e os utiliza, o sujeito de<<strong>br</strong> />
direitos haveria de ser precipuamente a própria<<strong>br</strong> />
comunidade, tomada “como um todo”, “holisticamente”.<<strong>br</strong> />
Com efeito, as propostas originais de<<strong>br</strong> />
texto para a Constituição sugeriam que se reconhecesse<<strong>br</strong> />
“a propriedade definitiva das terras<<strong>br</strong> />
ocupadas pelas comunidades negras remanescentes<<strong>br</strong> />
de quilombos” (destaquei). 19<<strong>br</strong> />
15<<strong>br</strong> />
Rothenburg, 2001 : 19.<<strong>br</strong> />
16<<strong>br</strong> />
Rothenburg, 2001 : 19.<<strong>br</strong> />
17<<strong>br</strong> />
Dimas Salustiano da Silva, 1994 : 59.<<strong>br</strong> />
18<<strong>br</strong> />
Pietro Lora Alarcón, 2007.<<strong>br</strong> />
196 Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008
<strong>DIREITOS</strong> <strong>DOS</strong> <strong><strong>DE</strong>SCEN<strong>DE</strong>NTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ESCRAVOS</strong> (REMANESCENTES DAS COMUNIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> QUILOMBOS)<<strong>br</strong> />
Sujeitos coletivos e direitos metaindividuais<<strong>br</strong> />
ainda causam desconforto para um Direito forjado<<strong>br</strong> />
em molde individualista. Talvez por isso, a<<strong>br</strong> />
redação final do art. 68 ADCT trocou sutilmente<<strong>br</strong> />
de sujeito: a expressão “comunidades remanescentes<<strong>br</strong> />
de quilombos” (onde o núcleo é o termo<<strong>br</strong> />
“comunidades”, que se refere à coletividade)<<strong>br</strong> />
foi alterada para “remanescentes das comunidades<<strong>br</strong> />
de quilombos” (onde o núcleo é o termo<<strong>br</strong> />
“remanescentes”, que se refere aos indivíduos).<<strong>br</strong> />
Um escuso objetivo pragmático que estaria<<strong>br</strong> />
na interpretação individualista, seria o de “impedir<<strong>br</strong> />
a atuação do Ministério Público Federal”<<strong>br</strong> />
(Arruti, 2003), que teria legitimação para a defesa<<strong>br</strong> />
de interesses difusos (metaindividuais) e<<strong>br</strong> />
individuais indisponíveis, mas não para a defesa<<strong>br</strong> />
de direitos individuais disponíveis, como seria<<strong>br</strong> />
a propriedade fundiária dos remanescentes<<strong>br</strong> />
das comunidades de quilombos. Porém, não é<<strong>br</strong> />
com uma interpretação tão tacanha que se consegue<<strong>br</strong> />
afastar a atuação do Ministério Público,<<strong>br</strong> />
pois as questões ligadas a quilombos – não apenas<<strong>br</strong> />
a questão fundiária – têm um interesse cultural<<strong>br</strong> />
nacional (direito “difuso”) expressamente<<strong>br</strong> />
consagrado na própria Constituição (art. 216); a<<strong>br</strong> />
propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes<<strong>br</strong> />
das comunidades quilombolas caracteriza-se<<strong>br</strong> />
à evidência como interesse coletivo e a<<strong>br</strong> />
legislação complementar (Constituição, art. 129,<<strong>br</strong> />
IX) atribui especificamente ao Ministério Público<<strong>br</strong> />
Federal a promoção do inquérito civil e da<<strong>br</strong> />
ação civil pública para “a proteção dos interesses<<strong>br</strong> />
individuais indisponíveis, difusos e coletivos,<<strong>br</strong> />
relativos às comunidades indígenas, à família,<<strong>br</strong> />
à criança, ao adolescente, ao idoso, às<<strong>br</strong> />
minorias étnicas e ao consumidor” (Lei Complementar<<strong>br</strong> />
75, de 20 de maio de 1993, art. 6º,<<strong>br</strong> />
VII, “c”).<<strong>br</strong> />
A alteração de expressões não consegue<<strong>br</strong> />
alterar, portanto, a possível e freqüente natureza<<strong>br</strong> />
coletiva do sujeito de direitos, qual seja, a<<strong>br</strong> />
comunidade formada por remanescentes de<<strong>br</strong> />
quilombos.<<strong>br</strong> />
3.1 Associações representativas das<<strong>br</strong> />
comunidades<<strong>br</strong> />
Advieram conseqüências jurídicas imediatas<<strong>br</strong> />
dessa compreensão individualista. Órgãos governamentais<<strong>br</strong> />
envolvidos com a questão quilombola,<<strong>br</strong> />
como a Fundação Cultural Palmares, do<<strong>br</strong> />
Ministério da Cultura, fomentaram a instituição<<strong>br</strong> />
de associações representativas das comunidades,<<strong>br</strong> />
tendo criado um modelo de estatuto e uma estratégia<<strong>br</strong> />
de implantação. Em nome dessas associações<<strong>br</strong> />
é que foram e vêm sendo conferidos títulos<<strong>br</strong> />
de propriedade, assim como as associações<<strong>br</strong> />
é que são destinatárias de políticas públicas<<strong>br</strong> />
concernentes.<<strong>br</strong> />
Trata-se da imposição – eventualmente bem<<strong>br</strong> />
intencionada – de um modelo artificial. As associações<<strong>br</strong> />
freqüentemente trazem problemas de<<strong>br</strong> />
política interna e reproduzem, quando não acirram,<<strong>br</strong> />
conflitos da própria comunidade. Por exemplo,<<strong>br</strong> />
a cisão de um grupo ou a expulsão de indivíduos,<<strong>br</strong> />
embora os afastem da associação, não<<strong>br</strong> />
lhes retiram a pertença à comunidade. Ademais,<<strong>br</strong> />
associações podem ser desfeitas espontaneamente<<strong>br</strong> />
e até desconstituídas coativamente, enquanto<<strong>br</strong> />
as comunidades a que se referem podem permanecer.<<strong>br</strong> />
Especificamente quanto à propriedade imobiliária,<<strong>br</strong> />
não haveria impedimento a que a atribuição<<strong>br</strong> />
formal se desse em caráter coletivo, à<<strong>br</strong> />
própria comunidade. Essa a solução adotada pelo<<strong>br</strong> />
Juiz Federal da 7ª Vara em Salvador (Bahia),<<strong>br</strong> />
Dr. Wilson Alves Souza, em sentença da Ação<<strong>br</strong> />
Ordinária 93.12284-3, datada de 30 de julho de<<strong>br</strong> />
1999, contemplando os remanescentes dos quilombolas<<strong>br</strong> />
da Comunidade Negra Rio das Rãs.<<strong>br</strong> />
Parece, no entanto, que prevaleceu uma tacanha<<strong>br</strong> />
aplicação da lei ordinária (no caso, a Lei<<strong>br</strong> />
6.015, de 31 de dezem<strong>br</strong>o de 1973, relativa aos<<strong>br</strong> />
registros públicos) so<strong>br</strong>e a norma constitucional,<<strong>br</strong> />
ao invés de uma desejável interpretação<<strong>br</strong> />
conforme a Constituição.<<strong>br</strong> />
Ao menos, optou-se por gravar a propriedade<<strong>br</strong> />
das terras quilombolas com cláusula de<<strong>br</strong> />
inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade<<strong>br</strong> />
(Decreto 4.887/2003, art. 17).<<strong>br</strong> />
19<<strong>br</strong> />
ARRUTI, 2003, QUE CITA DIMAS SALUSTIANO DA SILVA.<<strong>br</strong> />
Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008<<strong>br</strong> />
197
ROTHENBURG, W. C.<<strong>br</strong> />
Essa alternativa minora as conseqüências de uma<<strong>br</strong> />
atribuição individualista e a aproxima, em seus<<strong>br</strong> />
efeitos, de uma titulação coletiva.<<strong>br</strong> />
O aspecto positivo do modelo individualista<<strong>br</strong> />
“associação” adotado, e o aspecto negativo do<<strong>br</strong> />
modelo coletivista “comunidade” aqui sugerido<<strong>br</strong> />
(mas que inspirou a cláusula de restrição), está<<strong>br</strong> />
na possibilidade que aquele modelo oferece à<<strong>br</strong> />
comunidade de adaptar a disposição da propriedade<<strong>br</strong> />
de acordo com sua deliberação. Se de fato<<strong>br</strong> />
não há uma apropriação coletiva da terra e dos<<strong>br</strong> />
recursos naturais ou se o modo de apropriação<<strong>br</strong> />
modifica-se, cabe à própria comunidade deliberar<<strong>br</strong> />
quanto à forma de gerir sua propriedade.<<strong>br</strong> />
Modelos impositivos a partir de determinações<<strong>br</strong> />
heterônomas carecem de legitimidade. Contudo,<<strong>br</strong> />
o Direito tem uma vocação de proteção e a<<strong>br</strong> />
realidade <strong>br</strong>asileira atual justifica tal cuidado: a<<strong>br</strong> />
inalienabilidade das terras tradicionalmente ocupadas<<strong>br</strong> />
pelas comunidades remanescentes de<<strong>br</strong> />
quilombos deve valer como princípio.<<strong>br</strong> />
3.2 Autodefinição<<strong>br</strong> />
É inconcebível que, no âmbito da construção<<strong>br</strong> />
da identidade, so<strong>br</strong>elevem critérios heterônomos,<<strong>br</strong> />
estabelecidos por “estrangeiros” para<<strong>br</strong> />
caracterizar comunidades humanas de que não<<strong>br</strong> />
fazem parte. “Devemos encontrar alguma outra<<strong>br</strong> />
maneira de assegurar a legitimidade, uma maneira<<strong>br</strong> />
que não continue a definir grupos excluídos<<strong>br</strong> />
em função de uma identidade que outros<<strong>br</strong> />
criaram para eles.” – adverte Will Kymlicka<<strong>br</strong> />
(2006 : 293). O art. 68 ADCT deve ser interpretado<<strong>br</strong> />
como adotante de um critério de autodefinição,<<strong>br</strong> />
a partir das “práticas dos próprios interessados<<strong>br</strong> />
ou daqueles que potencialmente podem<<strong>br</strong> />
ser contemplados” (ALFREDO WAGNER B.<<strong>br</strong> />
<strong>DE</strong> ALMEIDA 20 ). Significa que o Direito acata<<strong>br</strong> />
o modo como a própria comunidade implicada<<strong>br</strong> />
estabelece relações de pertinência e “regula<<strong>br</strong> />
quem faz e quem não faz parte do grupo”<<strong>br</strong> />
(ARRUTI, 2003).<<strong>br</strong> />
Essa orientação indeclinável inspira a regulamentação:<<strong>br</strong> />
o Decreto 4.887/2003 preceitua que<<strong>br</strong> />
“a caracterização dos remanescentes das comunidades<<strong>br</strong> />
dos quilombos será atestada mediante<<strong>br</strong> />
autodefinição da própria comunidade” (art. 2º,<<strong>br</strong> />
§ 1º), e que essa autodefinição “será inscrita no<<strong>br</strong> />
Cadastro Geral junto à Fundação Cultural<<strong>br</strong> />
Palmares, que expedirá certidão respectiva” (art.<<strong>br</strong> />
3º, § 4º). O critério da auto-identificação também<<strong>br</strong> />
é o adotado em âmbito internacional: a<<strong>br</strong> />
Convenção 169 da OIT dispõe que a consciência<<strong>br</strong> />
da própria identidade “deverá ser considerada<<strong>br</strong> />
como critério fundamental para determinar<<strong>br</strong> />
os grupos” aos quais se aplica a Convenção (art.<<strong>br</strong> />
1.2). 21<<strong>br</strong> />
A participação ativa e primordial da comunidade<<strong>br</strong> />
na definição de sua identidade supõe um<<strong>br</strong> />
grau razoável de consciência e de informação a<<strong>br</strong> />
respeito de si e das conseqüências da auto-atribuição.<<strong>br</strong> />
Nesse sentido, é um momento do direito<<strong>br</strong> />
que as comunidades remanescentes de quilombo<<strong>br</strong> />
têm de participar, informadamente, de todo<<strong>br</strong> />
o procedimento de regularização fundiária de<<strong>br</strong> />
suas terras, conforme lhes assegura o Decreto<<strong>br</strong> />
4.887/2003 (art. 6º). 22<<strong>br</strong> />
A auto-identificação não é isenta de problemas.<<strong>br</strong> />
Nenhum critério o é, e a auto-identificação<<strong>br</strong> />
tem a vantagem insuperável da legitimidade.<<strong>br</strong> />
Contudo, tem-se de levar em consideração – o<<strong>br</strong> />
que pode significar, juridicamente, a possibilidade<<strong>br</strong> />
de exame – a perda de clareza ao se abandonarem<<strong>br</strong> />
marcos “seguros” oferecidos por “processos<<strong>br</strong> />
sociais objetivos”, por uma auto-atribuição,<<strong>br</strong> />
“um tipo de sentimento, de compreensão e<<strong>br</strong> />
de representação de si; enfim, ... uma propriedade<<strong>br</strong> />
subjetiva dos indivíduos projetada no grupo”.<<strong>br</strong> />
23<<strong>br</strong> />
A regulamentação <strong>br</strong>asileira não ignora processos<<strong>br</strong> />
sociais objetivos. Como pondera Juliana<<strong>br</strong> />
Santilli (2005 : 136-137), os principais critérios<<strong>br</strong> />
adotados para a identificação das comunidades<<strong>br</strong> />
de quilombos são “a auto-atribuição (critério<<strong>br</strong> />
também consagrado pela Convenção 169 da<<strong>br</strong> />
OIT, já mencionado) e a relação histórica com<<strong>br</strong> />
um território específico”. O Decreto 4.887/2003<<strong>br</strong> />
determina que devam ser avaliados também outros<<strong>br</strong> />
fatores (trajetória histórica própria, relações<<strong>br</strong> />
20<<strong>br</strong> />
Citado por Arruti, 2003.<<strong>br</strong> />
21<<strong>br</strong> />
Juliana Santilli, 2005 : 136-137.<<strong>br</strong> />
22<<strong>br</strong> />
Paulo Affonso Leme Machado (2006 : 34-35) acentua a relação entre informação e participação.<<strong>br</strong> />
198 Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008
<strong>DIREITOS</strong> <strong>DOS</strong> <strong><strong>DE</strong>SCEN<strong>DE</strong>NTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ESCRAVOS</strong> (REMANESCENTES DAS COMUNIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> QUILOMBOS)<<strong>br</strong> />
territoriais específicas, ancestralidade negra relacionada<<strong>br</strong> />
com a resistência à opressão histórica),<<strong>br</strong> />
que revestem de objetividade a auto-atribuição<<strong>br</strong> />
inicial.<<strong>br</strong> />
Apenas que todo o procedimento não prescinde,<<strong>br</strong> />
desde o início, da autodefinição. A indispensável<<strong>br</strong> />
auto-identificação precisa ser seguida<<strong>br</strong> />
da “identificação, delimitação e levantamento<<strong>br</strong> />
ocupacional e cartorial” da área (art. 7º do Decreto<<strong>br</strong> />
4.887/2003), retratadas num relatório técnico,<<strong>br</strong> />
que deverá ser encaminhado a diversos<<strong>br</strong> />
órgãos para manifestação (art. 8º) e permitirá<<strong>br</strong> />
contestação por qualquer interessado (art. 9º). É<<strong>br</strong> />
possível afirmar, contudo, e com Arruti (2003),<<strong>br</strong> />
que “o peso que o argumento da auto-atribuição<<strong>br</strong> />
terá na argumentação pelo reconhecimento oficial<<strong>br</strong> />
será inversamente proporcional ao peso que<<strong>br</strong> />
se puder atribuir aos outros itens daquelas listas<<strong>br</strong> />
de critérios que têm orientado a descrição de tais<<strong>br</strong> />
comunidades”.<<strong>br</strong> />
Se a auto-atribuição apresenta-se, do ponto<<strong>br</strong> />
de vista antropológico, como o mais indicado<<strong>br</strong> />
critério de reconhecimento de uma comunidade<<strong>br</strong> />
como remanescente de quilombo, pode ser que<<strong>br</strong> />
reste ao Direito a tarefa ingrata de invalidá-lo<<strong>br</strong> />
em situações de fraude evidente. Se um grupo<<strong>br</strong> />
supostamente fragilizado candidata-se à obtenção<<strong>br</strong> />
de vantagens públicas, num contexto de escassez<<strong>br</strong> />
que é típico dos recursos públicos e dramático<<strong>br</strong> />
em Estados de muita gente po<strong>br</strong>e, a<<strong>br</strong> />
usurpação da condição que legitima essa candidatura<<strong>br</strong> />
viola gravemente a isonomia, pois priva<<strong>br</strong> />
de tais vantagens outros grupos realmente fragilizados.<<strong>br</strong> />
Portanto, assim como não se pode ignorar<<strong>br</strong> />
a precedência do critério da auto-identificação,<<strong>br</strong> />
não se deve so<strong>br</strong>evalorizá-lo, mas admitir,<<strong>br</strong> />
em casos extremos, sua infirmação. Certo é,<<strong>br</strong> />
contudo, que a auto-atribuição goza de uma presunção<<strong>br</strong> />
favorável e exige forte argumentação<<strong>br</strong> />
para ser invalidada.<<strong>br</strong> />
Além disso, a auto-identificação comunitária<<strong>br</strong> />
pode ser mal utilizada no interior da própria<<strong>br</strong> />
comunidade e engendrar situações de opressão.<<strong>br</strong> />
Imagine-se que disputas políticas internas levem<<strong>br</strong> />
à exclusão arbitrária de alguém da associação<<strong>br</strong> />
que congrega os integrantes da comunidade.<<strong>br</strong> />
Esse indivíduo pode ter seu reconhecimento<<strong>br</strong> />
“formal” negado pela comunidade (por seus representantes<<strong>br</strong> />
dominantes), apesar de se sentir<<strong>br</strong> />
pertencente à comunidade e ter a seu favor outros<<strong>br</strong> />
critérios “objetivos” (como a etnia, a ascendência,<<strong>br</strong> />
os hábitos...). Juridicamente, é possível<<strong>br</strong> />
pleitear-se a nulidade da exclusão formal da associação<<strong>br</strong> />
e atribuir a esse indivíduo vantagens<<strong>br</strong> />
destinadas aos demais integrantes da comunidade.<<strong>br</strong> />
4. O reconhecimento da<<strong>br</strong> />
propriedade das terras<<strong>br</strong> />
tradicionalmente ocupadas<<strong>br</strong> />
Tem natureza declaratória o art. 68 ADCT,<<strong>br</strong> />
no ponto em que reconhece aos remanescentes<<strong>br</strong> />
das comunidades de quilombos a propriedade<<strong>br</strong> />
das terras por eles tradicionalmente ocupadas.<<strong>br</strong> />
A propriedade reconhecida não se cinge ao<<strong>br</strong> />
território efetivamente ocupado pelos remanescentes<<strong>br</strong> />
das comunidades de quilombos no momento,<<strong>br</strong> />
mas àquele que a<strong>br</strong>ange “os espaços que<<strong>br</strong> />
fazem parte de seus usos, costumes e tradições,<<strong>br</strong> />
que possuem os recursos ambientais necessários<<strong>br</strong> />
à sua manutenção e às reminiscências históricas<<strong>br</strong> />
que permitam perpetuar sua memória”<<strong>br</strong> />
(ARRUTI, 2003), e que tenha sido ocupado tradicionalmente,<<strong>br</strong> />
ainda que a ocupação momentânea<<strong>br</strong> />
seja mais restrita. A chave para a compreensão<<strong>br</strong> />
da expressão “terras” do art. 68 ADCT é<<strong>br</strong> />
dada pela própria Constituição, por analogia, ao<<strong>br</strong> />
tratar da situação – em tantos pontos semelhante<<strong>br</strong> />
– dos índios, no art. 231, § 1º: “São terras<<strong>br</strong> />
tradicionalmente ocupadas pelos índios as por<<strong>br</strong> />
eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas<<strong>br</strong> />
para suas atividades produtivas, as imprescindíveis<<strong>br</strong> />
á preservação dos recursos ambientais<<strong>br</strong> />
necessários a seu bem-estar e as necessárias a<<strong>br</strong> />
sua reprodução física e cultural, segundo seus<<strong>br</strong> />
usos, costumes e tradições.”<<strong>br</strong> />
4.1 Autoaplicabilidade do art. 68 ADCT 24<<strong>br</strong> />
Desde a promulgação da Constituição de<<strong>br</strong> />
1988 que se discute a propósito da aplicabilidade<<strong>br</strong> />
(eficácia jurídica) do art. 68 ADCT.<<strong>br</strong> />
23<<strong>br</strong> />
Arruti, 2003.<<strong>br</strong> />
Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008<<strong>br</strong> />
199
ROTHENBURG, W. C.<<strong>br</strong> />
Contudo, a aplicabilidade imediata (eficácia<<strong>br</strong> />
jurídica plena) é evidente e ressalta já da redação<<strong>br</strong> />
do dispositivo. Estão suficientemente indicados,<<strong>br</strong> />
no plano normativo, o objeto do direito<<strong>br</strong> />
(a propriedade definitiva das terras ocupadas),<<strong>br</strong> />
seu sujeito ou beneficiário (os remanescentes das<<strong>br</strong> />
comunidades dos quilombos), a condição (a<<strong>br</strong> />
ocupação tradicional das terras), o dever correlato<<strong>br</strong> />
(reconhecimento da propriedade e emissão<<strong>br</strong> />
dos títulos respectivos) e o sujeito passivo<<strong>br</strong> />
ou devedor (o Estado, Poder Público). Qualquer<<strong>br</strong> />
leitor bem-intencionado compreende tranqüilamente<<strong>br</strong> />
o que a norma quer dizer, e o jurista consegue<<strong>br</strong> />
aplicá-la sem necessidade de integração<<strong>br</strong> />
legal.<<strong>br</strong> />
O art. 68 ADCT consagra diversos direitos<<strong>br</strong> />
fundamentais, como o direito à moradia e à cultura.<<strong>br</strong> />
Do regime específico e reforçado dos direitos<<strong>br</strong> />
fundamentais decorre a tendencial<<strong>br</strong> />
aplicabilidade imediata, visto que – aponta<<strong>br</strong> />
Daniel Sarmento (2006) – “os direitos fundamentais<<strong>br</strong> />
não dependem de concretização<<strong>br</strong> />
legislativa para surtirem os seus efeitos”.<<strong>br</strong> />
Também indicam a eficácia jurídica plena<<strong>br</strong> />
desse artigo: o conteúdo da declaração normativa<<strong>br</strong> />
(simplesmente o reconhecimento de um direito<<strong>br</strong> />
e a atribuição de um dever específico de atuação<<strong>br</strong> />
do Poder Público) e sua localização nas disposições<<strong>br</strong> />
transitórias (que, justamente para poderem<<strong>br</strong> />
disciplinar imediatamente situações de<<strong>br</strong> />
transição entre sistemas constitucionais que se<<strong>br</strong> />
sucedem, devem estar dotadas de normatividade<<strong>br</strong> />
suficiente, segundo a lição de José Afonso da<<strong>br</strong> />
Silva, 1982 : 189-191).<<strong>br</strong> />
Aspectos específicos relacionados ao âmbito<<strong>br</strong> />
concreto (identificação de pessoas, delimitação<<strong>br</strong> />
de áreas etc.) e ao âmbito administrativo<<strong>br</strong> />
(órgãos competentes, procedimento...) não criam<<strong>br</strong> />
direitos e deveres “externos”, apenas regulamentam<<strong>br</strong> />
a atuação estatal, e não carecem, portanto,<<strong>br</strong> />
de lei para serem disciplinados.<<strong>br</strong> />
Ademais, para satisfazer o princípio da legalidade<<strong>br</strong> />
lá onde ele se impõe (a <strong>org</strong>anização<<strong>br</strong> />
administrativa, a legislação so<strong>br</strong>e desapropriação<<strong>br</strong> />
etc.), já existe todo um arcabouço legislativo<<strong>br</strong> />
que sustenta a aplicação do Decreto 4.887/2003.<<strong>br</strong> />
Ou seja: o art. 68 ADCT não necessita de lei<<strong>br</strong> />
para sua aplicabilidade, mas onde esta é exigida<<strong>br</strong> />
no geral, existem diversas leis pertinentes. Citem-se,<<strong>br</strong> />
a propósito, a Lei 9.649/1998, so<strong>br</strong>e a<<strong>br</strong> />
<strong>org</strong>anização da Presidência da República e dos<<strong>br</strong> />
Ministérios, que atribui ao Ministério da Cultura<<strong>br</strong> />
competência para “aprovar a delimitação das<<strong>br</strong> />
terras dos remanescentes das comunidades dos<<strong>br</strong> />
quilombos, bem como determinar as suas demarcações,<<strong>br</strong> />
que serão homologadas mediante decreto”<<strong>br</strong> />
(art. 14, IV, “c”); e a Lei 7.668/1988, que<<strong>br</strong> />
institui a Fundação Cultural Palmares e lhe dá<<strong>br</strong> />
competência para “realizar a identificação dos<<strong>br</strong> />
remanescentes das comunidades dos quilombos,<<strong>br</strong> />
proceder ao reconhecimento, à delimitação e à<<strong>br</strong> />
demarcação das terras por eles ocupadas e conferir-lhes<<strong>br</strong> />
a correspondente titulação” (art. 2º, III).<<strong>br</strong> />
Ressalte-se que, ao adotar a Convenção 169<<strong>br</strong> />
da OIT, so<strong>br</strong>e povos indígenas e tribais, o Brasil<<strong>br</strong> />
compromete-se, no plano internacional, a adotar<<strong>br</strong> />
“as medidas que sejam necessárias para determinar<<strong>br</strong> />
as terras que os povos interessados ocupam<<strong>br</strong> />
tradicionalmente e garantir a proteção efetiva<<strong>br</strong> />
dos seus direitos de propriedade e posse”<<strong>br</strong> />
(art. 14.2).<<strong>br</strong> />
Mais importante, todavia, é considerar o tempo<<strong>br</strong> />
transcorrido. Passados quase vinte anos da<<strong>br</strong> />
promulgação da Constituição, não tem mais<<strong>br</strong> />
cabimento essa discussão a respeito da autoaplicabilidade<<strong>br</strong> />
do art. 68 ADCT, senão com intenção<<strong>br</strong> />
de neutralizar o comando constitucional. Um<<strong>br</strong> />
comprometimento com a efetividade da Constituição<<strong>br</strong> />
implica “construir uma argumentação<<strong>br</strong> />
so<strong>br</strong>e o art. 68 que não inviabilizasse as ações<<strong>br</strong> />
positivas já existentes em prol da realização do<<strong>br</strong> />
direito lá estabelecido”, destaca o Centro de<<strong>br</strong> />
Pesquisas Aplicadas da Sociedade Brasileira de<<strong>br</strong> />
Direito Público (CARLOS ARI SUNDFELD,<<strong>br</strong> />
2002 : 112).<<strong>br</strong> />
Quando a densidade da norma constitucional<<strong>br</strong> />
é suficiente e há apenas necessidade de regulamentação<<strong>br</strong> />
para uma atuação administrativa<<strong>br</strong> />
24<<strong>br</strong> />
Esse texto corresponde quase inteiramente ao Parecer contrário ao Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 2007, de autoria do Deputado Federal<<strong>br</strong> />
Valdir Colatto, por mim apresentado em 2007 ao Grupo de Trabalho so<strong>br</strong>e Quilombos, Povos e Comunidades Tradicionais da 6ª Câmara de Coordenação<<strong>br</strong> />
e Revisão do Ministério Público Federal – Procuradoria-Geral da República.<<strong>br</strong> />
200 Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008
<strong>DIREITOS</strong> <strong>DOS</strong> <strong><strong>DE</strong>SCEN<strong>DE</strong>NTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ESCRAVOS</strong> (REMANESCENTES DAS COMUNIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> QUILOMBOS)<<strong>br</strong> />
adequada, não faz falta a interposição legislativa<<strong>br</strong> />
e pode ser estabelecida uma relação imediata<<strong>br</strong> />
entre a Constituição e o decreto, conforme<<strong>br</strong> />
admitem doutrina e jurisprudência, na figura da<<strong>br</strong> />
“reserva de lei relativa” (TEMISTOCLE<<strong>br</strong> />
MARTINES, 2005 : 379). Vejam-se os exemplos<<strong>br</strong> />
da “<strong>org</strong>anização e funcionamento da administração<<strong>br</strong> />
federal, quando não implicar aumento<<strong>br</strong> />
de despesa nem criação ou extinção de órgãos<<strong>br</strong> />
públicos”, e da “extinção de funções ou cargos<<strong>br</strong> />
públicos, quando vagos” (Constituição, art. 84,<<strong>br</strong> />
VI), bem como da intervenção federal (art. 36,<<strong>br</strong> />
§ 1º). Como precisa Daniel Sarmento (2007),<<strong>br</strong> />
“se a Constituição pode ser aplicada diretamente<<strong>br</strong> />
pela Administração Pública, independentemente<<strong>br</strong> />
de qualquer mediação concretizadora da<<strong>br</strong> />
lei, parece evidente a possibilidade de edição de<<strong>br</strong> />
atos normativos pela administração que pautem<<strong>br</strong> />
esta aplicação, seja para explicitar o sentido de<<strong>br</strong> />
norma constitucional, seja para definir os procedimentos<<strong>br</strong> />
tendentes à viabilização da sua incidência”.<<strong>br</strong> />
Em outras hipóteses, pode já existir legislação<<strong>br</strong> />
e o regulamento é apenas aparentemente<<strong>br</strong> />
autônomo, conforme decidiu o Supremo Tribunal<<strong>br</strong> />
Federal em relação à antiga Portaria 796/<<strong>br</strong> />
2000, do Ministro da Justiça, so<strong>br</strong>e classificação<<strong>br</strong> />
indicativa dos programas de televisão: o<<strong>br</strong> />
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/<<strong>br</strong> />
1990) era a prévia lei necessária. 25<<strong>br</strong> />
Portanto, o art. 68 ADCT possui suficiente<<strong>br</strong> />
densidade normativa, sendo autoaplicável. É<<strong>br</strong> />
perfeitamente cabível a regulamentação de aspectos<<strong>br</strong> />
meramente administrativos relacionados<<strong>br</strong> />
a dispositivo constitucional autoaplicável. E há<<strong>br</strong> />
diversas leis preexistentes que dão sustentação<<strong>br</strong> />
a essa regulamentação.<<strong>br</strong> />
4.2 Dever dos Municípios, dos Estados e da<<strong>br</strong> />
União<<strong>br</strong> />
O art. 68 ADCT atribui genericamente ao<<strong>br</strong> />
Estado a incumbência de garantir a propriedade<<strong>br</strong> />
das terras ocupadas pelos remanescentes das<<strong>br</strong> />
comunidades de quilombos e emitir os respectivos<<strong>br</strong> />
títulos de propriedade. A expressão “Estado”<<strong>br</strong> />
obviamente não se refere aos Estados-mem<strong>br</strong>os,<<strong>br</strong> />
pois não haveria sentido em restringir essa<<strong>br</strong> />
incumbência apenas a tais entes federados. Significa<<strong>br</strong> />
“Poder Público” e deve ser lida de acordo<<strong>br</strong> />
com o princípio federativo, a a<strong>br</strong>anger todas as<<strong>br</strong> />
esferas (municipal, estadual e federal).<<strong>br</strong> />
A existência de regulamentos federais justifica-se<<strong>br</strong> />
duplamente: enquanto disciplina geral do<<strong>br</strong> />
art. 68 ADCT e enquanto disciplina específica<<strong>br</strong> />
do Governo Federal, mas sempre de natureza<<strong>br</strong> />
eminentemente administrativa.<<strong>br</strong> />
A regulamentação em nível federal “não exclui<<strong>br</strong> />
– e nem poderia – os órgãos locais (so<strong>br</strong>etudo<<strong>br</strong> />
os estaduais) de realizar, no âmbito de suas<<strong>br</strong> />
competências, os atos de regularização fundiária<<strong>br</strong> />
das terras de quilombos”. 26<<strong>br</strong> />
Municípios, que são sempre as unidades mais<<strong>br</strong> />
próximas, e Estados, que muitas vezes reúnem<<strong>br</strong> />
melhores condições do que o Governo federal,<<strong>br</strong> />
não devem eximir-se de regularizar a situação<<strong>br</strong> />
fundiária dos respectivos remanescentes das<<strong>br</strong> />
comunidades de quilombos, inclusive arcando<<strong>br</strong> />
com eventuais indenizações. Atribuir esse ônus<<strong>br</strong> />
financeiro sempre à União, sem admitir a própria<<strong>br</strong> />
responsabilidade ou compartilhar o dever<<strong>br</strong> />
constitucional, afronta o princípio federativo.<<strong>br</strong> />
Diversas competências materiais comuns, ou<<strong>br</strong> />
seja, distribuídas a todos os entes da federação<<strong>br</strong> />
<strong>br</strong>asileira, sustentam a atuação também dos Estados<<strong>br</strong> />
e Municípios: proteger os bens de valor<<strong>br</strong> />
histórico e cultural (Constituição, art. 23, III);<<strong>br</strong> />
“promover programas de construção de moradias<<strong>br</strong> />
e a melhoria das condições habitacionais e<<strong>br</strong> />
de saneamento básico” (art. 23, IX); “combater<<strong>br</strong> />
as causas da po<strong>br</strong>eza e os fatores de marginalização,<<strong>br</strong> />
promovendo a integração social dos<<strong>br</strong> />
setores desfavorecidos” (art. 23, X)...<<strong>br</strong> />
A se admitir a desapropriação como forma<<strong>br</strong> />
de garantir a propriedade das terras dos remanescentes<<strong>br</strong> />
das comunidades de quilombos, a<<strong>br</strong> />
legislação <strong>br</strong>asileira permite que também os<<strong>br</strong> />
Municípios e Estados, além da União, desapropriem<<strong>br</strong> />
por utilidade pública ou por interesse social;<<strong>br</strong> />
apenas a modalidade de desapropriação<<strong>br</strong> />
25<<strong>br</strong> />
Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.398 AgR/DF, relator Ministro Cezar Peluso, 25/06/2007.<<strong>br</strong> />
26<<strong>br</strong> />
Rothenburg, 2001 : 18.<<strong>br</strong> />
Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008<<strong>br</strong> />
201
ROTHENBURG, W. C.<<strong>br</strong> />
para reforma agrária é privativa da União (Constituição,<<strong>br</strong> />
art. 184).<<strong>br</strong> />
4.3 Descabimento de desapropriação,<<strong>br</strong> />
cabimento de indenização<<strong>br</strong> />
Uma leitura conservadora e tímida do art. 68<<strong>br</strong> />
ADCT, ainda que bem-intencionada, sustenta a<<strong>br</strong> />
necessidade de desapropriação das terras tradicionalmente<<strong>br</strong> />
ocupadas por remanescentes de<<strong>br</strong> />
comunidades de quilombos, mas que estejam<<strong>br</strong> />
tituladas ou que de alguma forma pertençam a<<strong>br</strong> />
particulares. O Decreto 4.887/2003 adota esse<<strong>br</strong> />
equivocado entendimento (art. 13). Tal interpretação<<strong>br</strong> />
não se sustenta ante o texto claro do art.<<strong>br</strong> />
68 ADCT, que reconhece desde logo aos remanescentes<<strong>br</strong> />
das comunidades de quilombos a propriedade<<strong>br</strong> />
definitiva dessas terras. Se a Constituição<<strong>br</strong> />
reconhece a propriedade, ou seja, se a<<strong>br</strong> />
atribuição dessa propriedade ocorreu por força<<strong>br</strong> />
da norma constitucional, não há o que desapropriar:<<strong>br</strong> />
não se pode expropriar o que já é de seu<<strong>br</strong> />
domínio.<<strong>br</strong> />
Mas podem ter-se constituído validamente<<strong>br</strong> />
direitos em relação a essas terras. Detentores de<<strong>br</strong> />
títulos anteriores (antigos “proprietários”), quiçá<<strong>br</strong> />
legitimamente adquiridos; posseiros, alguns<<strong>br</strong> />
em convivência pacífica com os remanescentes<<strong>br</strong> />
das comunidades de quilombos; uns e outros que<<strong>br</strong> />
tenham feito benfeitorias, merecem a devida indenização.<<strong>br</strong> />
Se é certo que a Constituição ignora o direito<<strong>br</strong> />
anterior de propriedade – por isso que não<<strong>br</strong> />
cabe desapropriação das terras –, ela não ignora<<strong>br</strong> />
a existência de situações jurídicas que configuram<<strong>br</strong> />
direitos de outra natureza, eventualmente<<strong>br</strong> />
de importância fundamental (como o direito de<<strong>br</strong> />
moradia: Constituição, art. 6º) e também passíveis<<strong>br</strong> />
de avaliação. 27 É justo que toda a sociedade<<strong>br</strong> />
arque com o sacrifício de direitos específicos<<strong>br</strong> />
em prol dos remanescentes das comunidades de<<strong>br</strong> />
quilombos.<<strong>br</strong> />
“Afinal, é interesse de todos os <strong>br</strong>asileiros<<strong>br</strong> />
– das presentes e futuras gerações<<strong>br</strong> />
– preservar a cultura dos quilombolas,<<strong>br</strong> />
e, por outro lado, é também um dever<<strong>br</strong> />
de todos nós contribuir para o resgate<<strong>br</strong> />
da dívida histórica que a Nação tem com<<strong>br</strong> />
os remanescentes de quilombos. Não<<strong>br</strong> />
seria razoável que os ônus relacionados<<strong>br</strong> />
à efetivação deste direito recaíssem exclusivamente<<strong>br</strong> />
so<strong>br</strong>e os antigos proprietários<<strong>br</strong> />
das terras ocupadas pelas comunidades<<strong>br</strong> />
quilombolas, so<strong>br</strong>etudo levando-se<<strong>br</strong> />
em conta a definição ampla dos<<strong>br</strong> />
territórios quilombolas, estabelecida no<<strong>br</strong> />
Decreto 4.887/03 – essencial, como se<<strong>br</strong> />
verá adiante, para a efetiva proteção da<<strong>br</strong> />
cultura e da identidade étnica destes grupos.”<<strong>br</strong> />
(DANIEL SARMENTO, 2007)<<strong>br</strong> />
Acresça-se que essa compensação, so<strong>br</strong>e ser<<strong>br</strong> />
justa, tende a afastar ou reduzir conflitos e, assim,<<strong>br</strong> />
garantir a efetividade do direito de propriedade<<strong>br</strong> />
das terras dos remanescentes de comunidades<<strong>br</strong> />
de quilombos.<<strong>br</strong> />
Ao reconhecerem-se direitos àqueles que figurem<<strong>br</strong> />
como titulares ou detenham terras que são<<strong>br</strong> />
ou foram tradicionalmente ocupadas por remanescentes<<strong>br</strong> />
de comunidades de quilombos, embora<<strong>br</strong> />
se negando a qualificação de tais direitos<<strong>br</strong> />
como de propriedade, elide-se a suspeita de que<<strong>br</strong> />
“a impossibilidade de desapropriação tem a intenção<<strong>br</strong> />
de proteger a União [e os demais entes<<strong>br</strong> />
da federação] contra as ações de responsabilidade<<strong>br</strong> />
que começam a ser movidas contra ela, pelo<<strong>br</strong> />
não cumprimento de suas o<strong>br</strong>igações constitucionais”<<strong>br</strong> />
(ARRUTI, 2003). Muito pelo contrário:<<strong>br</strong> />
o procedimento de desapropriação tende a<<strong>br</strong> />
ser moroso e pode frustrar as expectativas assim<<strong>br</strong> />
do desapropriado – pela dificuldade em receber<<strong>br</strong> />
sua indenização – como do beneficiado –<<strong>br</strong> />
pela dificuldade em ver-se mantido ou imediatamente<<strong>br</strong> />
imitido na posse.<<strong>br</strong> />
Todavia, a entender-se que é necessária ou<<strong>br</strong> />
conveniente a desapropriação (opinião que refutamos),<<strong>br</strong> />
as modalidades existentes no Direito<<strong>br</strong> />
<strong>br</strong>asileiro são suficientes. Não se pode acusar o<<strong>br</strong> />
27<<strong>br</strong> />
Como pondera Daniel Sarmento (2007): “na escala de valores da Constituição, o direito à terra dos quilombolas tem, a priori, um peso superior ao<<strong>br</strong> />
direito de propriedade dos particulares em cujos nomes as áreas estejam registradas. Contudo, isto não significa que se possa simplesmente ignorar<<strong>br</strong> />
este último direito na resolução da questão. Pelo contrário, no equacionamento da colisão, é necessário preservá-lo em alguma medida, de forma<<strong>br</strong> />
compatível com o princípio da proporcionalidade.”<<strong>br</strong> />
202 Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008
<strong>DIREITOS</strong> <strong>DOS</strong> <strong><strong>DE</strong>SCEN<strong>DE</strong>NTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ESCRAVOS</strong> (REMANESCENTES DAS COMUNIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> QUILOMBOS)<<strong>br</strong> />
Decreto 4.887/2003 de instituir indevidamente<<strong>br</strong> />
um novo tipo de desapropriação, o que somente<<strong>br</strong> />
à lei seria dado (Constituição, art. 22, II).<<strong>br</strong> />
As modalidades expropriatórias que poderiam<<strong>br</strong> />
ser utilizadas, justamente para regularizar<<strong>br</strong> />
a situação fundiária e garantir indenização a posseiros<<strong>br</strong> />
que residam e/ou cultivem as terras dos<<strong>br</strong> />
remanescentes de quilombos, são as clássicas<<strong>br</strong> />
desapropriações por utilidade pública (prevista<<strong>br</strong> />
no Decreto-lei 3.365/1941) e por interesse social<<strong>br</strong> />
(prevista na Lei 4.132/1962). A propósito, o<<strong>br</strong> />
Presidente da República desapropriou por “interesse<<strong>br</strong> />
social, para fins de titulação de área remanescente<<strong>br</strong> />
de quilombo”, a área onde se situa<<strong>br</strong> />
a comunidade remanescente de quilombo da<<strong>br</strong> />
Caçandoca, no Município de Ubatuba, Estado<<strong>br</strong> />
de São Paulo (Decreto de 27 de setem<strong>br</strong>o de<<strong>br</strong> />
2006). 28<<strong>br</strong> />
É discutível se caberia ainda, em casos específicos,<<strong>br</strong> />
a desapropriação “por interesse social,<<strong>br</strong> />
para fins de reforma agrária”, pela União (Constituição,<<strong>br</strong> />
art. 184). Era essa a forma determinada<<strong>br</strong> />
na anterior Instrução Normativa nº 20, de 19 de<<strong>br</strong> />
novem<strong>br</strong>o de 2005, do Presidente do Instituto<<strong>br</strong> />
Nacional de Colonização e Reforma Agrária<<strong>br</strong> />
(INCRA), que regulamentava o procedimento<<strong>br</strong> />
estabelecido no Decreto 4.887/2003; essa Instrução<<strong>br</strong> />
Normativa previa também a desapropriação<<strong>br</strong> />
mencionada no art. 216, § 1º, da Constituição<<strong>br</strong> />
(desapropriação com o objetivo de promover<<strong>br</strong> />
e proteger o patrimônio cultural <strong>br</strong>asileiro,<<strong>br</strong> />
hipótese contida no Decreto-lei 3.365/1941, art.<<strong>br</strong> />
5º, “l”) e a compra e venda “na forma prevista<<strong>br</strong> />
no Decreto 433/92” (so<strong>br</strong>e a aquisição de imóveis<<strong>br</strong> />
rurais, para fins de reforma agrária).<<strong>br</strong> />
4.4 As formas de apropriação dos meios de<<strong>br</strong> />
produção e o direito de dispor do patrimônio<<strong>br</strong> />
A cultura comunitária das comunidades remanescentes<<strong>br</strong> />
de quilombos e a vocação agrícola<<strong>br</strong> />
apontam com freqüência para formas de apropriação<<strong>br</strong> />
coletiva da terra e de outros meios de<<strong>br</strong> />
produção econômica: “uma apropriação comum<<strong>br</strong> />
dos recursos” (ALFREDO WAGNER B. <strong>DE</strong><<strong>br</strong> />
ALMEIDA). 29 Tal coletivismo pode ter uma origem<<strong>br</strong> />
histórica, quando os descendentes das famílias<<strong>br</strong> />
que formaram antigos quilombos não procedem<<strong>br</strong> />
ao formal de partilha e não se apoderam<<strong>br</strong> />
individualmente das terras ocupadas: “Gerando,<<strong>br</strong> />
assim, um sistema fundado por laços de consangüinidade,<<strong>br</strong> />
onde so<strong>br</strong>essaem o compadrio e as<<strong>br</strong> />
formalidades não recaem, necessariamente, so<strong>br</strong>e<<strong>br</strong> />
os indivíduos, pondo as famílias acima de<<strong>br</strong> />
muitas das exigências sociais; isto leva à indivisibilidade<<strong>br</strong> />
do patrimônio dessas unidades sociais<<strong>br</strong> />
circunscritas numa base fixa, considerada<<strong>br</strong> />
comum, essencial e inalienável.” (DIMAS<<strong>br</strong> />
SALUSTIANO DA SILVA, 1994 : 60). A forma<<strong>br</strong> />
de apropriação mais ou menos coletiva dos<<strong>br</strong> />
meios de produção desafia o padrão individualista,<<strong>br</strong> />
como bem ressalta esse estudioso:<<strong>br</strong> />
“Os Quilombos não são apenas o exemplo<<strong>br</strong> />
do passado, assim como foram a<<strong>br</strong> />
mais bem sucedida forma de luta contra<<strong>br</strong> />
a exploração escravocrata, forneceram<<strong>br</strong> />
ao longo do tempo a coragem e os<<strong>br</strong> />
gestos heróicos para as atuais comunidades<<strong>br</strong> />
e áreas de conflito que, mesmo a<<strong>br</strong> />
despeito de serem vistas como fadadas<<strong>br</strong> />
ao desaparecimento, representam o mais<<strong>br</strong> />
espetacular contra-ponto à lógica capitalista<<strong>br</strong> />
de expansão da propriedade individual<<strong>br</strong> />
absoluta de hoje.” 30<<strong>br</strong> />
É também um desafio para nosso Direito,<<strong>br</strong> />
moldado sob a perspectiva individualista, dar<<strong>br</strong> />
guarida a essa concepção coletivista. Quando a<<strong>br</strong> />
Constituição reconhece a propriedade das terras<<strong>br</strong> />
tradicionalmente ocupadas pelos remanescentes<<strong>br</strong> />
das comunidades de quilombos, está implícita<<strong>br</strong> />
a determinação de que essa propriedade<<strong>br</strong> />
deva ser reconhecida tal como as comunidades<<strong>br</strong> />
a adotem. O direito de propriedade tem de “ser<<strong>br</strong> />
lido como direito à propriedade” (LUIZ EDSON<<strong>br</strong> />
FACHIN, 2000 : 289) do modo mais autêntico.<<strong>br</strong> />
Com efeito, não se trata de problema de difícil<<strong>br</strong> />
solução. Basta a titulação e o respectivo registro<<strong>br</strong> />
de propriedade da terra, por exemplo, em<<strong>br</strong> />
nome da comunidade. Enquanto esta existir e<<strong>br</strong> />
28<<strong>br</strong> />
Rothenburg, Parecer contrário ao Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 2007, de autoria do Deputado Federal Valdir Colatto, 2007.<<strong>br</strong> />
29<<strong>br</strong> />
Citado por Arruti, 2003<<strong>br</strong> />
Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008<<strong>br</strong> />
203
ROTHENBURG, W. C.<<strong>br</strong> />
enquanto adotar formas coletivas de apropriação,<<strong>br</strong> />
o Direito deve acolher tais modalidades.<<strong>br</strong> />
Ocorre, entretanto, que a comunidade pode<<strong>br</strong> />
adotar outras formas de apropriação, mais ou<<strong>br</strong> />
menos ortodoxas. O mais comum talvez seja<<strong>br</strong> />
“uma combinação de apropriação privada e de<<strong>br</strong> />
práticas de uso comum superpostos, harmonicamente<<strong>br</strong> />
respeitadas, com eficácia plena para todo<<strong>br</strong> />
o grupo”. 31 O reconhecimento jurídico da propriedade<<strong>br</strong> />
não é escravo de uma modalidade de<<strong>br</strong> />
apropriação comum. Ao contrário do que pode<<strong>br</strong> />
fazer supor uma concepção romântica de comunidades<<strong>br</strong> />
primitivas, ingênuas e solidárias, e de<<strong>br</strong> />
vocação agropastoril, a comunidade real de remanescentes<<strong>br</strong> />
de quilombos pode adotar a forma<<strong>br</strong> />
convencional de propriedade divisível e individual,<<strong>br</strong> />
pode realizar transações cotidianas com<<strong>br</strong> />
essas propriedades, pode decidir dar outro destino<<strong>br</strong> />
às terras que ocupam tradicionalmente. Julie<<strong>br</strong> />
Ringelheim (2006 : 7), ao analisar a Convenção<<strong>br</strong> />
Européia dos Direitos Humanos, refere que, no<<strong>br</strong> />
contexto das diferentes culturas, conforme apontam<<strong>br</strong> />
sociólogos e antropólogos, “as normas e as<<strong>br</strong> />
práticas são interpretadas, negociadas, modificadas<<strong>br</strong> />
pelos próprios atores sociais”. O Direito<<strong>br</strong> />
não pode pretender engessar as práticas comunitárias<<strong>br</strong> />
e manter a comunidade numa redoma<<strong>br</strong> />
jurídica; ao contrário, o Direito deve ser receptivo<<strong>br</strong> />
à possível autonomia negocial da comunidade.<<strong>br</strong> />
A regulamentação jurídica da propriedade<<strong>br</strong> />
das terras ocupadas pelos remanescentes das<<strong>br</strong> />
comunidades de quilombos é altamente protetiva<<strong>br</strong> />
e provavelmente bem-intencionada. O Decreto<<strong>br</strong> />
4.887/2003 determina que o título de propriedade<<strong>br</strong> />
emitido seja “coletivo e pró-indiviso..., com<<strong>br</strong> />
o<strong>br</strong>igatória cláusula de inalienabilidade,<<strong>br</strong> />
imprescritibilidade e de impenhorabilidade” (art.<<strong>br</strong> />
17). A impossibilidade jurídica de penhora é<<strong>br</strong> />
indicada na própria Constituição em relação à<<strong>br</strong> />
pequena propriedade rural “trabalhada pela família”<<strong>br</strong> />
(art. 5º, XXVI) e manifesta uma “garantia<<strong>br</strong> />
ao patrimônio mínimo” (LUIZ EDSON<<strong>br</strong> />
FACHIN, 2000 : 301). Aparentemente, é imposto<<strong>br</strong> />
um único padrão jurídico, quando, por certo,<<strong>br</strong> />
a interpretação a prevalecer é de que seja esse o<<strong>br</strong> />
modelo ordinário, por ser mais protetivo, desde<<strong>br</strong> />
que corresponda à realidade e às expectativas<<strong>br</strong> />
da comunidade.<<strong>br</strong> />
A Carta das Nações Unidas (1945) assegura,<<strong>br</strong> />
genericamente, a autodeterminação dos povos<<strong>br</strong> />
(art. 1º.2 e art. 55), no que é acompanhada<<strong>br</strong> />
pela Declaração so<strong>br</strong>e o Direito ao Desenvolvimento<<strong>br</strong> />
(1986 – art. 1º.2). É reconhecido, assim,<<strong>br</strong> />
um “direito dos povos de dispor de si mesmos”<<strong>br</strong> />
(NORBERT ROULAND, 2004 : 212-<<strong>br</strong> />
213), o que deve estender-se às formas de apropriação<<strong>br</strong> />
e disposição de seu patrimônio.<<strong>br</strong> />
5. Enquanto não vem a titulação: a<<strong>br</strong> />
proteção dos direitos fundamentais<<strong>br</strong> />
Os remanescentes das comunidades de<<strong>br</strong> />
quilombos têm, como todos, o direito fundamental<<strong>br</strong> />
de propriedade (Constituição, art. 5º, XXII)<<strong>br</strong> />
das terras ocupadas tradicionalmente. O direito<<strong>br</strong> />
so<strong>br</strong>e essas terras assume, no caso, uma importância<<strong>br</strong> />
singular, pois confere suporte à própria<<strong>br</strong> />
identidade comunitária. Nas palavras de DANIEL<<strong>br</strong> />
SARMENTO (2007):<<strong>br</strong> />
“Para comunidades tradicionais, a terra<<strong>br</strong> />
possui um significado completamente<<strong>br</strong> />
diferente da que ele apresenta para a<<strong>br</strong> />
cultura ocidental de massas. Não se trata<<strong>br</strong> />
apenas da moradia, que pode ser<<strong>br</strong> />
trocada pelo indivíduo sem maiores<<strong>br</strong> />
traumas, mas sim do elo que mantém a<<strong>br</strong> />
união do grupo, e que permite a sua continuidade<<strong>br</strong> />
no tempo através de sucessivas<<strong>br</strong> />
gerações, possibilitando a preservação<<strong>br</strong> />
da cultura, dos valores e do modo<<strong>br</strong> />
peculiar de vida da comunidade étnica.<<strong>br</strong> />
“Privado da terra, o grupo tende a se<<strong>br</strong> />
dispersar e a desaparecer, absorvido pela<<strong>br</strong> />
sociedade envolvente. Portanto, não é<<strong>br</strong> />
só a terra que se perde, pois a identidade<<strong>br</strong> />
coletiva também periga sucumbir.<<strong>br</strong> />
Dessa forma, não é exagero afirmar que<<strong>br</strong> />
30<<strong>br</strong> />
Dimas Salustiano da Silva, 1994 : 69.<<strong>br</strong> />
31<<strong>br</strong> />
Dimas Salustiano da Silva (1994 : 60), citando Alfredo Wagner B. de Almeida.<<strong>br</strong> />
204 Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008
<strong>DIREITOS</strong> <strong>DOS</strong> <strong><strong>DE</strong>SCEN<strong>DE</strong>NTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>ESCRAVOS</strong> (REMANESCENTES DAS COMUNIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> QUILOMBOS)<<strong>br</strong> />
quando se retira a terra de uma comunidade<<strong>br</strong> />
quilombola, não se está apenas violando<<strong>br</strong> />
o direito à moradia dos seus<<strong>br</strong> />
mem<strong>br</strong>os. Muito mais que isso, se atenta<<strong>br</strong> />
contra a própria identidade étnica<<strong>br</strong> />
destas pessoas. Daí porque, o direito à<<strong>br</strong> />
terra dos remanescentes de quilombo é<<strong>br</strong> />
também um direito fundamental cultural<<strong>br</strong> />
(art. 215, CF).<<strong>br</strong> />
“... a perda da identidade coletiva para<<strong>br</strong> />
os integrantes destes grupos costuma<<strong>br</strong> />
gerar crises profundas, intenso sofrimento<<strong>br</strong> />
e uma sensação de desamparo e<<strong>br</strong> />
de desorientação, que dificilmente encontram<<strong>br</strong> />
paralelo entre os integrantes da<<strong>br</strong> />
cultura capitalista de massas.”<<strong>br</strong> />
Antes mesmo do direito de propriedade, é<<strong>br</strong> />
preciso assegurar o direito à moradia (Constituição,<<strong>br</strong> />
art. 6º), por meio da tutela jurídica imediata<<strong>br</strong> />
da posse (DANIEL SARMENTO, 2006).<<strong>br</strong> />
Realçando a fundamentalidade do direito à moradia,<<strong>br</strong> />
Ingo Wolfgang Sarlet (2005 : 331) aponta<<strong>br</strong> />
que a Organização das Nações Unidas (ONU)<<strong>br</strong> />
estabeleceu critérios que devem ser atendidos:<<strong>br</strong> />
“a segurança jurídica para a posse, a disponibilidade<<strong>br</strong> />
de uma infraestrutura básica a garantir<<strong>br</strong> />
condições saudáveis de habitabilidade, o acesso<<strong>br</strong> />
a outros serviços sociais essenciais e o respeito<<strong>br</strong> />
à identidade e diversidade cultural da população”.<<strong>br</strong> />
Saúde, educação, previdência social, assistência<<strong>br</strong> />
social, assistência jurídica, enfim, qualquer<<strong>br</strong> />
direito fundamental deve ser garantido aos<<strong>br</strong> />
remanescentes das comunidades de quilombos.<<strong>br</strong> />
A afirmação escapa da obviedade, se encerrar a<<strong>br</strong> />
advertência de que os direitos fundamentais<<strong>br</strong> />
independem da regularização fundiária. Enquanto<<strong>br</strong> />
essa regularização não vier e mesmo que ela<<strong>br</strong> />
não aconteça, os direitos fundamentais constituirão<<strong>br</strong> />
exigência autônoma e impostergável. Por<<strong>br</strong> />
isso, é inválido o estabelecimento da condição<<strong>br</strong> />
de regularização da propriedade das terras ocupadas<<strong>br</strong> />
pelas comunidades remanescentes de<<strong>br</strong> />
quilombos, para que elas sejam contemplados<<strong>br</strong> />
com saneamento básico ou escola pública, por<<strong>br</strong> />
exemplo.<<strong>br</strong> />
Mencione-se ainda o direito metaindividual,<<strong>br</strong> />
pertencente a todos, de desfrute cultural, representado<<strong>br</strong> />
pela singularidade das comunidades remanescentes<<strong>br</strong> />
de quilombos. Trata-se de uma<<strong>br</strong> />
compreensão mais ampla do patrimônio histórico<<strong>br</strong> />
e cultural, “que se funda na valorização e no<<strong>br</strong> />
respeito às diferenças, e no reconhecimento da<<strong>br</strong> />
importância para o país da cultura de cada um<<strong>br</strong> />
dos diversos grupos que compõem a nacionalidade<<strong>br</strong> />
<strong>br</strong>asileira” (DANIEL SARMENTO, 2007).<<strong>br</strong> />
Todos esses direitos das comunidades remanescentes<<strong>br</strong> />
de quilombos trazem a memória da<<strong>br</strong> />
injustiça passada, mas so<strong>br</strong>etudo carregam a esperança<<strong>br</strong> />
da justiça futura.<<strong>br</strong> />
Bibliografia<<strong>br</strong> />
ARRUTI, José Maurício P. A. O quilombo<<strong>br</strong> />
conceitual. Para uma sociologia do “artigo 68”.<<strong>br</strong> />
2003.<<strong>br</strong> />
CARVALHO, José Murilo de. D. Pedro II. Ser<<strong>br</strong> />
ou não ser. São Paulo: Companhia das Letras,<<strong>br</strong> />
2007.<<strong>br</strong> />
COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO <strong>DE</strong> SÃO PAULO.<<strong>br</strong> />
Terra de quilombo. Herança e direito. 4. ed. São<<strong>br</strong> />
Paulo, 2007.<<strong>br</strong> />
DALLARI, Dalmo de A<strong>br</strong>eu. Negros em busca<<strong>br</strong> />
de justiça. In: OLIVEIRA, Leinad Ayer de.<<strong>br</strong> />
(<strong>org</strong>.). Quilombos: a hora e a vez dos so<strong>br</strong>eviventes.<<strong>br</strong> />
São Paulo: Comissão Pró-Índio de São<<strong>br</strong> />
Paulo, 2001, p. 11-22.<<strong>br</strong> />
FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito<<strong>br</strong> />
civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.<<strong>br</strong> />
FLORENTINO, Manolo. Reprodução assistida.<<strong>br</strong> />
Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 nov. 2005.<<strong>br</strong> />
Mais!<<strong>br</strong> />
GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa<<strong>br</strong> />
& princípio constitucional da igualdade. O Direito<<strong>br</strong> />
como instrumento de transformação social.<<strong>br</strong> />
A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar,<<strong>br</strong> />
2001.<<strong>br</strong> />
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles.<<strong>br</strong> />
Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio<<strong>br</strong> />
Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008<<strong>br</strong> />
205
ROTHENBURG, W. C.<<strong>br</strong> />
de Janeiro: Objetiva, 2001, verbete “quilombo”,<<strong>br</strong> />
p. 2359.<<strong>br</strong> />
KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea.<<strong>br</strong> />
São Paulo: Martins Fontes, 2006.<<strong>br</strong> />
LORA ALARCÓN, Pietro. Palenques en<<strong>br</strong> />
Colombia: realidades comunitarias y el problema<<strong>br</strong> />
de la educación. São Paulo, 2007 (não acabado;<<strong>br</strong> />
inédito).<<strong>br</strong> />
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à<<strong>br</strong> />
informação e meio ambiente. São Paulo:<<strong>br</strong> />
Malheiros, 2006.<<strong>br</strong> />
MARTINES, Temistocle. Diritto constituzionale.<<strong>br</strong> />
11. ed. Milano: Giuffrè, 2005.<<strong>br</strong> />
NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. Rio de<<strong>br</strong> />
Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Publifolha,<<strong>br</strong> />
2000.<<strong>br</strong> />
RINGELHEIM, Julie. Diversité culturelle et<<strong>br</strong> />
droits de l’homme. L’émergence de la<<strong>br</strong> />
problématique des minorités dans le droit de la<<strong>br</strong> />
Convention européenne des droits de l’homme.<<strong>br</strong> />
Bruxelles: Bruylant, 2006.<<strong>br</strong> />
ROTHENBURG, Walter Claudius. Parecer contrário<<strong>br</strong> />
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 44,<<strong>br</strong> />
de 2007, de autoria do Deputado Federal Valdir<<strong>br</strong> />
Colatto (apresentado ao Grupo de Trabalho<<strong>br</strong> />
so<strong>br</strong>e Quilombos, Povos e Comunidades Tradicionais<<strong>br</strong> />
da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão<<strong>br</strong> />
do Ministério Público Federal – Procuradoria-Geral<<strong>br</strong> />
da República). Piracicaba, 2007.<<strong>br</strong> />
ROTHENBURG, Walter Claudius. Quilombo.<<strong>br</strong> />
In: DIMOULIS, Dimitri (coord.). Dicionário<<strong>br</strong> />
<strong>br</strong>asileiro de direito constitucional. São Paulo:<<strong>br</strong> />
Saraiva, 2007, p. 313-314. ROTHENBURG,<<strong>br</strong> />
Walter Claudius. O processo administrativo relativo<<strong>br</strong> />
às terras de quilombos: análise do Decreto<<strong>br</strong> />
n. 3.912, de 10 de setem<strong>br</strong>o de 2001. In: OLI-<<strong>br</strong> />
VEIRA, Leinad Ayer de. (<strong>org</strong>.). Quilombos: a<<strong>br</strong> />
hora e a vez dos so<strong>br</strong>eviventes. São Paulo: Comissão<<strong>br</strong> />
Pró-Índio de São Paulo, 2001, p. 17-21.<<strong>br</strong> />
ROULAND, Norbert. (Org.) Direito das minorias<<strong>br</strong> />
e dos povos autóctones. Brasília: Universidade<<strong>br</strong> />
de Brasília, 2004.<<strong>br</strong> />
SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos<<strong>br</strong> />
direitos. Proteção jurídica à diversidade<<strong>br</strong> />
biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005.<<strong>br</strong> />
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos<<strong>br</strong> />
fundamentais. 5. ed. Porto Alegre: Livraria<<strong>br</strong> />
do Advogado, 2005.<<strong>br</strong> />
SARMENTO, Daniel. Territórios Quilombolas<<strong>br</strong> />
e Constituição: A ADI 3.239-09 e a Constitucionalidade<<strong>br</strong> />
do Decreto 4.887/03 (parecer apresentado<<strong>br</strong> />
em 2007 ao Grupo de Trabalho so<strong>br</strong>e<<strong>br</strong> />
Quilombos, Povos e Comunidades Tradicionais<<strong>br</strong> />
da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do<<strong>br</strong> />
Ministério Público Federal – Procuradoria-Geral<<strong>br</strong> />
da República). Rio de Janeiro, 2007.<<strong>br</strong> />
SARMENTO, Daniel. A garantia do direito à<<strong>br</strong> />
posse dos remanescentes de quilombos antes da<<strong>br</strong> />
desapropriação. , Rio<<strong>br</strong> />
de Janeiro, 2006.<<strong>br</strong> />
SILVA, Dimas Salustiano da. Direito insurgente<<strong>br</strong> />
do negro no Brasil: perspectivas e limites no<<strong>br</strong> />
direito oficial. In: CHAGAS, Sílvio Donizete<<strong>br</strong> />
(<strong>org</strong>.). Lições de direito civil alternativo. São<<strong>br</strong> />
Paulo: Acadêmica, 1994, p. 57-71.<<strong>br</strong> />
SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas<<strong>br</strong> />
constitucionais. 2. ed. São Paulo: Revista<<strong>br</strong> />
dos Tribunais, 1982.<<strong>br</strong> />
SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Comunidades<<strong>br</strong> />
quilombolas: direito à terra. Brasília: Fundação<<strong>br</strong> />
Cultural Palmares; Abaré, 2002, p. 112.<<strong>br</strong> />
206 Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 2, p. 189-206, outu<strong>br</strong>o/2008