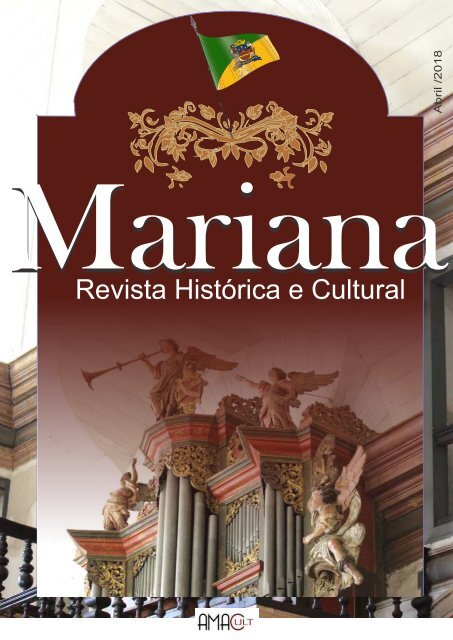You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Abril</strong> /2018<br />
Mariana<br />
<strong>Revista</strong> Histórica e Cultural
“ Aos doces afagos da voz dos meus filhos,<br />
Mais bela que outrora, eu irei ressurgir.”<br />
A <strong>Revista</strong> Mariana Histórica e Cultural é uma publicação eletrônica da<br />
Associação Memória, Artes, Comunicação e Cultura – AMACULT <strong>de</strong><br />
Mariana. O periódico mensal tem por objetivo divulgar matérias, artigos,<br />
ensaios, entrevistas e resenhas sobre a cultura e história <strong>de</strong> Mariana, a<br />
primeira cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Minas Gerais.<br />
A revista é uma vitrine para publicação <strong>de</strong> trabalhos <strong>de</strong> pesquisadores.<br />
Mostrar a cultura <strong>de</strong> uma forma leve, histórias e curiosida<strong>de</strong>s que marcaram<br />
a fantástica do - Primeiro <strong>de</strong>scobrimento, primeira vila, primeira<br />
cida<strong>de</strong>, primeiro bispado e arcebispado, primeira comarca judiciária,<br />
primeira câmara municipal, primeira cida<strong>de</strong> na instalação da primeira<br />
escola primária e normal, primeira Capital <strong>de</strong> Minas, primeira, finalmente,<br />
on<strong>de</strong> se instalou o primeiro Correio Ambulante, tornando-se a pioneira no<br />
setor das comunicações, em Minas Gerais.<br />
A <strong>Revista</strong> Histórica e Cultural <strong>Revista</strong> é um passo importante para a<br />
divulgação e pesquisa <strong>de</strong> conteúdos sobre a cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Mariana.<br />
Esperamos que os textos publicados possam contribuir para a formação<br />
<strong>de</strong> uma consciência <strong>de</strong> preservação e incentivem a pesquisa.<br />
Os conceitos e afirmações contidos nos artigos<br />
são <strong>de</strong> inteira responsabilida<strong>de</strong> dos autores.<br />
Colaboradores:<br />
Prof. Cristiano Casimiro<br />
Prof. Vitor Gomes<br />
Agra<strong>de</strong>cimentos:<br />
Arquivo Histórico da Municipal Câmara <strong>de</strong> Mariana<br />
IPHAN - Escritório Mariana<br />
Arquivo Fotográfico Marezza<br />
Museu da Música <strong>de</strong> Mariana,<br />
Fotografias:<br />
Cristiano Casimiro, Vitor Gomes, Acevo Museu da Música <strong>de</strong> Mariana<br />
Acervo Emílo Ibrahim e Arquivo Marrrezza - Marcio Lima<br />
Diagramação e Artes: Cristiano Casimiro<br />
Capa: Órgão da Sé - Márcio Lima<br />
Arte Cristiano Casimiro<br />
Associação Memória Arte Comunicação e Cultura<br />
CNPJ: 06.002.739/0001-19<br />
Rua Senador Baw<strong>de</strong>n, 122, casa 02
Indice<br />
08<br />
O Gaveteiro e o Maracanã<br />
História <strong>de</strong> Emílio Ibrahim<br />
12<br />
Cláudio Manoel da Costa<br />
O tesouro do Incon<strong>de</strong>nte<br />
22<br />
Museu da Música <strong>de</strong> Mariana<br />
A memória da música colonial Mineira<br />
32<br />
Órgão da Sé <strong>de</strong> Mariana<br />
Órgão do Museu da Música
Foto : Jornal O Globo
O GAVETEIRO E O<br />
MARACANÃ<br />
Emílo Ibrahim
Emílo Ibrahim<br />
Esta é mais uma das histórias, que transcen<strong>de</strong>m<br />
o espaço da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Mariana, mas é<br />
um registro que se po<strong>de</strong> vencer no esporte na<br />
educação. Emílo Ibrahim é um gaveteiro que<br />
alcançou o sucesso longe <strong>de</strong> Mariana, mas<br />
sempre levou e elevou, com orgulho, o nome<br />
da primeira cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Minas.<br />
Nascido na em Mariana, em 20 <strong>de</strong> Outubro<br />
<strong>de</strong> 1925. Orgulha-se muito <strong>de</strong> suas origens<br />
<strong>de</strong> empe<strong>de</strong>rnido amante <strong>de</strong> Mariana. Filho <strong>de</strong><br />
Salomão Ibrahim (Marmarita, Síria) e Nagibe<br />
Maria Ibrahim (Baalbeck, Líbano - cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
mais <strong>de</strong> 3 mil anos).<br />
Passou sua infância na cida<strong>de</strong>, preferencialmente,<br />
jogando bola no campo do Guarany<br />
Futebol Clube (time do Coração). Des<strong>de</strong><br />
muito novo conseguiu conciliar os estudos e<br />
a gosto pelo futebol. Muito novo já <strong>de</strong>spontava<br />
no Guarany, ao lado <strong>de</strong> ao lado <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s<br />
jogadores, entre outros, Carlyle, Elizeu, Bias<br />
e Wilson. Concluiu os cursos ginasial e<br />
científico no<br />
E s t u d o u n o t r a d i c i o n a l C o l é g i o<br />
Arquidiocesano <strong>de</strong> Ouro Preto, on<strong>de</strong> foi<br />
<strong>de</strong>staque nas ciências exatas e futebol.<br />
O centro-avante Emílio, com apenas 15<br />
anos, pertencia à classe dos menores, mas já<br />
participava do quadro principal do time <strong>de</strong><br />
futebol daquele colégio .<br />
Um jogo inesquecível para Emílio Ibrahim foi<br />
em Ouro Preto, o ano <strong>de</strong> 1942 quando o<br />
Colégio Arquidiocesano venceu o Colégio<br />
Municipal por 5x2, com gols <strong>de</strong>: Emílio (2),<br />
Luís Maria, Paulo Emílio e Wal<strong>de</strong>mar.<br />
Assim que formou o colegial em Ouro Preto<br />
foi contratado pelo Fluminense Futebol<br />
Clube do Rio <strong>de</strong> Janeiro. Em 1948,Emílio foi<br />
jogar em um dos maiores clubes do Brasil,<br />
na renovação do seu quadro profissional,<br />
implantada pelo técnico Ondino Vieira e<br />
pelos diretores Carlos Nascimento e Dilson<br />
Gue<strong>de</strong>s. Castilho, Píndaro, Hélvio, Pinheiro,<br />
Mirim, Didi e outros foram seus companheiros<br />
naquele projeto-renovação. Foi campeão<br />
do Torneio Municipal daquele ano.<br />
Simultaneamente com a sua vida <strong>de</strong> atleta no<br />
Fluminense, ingressou na Escola Nacional<br />
<strong>de</strong> Engenharia. Em um Fla-Flu histórico, que<br />
marcou a inauguração das gran<strong>de</strong>s obras <strong>de</strong><br />
reforma do Estádio Getúlio Vargas, em<br />
Fortaleza capital do Ceará, Emílio, atuando<br />
pelo tricolor carioca, marcou um gol espetacular,<br />
aos dois minutos do primeiro tempo,<br />
num sem pulo sensacional, emendando um<br />
cruzamento preciso do ponteiro esquerdo<br />
Rodrigues, que inaugurou o placar do jogo,<br />
vencido pelo Fluminense, por 5x2, O técnico<br />
tricolor, o uruguaio Ondino Vieira, classificou<br />
<strong>de</strong> histórico o gol do atacante do Fluminense.<br />
Assim foi <strong>de</strong>senhado para os jornais o gol <strong>de</strong> Emílio Ibrahim - Imagem arquivo pessoal <strong>de</strong> Emílio Ibrahim
Equipe <strong>de</strong> Futebol do Colégio Arquidiocesano1942: Athos, Borato, J. Lourenço, J. Pimenta,<br />
Caratinga, Hélio Gomes, Murilo, Luiz Maria, Hugo Rodarte, Emílio Ibrahim, Wal<strong>de</strong>mar e Paulo<br />
Emílio. Acervo Pessoal<br />
Orlando, Emílio e Castilho no jogo com Fluminense e South Hampton,<br />
da Inglaterra, em 1948, no estádio São Januário, no Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
Acervo Pessoal.<br />
07
Após a <strong>de</strong>rrota do Brasil, no Mundial <strong>de</strong><br />
1950, o Maracanã passou a ser subutilizado,<br />
com os clubes reclamando das<br />
altas taxas cobradas, não compensando<br />
indicar o Estádio para os seus jogos; só os<br />
clássicos, do Campeonato Carioca e alguns<br />
encontros do Torneio Rio-S. Paulo, davam<br />
retorno aos cofres dos clubes litigantes.<br />
A corrupção no gran<strong>de</strong> Estádio durou <strong>de</strong><br />
durou mais <strong>de</strong> anos, a ms administrações,<br />
dirigentes corruptos e à politicagem,,<br />
tomaram conta do estádio. Ao final <strong>de</strong> uma<br />
década <strong>de</strong> abandono, o governado Carlos<br />
Lacerda <strong>de</strong>mitiu toda administração do<br />
Maracanã e colocou um homem <strong>de</strong> sua<br />
confiança e <strong>de</strong> cpmpetência para a nova<br />
administração. Na realida<strong>de</strong>, o estádio<br />
funcionava em condições precárias, tendo<br />
em vista a falta <strong>de</strong> acabamento <strong>de</strong> todas as<br />
suas <strong>de</strong>pendências.<br />
Emílio Ibrahim assumiu a presidência da<br />
ADEG (Administração dos Estádios da<br />
Guanabara). Com a nova missão, o<br />
presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>u início ao trabalho com uma<br />
jovem equipe e, com bom gosto, concluiu as<br />
obras do maior estádio do mundo. Por outro<br />
lado, no campo administrativo, com a<br />
competente colaboração do Procurador do<br />
Estado, Carlos Vale, instaurou uma<br />
profunda reforma <strong>de</strong> normas, métodos e<br />
procedimentos, que asseguraram a sua<br />
eficiência operacional.<br />
Em menos <strong>de</strong> dois anos, todo o Maracanã<br />
ganhou sólida estrutura, novamente capaz<br />
<strong>de</strong> receber gran<strong>de</strong> público, como o da final<br />
da copa do Mundo <strong>de</strong> 1950, ultrapassando<br />
os cento e setenta mil espectadores.<br />
E gran<strong>de</strong>s jogos como aqueles do Mundial<br />
Inter Clubes, envolvendo o Santos e o Milan,<br />
em 1963; clássico do Campeonato Carioca e<br />
do Torneio Rio-S. Paulo, <strong>de</strong> saudosa<br />
memória.<br />
Emílo Ibraim foi o responsável pela maior<br />
reforma estrutural do Maracanã, todo<br />
saudosismo que temos do Maracanã da<br />
década <strong>de</strong> 70 , 80 e 90 são frutos da<br />
engenhosida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ste marianense.<br />
Emílio Ibrahim no Maracanã - Acervo Pessoal<br />
08
O TORNEIO DE 48:Taça Prefeitura do Distrito Fe<strong>de</strong>ral<br />
A <strong>de</strong>cisão <strong>de</strong> levar a campo o time titular<br />
gerou <strong>de</strong>sconforto entre o elenco vascaíno.<br />
Essa <strong>de</strong>cisão, que pegou a todos <strong>de</strong><br />
surpresa, tanto do “Expressinho” quanto do<br />
“Expresso”, foi comunicada pelo técnico<br />
vascaíno, Flávio Costa, quando os jogadores<br />
do “Expressinho”, que haviam representado<br />
tão bem o Vasco durante o Torneio, se<br />
preparavam no vestiário para entrar em<br />
campo.<br />
Com um público <strong>de</strong> 14.381 pagantes, o<br />
Fluminense venceu o “Expresso da Vitória”<br />
com um gol <strong>de</strong> bicicleta <strong>de</strong> Orlando “Pingo<br />
d'Ouro” aos 8 minutos <strong>de</strong> jogo. Com esse<br />
resultado, o Fluminense conquistou seu<br />
segundo Torneio Municipal e evitou o<br />
pentacampeonato vascaíno.<br />
Na foto tirada em maio <strong>de</strong> 2017, Emílio Ibrahim na<br />
se<strong>de</strong> do Fluminese. Imagem www.historiadores do<br />
esporte .com<br />
A <strong>de</strong>cisão seria disputada em três jogos num<br />
ritmo<br />
frenético: 24/06/1948, 27/06/1948 e, se fosse<br />
necessário, 30/06/1948.<br />
O primeiro jogo foi vencido pelo Fluminense<br />
por 4×0 no Estádio General Severiano.<br />
Diante <strong>de</strong> 6.991 pagantes, marcaram para o<br />
Fluminense Orlando “Pingo d'Ouro” (2),<br />
Simões e Rodrigues. Ao Fluminense bastaria<br />
uma nova vitória na segunda partida da<br />
<strong>de</strong>cisão para que o Torneio fosse conquistado<br />
e o pentacampeonato do Vasco evitado.<br />
Contudo, três dias após a primeira partida, o<br />
Vasco venceu o Fluminense por 2×1 no<br />
Estádio da Gávea. Diante <strong>de</strong> 11.016<br />
pagantes, o Vasco abriu 2×0 com Dimas e<br />
Nestor. O Fluminense <strong>de</strong>scontou com<br />
Orlando “Pingo d'Ouro”. Com a vitória<br />
vascaína, seria necessário disputar a terceira<br />
e última partida.<br />
No dia 30/06/1948, o Fluminense já estava<br />
em campo esperando o “Expressinho”,<br />
quando, para supresa <strong>de</strong> todos, surgiu o time<br />
titular do Vasco, o “Expresso da Vitória”.<br />
Participaram da campanha 21 jogadores.<br />
Goleiros: Castilho (8 jogos), Tarzan (4) e José<br />
Paulo (1). Zagueiros: Pé <strong>de</strong> Valsa (13), Hélvio<br />
(9) e Aroldo (4). Meio-<strong>de</strong>-campo: Índio (13),<br />
Mirim (12), Bigo<strong>de</strong> (9), Ismael (4) e<br />
Berascochea (1). Ataque: Rodrigues (13),<br />
Rubinho (11), Orlando (10), Simões (7),<br />
Emílio (6), Cento e nove (6), Careca (5),<br />
Juvenal (3), Pinhegas (2) e Zeca (2). O<br />
Técnico era o uruguaio Ondino Vieira. Os<br />
artilheiros da equipe foram Orlando, 9 gols, e<br />
Emílio, 3. Pé-<strong>de</strong>-Valsa, Índio e Rodrigues<br />
participaram <strong>de</strong> todos os 13 jogos da<br />
campanha.<br />
O Torneio Municipal <strong>de</strong> 1948 não teve um troféu em<br />
disputa. Por essa razão, a foto <strong>de</strong> Emílio Ibrahim foi<br />
tirada com a Taça D.I.E., oferecida pelo<br />
Departamento <strong>de</strong> Imprensa Esportiva da A.B.I.,<br />
quando o Fluminense <strong>de</strong>rrotou o Racing da Argentina<br />
por 3×2 no dia 27/10/1948. Imagem www.historiadores<br />
do esporte .com<br />
09
10
Ingressou na vida pública na antiga<br />
Prefeitura do Distrito Fe<strong>de</strong>ral, em 1949,<br />
ainda como estudante, na qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
auxiliar <strong>de</strong> Engenheiro do Departamento<br />
<strong>de</strong> Estradas <strong>de</strong> Rodagem. Ainda como<br />
acadêmico <strong>de</strong> engenharia, exerceu o<br />
cargo <strong>de</strong> oficial <strong>de</strong> gabinete do Prefeito<br />
João Carlos Vital, durante toda sua<br />
administração.<br />
Integrando, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1952, o quadro <strong>de</strong><br />
engenheiros do Estado, foi chefe do<br />
Departamento <strong>de</strong> Engenharia do Montepio<br />
dos Empregados Municipais, hoje IPERJ -<br />
Instituto <strong>de</strong> Previdência do Estado do Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro. Foi Presi<strong>de</strong>nte da ADEG<br />
( A d m i n i s t r a ç ã o d o s E s t á d i o s d a<br />
Guanabara), quando as obras <strong>de</strong> reforma<br />
do Estádio do Maracanã, no Governo<br />
Carlos Lacerda. Foi Assessor Geral <strong>de</strong><br />
Esportes do Estado da Guanabara, e<br />
Conselheiro Fundador do Fundo <strong>de</strong><br />
Garantia do Atleta Profissional - FUGAP,<br />
no Governo Carlos Lacerda.<br />
Como Diretor Geral do Departamento do<br />
Patrimônio do Estado da Guanabara, foi<br />
responsável pela transferência <strong>de</strong> bens<br />
imóveis do antigo Distrito Fe<strong>de</strong>ral,<br />
<strong>de</strong>terminada pela Lei Santiago Dantas,<br />
tendo participado, a<strong>de</strong>mais, do esforço <strong>de</strong><br />
cessão da área da antiga "Favela do<br />
Esqueleto" ao Estado da Guanabara. Com<br />
a transferência <strong>de</strong> seus ocupantes, sob o<br />
efetivo comando da Secretária <strong>de</strong> Serviços<br />
Socias, Sandra Cavalcanti, o Governador<br />
Carlos Lacerda, em solenida<strong>de</strong> pública,<br />
ce<strong>de</strong>u o terreno à Universida<strong>de</strong> do Estado<br />
da Guanabara para implantação <strong>de</strong> seu<br />
"campus".<br />
Foi Presi<strong>de</strong>nte do I.A.P.C. (Instituto <strong>de</strong><br />
A p o s e n t a d o r i a e P e n s õ e s d o s<br />
Comerciários) até a sua extinção,<br />
simultânea à unificação da Previdência<br />
Social, no Governo Castelo Branco.<br />
Naquela oportunida<strong>de</strong>, por ocasião da<br />
reforma da lei orgânica da Previdência<br />
Social, teve <strong>de</strong>stacada atuação na<br />
inclusão como beneficiários da mesma<br />
todos os que exercem funções <strong>de</strong><br />
Sacerdote e ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> empregados<br />
domésticos.<br />
Foi Secretário <strong>de</strong> Obras Públicas do antigo<br />
Estado da Guanabara, no Governo<br />
Chagas Freitas. Foi Secretário <strong>de</strong> Obras e<br />
Serviços Públicos do Estado do Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro, no Governo Chagas Freitas.<br />
F o i P r e s i d e n t e d o C o n s e l h o d e<br />
Administração <strong>de</strong> inúmeros órgãos do<br />
Estado, <strong>de</strong>stacando-se a SURSAN,<br />
ESAG, COMLURB, DER, CEDAE, CEG,<br />
CERJ, FEEMA, CEHAB e SERLA.<br />
Foi Diretor das Centrais Elétricas <strong>de</strong><br />
Furnas, no Governo do Presi<strong>de</strong>nte João<br />
Figueiredo.<br />
Em 1982, foi indicado a concorrer ao<br />
Governo do Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro pelo<br />
PDS, tendo renunciado, em <strong>de</strong>corrência<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sencontros <strong>de</strong> natureza política com<br />
a direção partidária.<br />
Foi Presi<strong>de</strong>nte da C.B.T.U.- Companhia<br />
Brasileira <strong>de</strong> Trens Urbanos, no Governo<br />
do Presi<strong>de</strong>nte Jos Sarney.<br />
Encerrou nesse cargo, voluntariamente, o<br />
exercício <strong>de</strong> sua vida pública, em 1990.<br />
Assim, o jogador <strong>de</strong> futebol que queria ser<br />
engenheiro conseguiu conciliar a sua vida<br />
profissional com sua paixão<br />
... O FUTEBOL....<br />
F o t o f e i t a e m 2 0 1 7 p a r a o j o r n a l O G l o b o .<br />
Vejam como a referência <strong>de</strong> Mariana e da nossa tradições<br />
s ã o m a r c a n t e n a v i d a d e E m í l i o I b r a i m .<br />
Em um lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque na sala o livro sobre a vida<br />
<strong>de</strong> Monsenhor horta.<br />
Este texto teve como referência o livro:Emílio Ibraim - O Homem e suas idéias.<br />
Saiba mais em www.emilioibraim.com.br<br />
11
<strong>de</strong> Cristo<br />
Procissão do Encontro em Mariana - César do Carmo<br />
Acervo Aca<strong>de</strong>mia Brasileira <strong>de</strong> Letras<br />
Cláudio Manoel da Costa<br />
12
Cláudio Manuel da Costa<br />
Em 1981, quando aluno do cônêgo José<br />
Geraldo Vidigal <strong>de</strong> Carvalho, no Ginásio<br />
Estadual Dom Silvério, foi me dado um texto<br />
chamado: Cláudio Manuel da Costa na<br />
história Mineira, neste dia mui<strong>de</strong>i emu<br />
pensamento sobre a conjuração mineira (<br />
Inconfidência mineira) e sobre a participação<br />
do marianense Cláudio manoel da Costa.<br />
Formado em direito pela renomada<br />
Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Coimbra em Portugal,Poeta<br />
e jurista Cláudio Manoel nasceu na<br />
localida<strong>de</strong> na fazenda da Vargem do<br />
itacolomi, Vila do Ribeirão do Carmo, hoje<br />
Mariana, em 5 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 1729, e faleceu<br />
em Ouro Preto, MG, a 4 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 1789. É o<br />
patrono da ca<strong>de</strong>ira n. 8, por escolha do<br />
fundador Alberto <strong>de</strong> Oliveira.<br />
Era filho <strong>de</strong> João Gonçalves da Costa,<br />
lavrador e minerador, e <strong>de</strong> Teresa Ribeiro <strong>de</strong><br />
Alvarenga. Fez os primeiros estudos em Vila<br />
Rica; passou <strong>de</strong>pois ao Rio <strong>de</strong> Janeiro, on<strong>de</strong><br />
cursou Filosofia no Colégio dos Jesuítas. Em<br />
1749, aos vinte anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>, seguiu para<br />
Lisboa e daí para Coimbra, em cuja<br />
Universida<strong>de</strong> se formou em Cânones, em<br />
1753. Ali publicou, em opúsculos, pelo<br />
menos três poemas, Munúsculo métrico,<br />
Labirinto <strong>de</strong> amor e o Epicédio, consagrado à<br />
memória <strong>de</strong> Frei Gaspar da Encarnação.<br />
Nesses livros, a marca poética do Barroco<br />
seiscentista é evi<strong>de</strong>nte, nos cultismos,<br />
conceptismos e formalismos característicos<br />
daquele estilo.<br />
Nos “Apontamentos” enviados em 3 <strong>de</strong><br />
novembro <strong>de</strong> 1759 ao Dr. João Borges <strong>de</strong><br />
Barros, censor da Aca<strong>de</strong>mia Brasílica dos<br />
Renascidos, da qual havia sido eleito sócio<br />
correspon<strong>de</strong>nte, e que se <strong>de</strong>stinavam ao<br />
“Catálogo dos Acadêmicos”, diz ele que, “<strong>de</strong><br />
1753 a 1754”, voltou a Vila Rica, on<strong>de</strong> viveu o<br />
resto da vida como advogado e minerador.<br />
De 1762 a 1765 foi secretário do Governo<br />
da Província e, <strong>de</strong> 1769 a 1773, juiz medidor<br />
<strong>de</strong> terras da Câmara <strong>de</strong> Vila Rica, que era<br />
então a capital da Província, importante setor<br />
<strong>de</strong> mineração do século XVIII e centro <strong>de</strong><br />
intensa vida intelectual. Cláudio Manuel da<br />
Costa ali chegou a fundar uma Arcádia<br />
chamada Colônia Ultramarina, cuja<br />
instalação teria sido em 4 <strong>de</strong> setembro <strong>de</strong><br />
1768, com outra sessão em 5 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro,<br />
na qual fez representar o drama musicado O<br />
Parnaso obsequioso. Foi buscar nos<br />
cânones do Arcadismo vigente muitos<br />
elementos típicos, tais como o bucolismo, os<br />
pastores e as ninfas. Adotou o nome arcádico<br />
<strong>de</strong> Glauceste Satúrnio. Ainda em Portugal<br />
sentira <strong>de</strong> perto o aspecto renovador do<br />
Arcadismo, implantado com a fundação da<br />
Arcádia Lusitana, em 1756. A publicação em<br />
1768 das Obras constitui o marco inicial do<br />
lirismo arcádico no Brasil.<br />
Depois compôs o poema épico Vila Rica,<br />
pronto em 1773 mas publicado somente em<br />
1839, em Ouro Preto. O respectivo<br />
“fundamento histórico” havia sido dado a<br />
lume pelo jornal O Patriota, do Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro, em 1813, sob o título <strong>de</strong> “Memória<br />
histórica e geográfica da <strong>de</strong>scoberta das<br />
Minas”. É a <strong>de</strong>scrição da epopeia dos<br />
ban<strong>de</strong>irantes paulistas no <strong>de</strong>sbravamento<br />
dos sertões e suas lutas com os emboabas,<br />
até a fundação da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Vila Rica. O<br />
poema é importante porque, apesar <strong>de</strong> fiel<br />
aos cânones do Arcadismo, <strong>de</strong>staca-se pela<br />
temática brasileira.<br />
Nas décadas <strong>de</strong> 1770 e 1780, escreveu<br />
várias poesias em que mostra preocupação<br />
com problemas políticos e sociais,<br />
publicadas na maior parte por Ramiz Galvão<br />
em 1895. A partir <strong>de</strong> 1782 ligou-se <strong>de</strong> estreita<br />
amiza<strong>de</strong> com Tomás Antonio Gonzaga, e, por<br />
certo, exerceu influência literária sobre ele,<br />
ao menos como estímulo. Nas Cartas<br />
chilenas, cuja autoria chegou a ser atribuída<br />
por alguns críticos a Cláudio Manuel da<br />
Costa, possivelmente auxiliou o amigo. A<br />
exegese magistralmente conduzida por<br />
Afonso Arinos <strong>de</strong> Melo Franco, em sua<br />
edição das Cartas chilenas (1940), apura que<br />
a Cláudio Manuel da Costa <strong>de</strong>ve ser atribuída<br />
apenas a “Epístola” que as prece<strong>de</strong>, e ao seu<br />
companheiro <strong>de</strong> letras Tomás Antonio<br />
Gonzaga a autoria das Cartas.<br />
Na década <strong>de</strong> 1780, fez parte da Câmara<br />
<strong>de</strong> Vila Rica como juiz ordinário. Era homem<br />
<strong>de</strong> prol, com bens <strong>de</strong> fortuna, senhor <strong>de</strong> três<br />
fazendas, quando foi envolvido na<br />
Inconfidência, a que daria um apoio<br />
sentimental. Preso, foi interrogado uma só<br />
vez pelos juízes da Alçada, em 2 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong><br />
1789. Atemorizou-se no interrogatório,<br />
comprometeu os amigos, sendo <strong>de</strong>pois<br />
encontrado morto no cubículo da Casa dos<br />
Contos, on<strong>de</strong> fora encerrado, aos 60 anos <strong>de</strong><br />
ida<strong>de</strong>, em julho <strong>de</strong> 1789, oficialmente um<br />
suicídio. Era solteiro e <strong>de</strong>ixou filhos naturais.<br />
Reza a lenda que o Inconfi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>ixou muito<br />
mais que poemas para gerações futuras....<br />
13
Jornal Folha <strong>de</strong> Minas <strong>de</strong> 1944- Belo Horizonte<br />
Acervo José Eduardo Liboreiro<br />
14
O TESOURO DOS INCONFIDENTES<br />
Inácio Muzzi - Jornalista e Diretor da Companhia <strong>de</strong> Notícias em Brasília<br />
A Inconfidência Mineira foi , supostamente,<br />
financiada por agentes externos, assim há<br />
uma lenda que sustenta que existe um<br />
Tesouro dos Inconfi<strong>de</strong>ntes, e que na<br />
Fazenda da Vargem do Itacolomi - na<br />
localida<strong>de</strong> da Vargem - em Mariana este<br />
tesouro estaria enterrado. Este assunto<br />
apareceu em um artigo do gran<strong>de</strong> historiador<br />
Salomão <strong>de</strong> Vasconcelos , no Jornal <strong>de</strong><br />
Minas em 1944 ( página 14). Abaixo texto do<br />
Inácio Muzzi sobre o assunto.<br />
“Aqui, além, pelo mundo, ossos, nomes,<br />
letras, poeira... On<strong>de</strong>, os rostos? On<strong>de</strong>, as<br />
almas? Nem os her<strong>de</strong>iros recordam rastro<br />
nenhum pelo chão”. Na quarta estrofe da<br />
“ F a l a I n i c i a l ” d o R o m a n c e i r o d a<br />
Inconfidência (1953), Cecília Meireles revela<br />
frustração no estudo <strong>de</strong> ambiente que fez<br />
para compor seu inspirado poema <strong>de</strong> 80<br />
cantos. Nas suas viagens a Ouro Preto e<br />
Mariana, no início dos anos 1950, encontrou<br />
apenas “os gran<strong>de</strong>s muros sem eco”, o<br />
“bater dos sinos”, o “roçar das rezas”, a<br />
“negra masmorra”, “as plácidas colinas”, as<br />
“silenciosas vertentes” – tal como se<br />
apresentavam no distante 1789, ano em que<br />
a Coroa portuguesa <strong>de</strong>sbaratou os<br />
inconfi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Minas Gerais. Faltou à<br />
poeta encontrar <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes dos<br />
personagens envolvidos naquela antiga<br />
trama. Os <strong>de</strong> posse mudaram‐se. Os<br />
<strong>de</strong>mais, sem instrução, sem informação da<br />
saga familiar, per<strong>de</strong>ram‐se da história. Antes<br />
disso, na primeira década do século XX, meu<br />
tio‐bisavô, o historiador Diogo <strong>de</strong><br />
Vasconcellos, autor <strong>de</strong> História Antiga (1904)<br />
e História Média <strong>de</strong> Minas Gerais (1918),<br />
pesquisava a <strong>de</strong>scendência da filha ilegítima<br />
<strong>de</strong> Tira<strong>de</strong>ntes e teve a curiosida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>spertada por outra “bastardia”: a do poeta<br />
Cláudio Manoel da Costa, igualmente<br />
revelada nos Autos da <strong>de</strong>vassa, que reúnem<br />
o s d e p o i m e n t o s p r e s t a d o s p e l o s<br />
inconfi<strong>de</strong>ntes às autorida<strong>de</strong>s portuguesas. O<br />
poeta, como se sabe, apareceu morto na<br />
prisão – um cubículo <strong>de</strong>baixo da escada da<br />
Casa do Real Contrato das Entradas, atual<br />
Casa dos Contos – em 4 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 1789,<br />
dois dias após ser submetido a severo<br />
interrogatório. Os carcereiros disseram que<br />
foi suicídio, mas os rumores falavam <strong>de</strong><br />
assassinato – versão admitida até mesmo<br />
pela Igreja, que permitiu a celebração <strong>de</strong><br />
missas pela sua alma. Cláudio Manoel da<br />
Costa seria um Vladimir Herzog avant la<br />
lettre.<br />
O poeta morreu aos 60 anos, solteiro,<br />
<strong>de</strong>ixando duas filhas “bastardas”, como se<br />
dizia, fruto <strong>de</strong> relação que manteve com<br />
Francisca Cardosa, escrava <strong>de</strong> um vizinho<br />
cuja alforria comprou. Eram elas: Francisca,<br />
que na época da Inconfidência vivia com o<br />
marido e filhos no sítio da Vargem, <strong>de</strong><br />
proprieda<strong>de</strong> do poeta‐ inconfi<strong>de</strong>nte, e Maria,<br />
<strong>de</strong> onze anos, que morava em companhia da<br />
mãe em Vila Rica, antiga <strong>de</strong>nominação <strong>de</strong><br />
Ouro Preto. Nascido no Brasil, nesse mesmo<br />
sítio da Vargem, Cláudio Manoel da Costa<br />
era filho <strong>de</strong> um lavrador e dizia‐se<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte dos antigos ban<strong>de</strong>irantes<br />
paulistas. Estudou na Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Coimbra, e na volta à Colônia exerceu as<br />
funções <strong>de</strong> advogado, juiz e secretário <strong>de</strong><br />
dois governos, tornando‐se rico e influente.<br />
A qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> sua poesia lírica é<br />
reconhecida pela crítica contemporânea.<br />
Com o pseudônimo <strong>de</strong> Glauceste, Cláudio<br />
freqüentava o grupo dos chamados poetas<br />
árca<strong>de</strong>s, no momento em que “a literatura<br />
brasileira alcançou o seu primeiro período<br />
i<strong>de</strong>ologicamente articulado”, na visão do<br />
crítico José Guilherme Merquior. No canto<br />
VIII <strong>de</strong> seu mais famoso poema, “Vila Rica”,<br />
publicado postumamente, ao falar das<br />
pedras preciosas, o poeta vaticina: “...Os<br />
tesouros que oculta e guarda a terra (Tristes<br />
causas do mal, causas da guerra!)”. Guerra<br />
não houve, mas o envolvimento do poeta na<br />
conspiração levou a Coroa portuguesa a<br />
arrestar todos os seus bens: fazendas,<br />
casas, lavras, escravos, ouro em pó,<br />
prataria, móveis, roupas e 406 livros,<br />
<strong>de</strong>clarando ainda infames seus filhos e<br />
netos.<br />
15
Fazenda da Vargem ( ano não i<strong>de</strong>ntificado)- Acervo José Eduardo Liboreiro<br />
A fazenda da Vargem fica na vertente sul da<br />
serra do Itacolomi, no município <strong>de</strong> Mariana.<br />
Nela existia, até 1940, um sobrado <strong>de</strong> 16<br />
cômodos, la<strong>de</strong>ado pela capela <strong>de</strong> Nossa<br />
Senhora da Conceição. Há 30 anos ganhou<br />
acesso por estrada <strong>de</strong> terra; há três, energia<br />
elétrica da Cemig, e há dois, sinal da telefonia<br />
celular. Por ali andou Diogo <strong>de</strong> Vasconcellos,<br />
subindo a serra no lombo do burro Marreco,<br />
que muito prezava. Parou na fazenda vizinha,<br />
a do Cibrão, então pertencente à sua irmã<br />
Henriqueta, e iniciou a busca dos <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes<br />
daquela ex‐escrava Francisca Cardosa,<br />
negra retinta, amante do poeta que, no papel,<br />
cortejava musas etéreas da cor <strong>de</strong> marfim.<br />
Presumivelmente, àquela altura seus <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes<br />
estariam entre a terceira e a<br />
quarta geração. A Vargem tivera vários donos<br />
no século XIX. O mesmo não ocorrera ao<br />
Cibrão. As famílias do marido <strong>de</strong> Henriqueta –<br />
os Dias e Almeida Gomes – passaram o<br />
século naquelas terras e sabiam que tão<br />
antigos quanto eles havia somente os moradores<br />
do povoado do Areião. Um núcleo <strong>de</strong><br />
nove casas, espalhadas em 150 alqueires<br />
mineiros <strong>de</strong> terra comum, <strong>de</strong>limitada pelo<br />
córrego da Prata e pelo Rio Gualaxo. Seus<br />
moradores formavam uma só família <strong>de</strong><br />
intrincada parentela, com prepon<strong>de</strong>rância <strong>de</strong><br />
casamento entre primos e entre tios e sobrinhas.<br />
Diogo foi até lá com seus apontamentos<br />
e confirmou a suspeita. Ali estavam os<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes do poeta. Antes <strong>de</strong> retornar a<br />
Ouro Preto, pediu à irmã que os ensinasse a<br />
ler e a escrever. Depois enviou material<br />
didático. Entre os livros, um pequeno compêndio<br />
com a história da Inconfidência<br />
Mineira e <strong>de</strong> Cláudio Manoel da Costa.<br />
Alberta Maia Gomes, vulgo “Albertina”, hoje<br />
com 79 anos, mãe <strong>de</strong> nove filhos vivos <strong>de</strong> 16<br />
nascidos, 36 netos e nove bisnetos, lembra-<br />
‐se ainda do seu curso <strong>de</strong> alfabetização e do<br />
pequeno compêndio sobre o poeta seu<br />
ascen<strong>de</strong>nte com que a família foi presenteada.<br />
Corriam os anos 1930.<br />
16
O historiador Diogo <strong>de</strong> Vasconcellos morrera<br />
em 1927, mas sua sobrinha, Quitota, formada<br />
pelo Colégio Providência, <strong>de</strong> Mariana,<br />
dava prosseguimento à missão por ele<br />
encomendada à mãe. Alberto Cirilo, marido e<br />
primo <strong>de</strong> Albertina, no tempo em que se<br />
<strong>de</strong>dicava ao garimpo achou ouro, dois diamantes<br />
e pedrinhas <strong>de</strong> topázio imperial. Aos<br />
poucos, foi comprando as partes dos primos<br />
e irmãos, que finalmente se mudavam do<br />
Areião para Mariana, Ouro Preto ou Belo<br />
Horizonte. Chegou a ser dono dos 150<br />
alqueires salvos do arresto do século XVIII,<br />
para os quais reivindicou usucapião, após<br />
uma <strong>de</strong>manda judicial <strong>de</strong> 14 anos contra um<br />
advogado que tentou tomar‐lhe as terras não<br />
escrituradas. Alberto morreu em 1991,<br />
vitimado pela contaminação do sangue por<br />
mercúrio.<br />
Tive oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> conhecê‐lo. Na primeira<br />
vez em que estive naquela casa <strong>de</strong> chão<br />
<strong>de</strong> cimento batido, assentada na encosta <strong>de</strong><br />
um morro baixo, fiquei impressionado com os<br />
gemidos intermitentes – às vezes bem altos,<br />
quase gritos – que vinham do quarto ao lado<br />
da sala <strong>de</strong> visitas. Só dona Albertina não se<br />
alterava. Entretinha‐me e à minha mãe com<br />
recordações da infância. Quando minha mãe<br />
perguntou pelo seu marido, ela se <strong>de</strong>u conta:<br />
“Tá aí no quarto, sofrendo. Tem mercúrio no<br />
sangue. O corpo todo dói, mas ele não quer<br />
morrer no hospital”. Abriu a porta do quarto e<br />
vimos o homem encurvado sobre a cama<br />
estreita, a face encovada, a testa porejando.<br />
Minha mãe se i<strong>de</strong>ntificou e ele tentou um<br />
sorriso. Conseguiu dizer que estava “muito<br />
mal”, e foi só. “Agora é só com Deus”, lamentou<br />
Albertina. Após a morte do marido,<br />
Albertina ven<strong>de</strong>u a meta<strong>de</strong> do terreno para<br />
“ajudar no sustento”, que não vem mais da<br />
plantação <strong>de</strong> milho, inhame, feijão, batata,<br />
abóbora, da extração <strong>de</strong> lenha, da produção<br />
<strong>de</strong> leite e queijos, como antigamente. A partir<br />
dos anos 1970, a melhora na logística <strong>de</strong><br />
distribuição <strong>de</strong> grãos e legumes, plantados<br />
em terras mais produtivas, acabou com o<br />
mercado local. O mesmo aconteceu com a<br />
chegada do fogão a gás, encerrando 270<br />
anos <strong>de</strong> domínio do fogão a lenha. Na década<br />
<strong>de</strong> 1990, a política ambientalista jogou a<br />
pá <strong>de</strong> cal sobre outras tradições. A polícia<br />
florestal se instalou em Mariana, subiu a<br />
serra e proibiu plantações extensivas, corte<br />
<strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira para venda, caça e garimpo com<br />
máquinas.<br />
Fazenda da Vargem ( ano 1944 ) - Acervo José Eduardo Liboreiro
Vargem do Itacolomi - 2016 - Arquivo Cristiano Casimiro
A diáspora dos Gomes, iniciada 20 anos<br />
antes, aumentou. Até mesmo a maioria dos<br />
filhos <strong>de</strong> Albertina foi embora. Das nove<br />
casas que o Areião chegou a ter, sobraram<br />
apenas duas. Numa <strong>de</strong>las mora Albertina e o<br />
filho; na outra, a filha e o marido. Os outros<br />
sete se mudaram para Mariana ou Ouro<br />
Preto. Deles, cinco são aposentados por<br />
invali<strong>de</strong>z. Albertina vive com R$ 700,00 do<br />
Funrural, parte sua aposentadoria, parte<br />
pensão <strong>de</strong> Alberto. O filho Wagner, que está<br />
<strong>de</strong> malas prontas para ir morar em Mariana,<br />
ajuda a mãe no corte <strong>de</strong> lenha para o fogão,<br />
na pequena plantação e no moinho d'água,<br />
on<strong>de</strong> o milho se transforma no fubá que vai<br />
virar broa, cuscuz e angu, comida <strong>de</strong> todos os<br />
dias. Há ainda um porco, galinhas e um<br />
cavalo, que entram pela casa sem cerimônia.<br />
“Galinha <strong>de</strong>ntro da minha casa, não!” – ralha<br />
Albertina, sem muita convicção, ao <strong>de</strong>parar-<br />
‐se com uma penosa preta aninhada em sua<br />
cama <strong>de</strong> casal. “O que você está caçando,<br />
galinha? Quer botar, vai botar seu ovo lá!”<br />
Meia hora <strong>de</strong>pois, o visitante é o cavalo. A<br />
cabeçorra entra pela janela da cozinha,<br />
fareja a bancada da pia com po<strong>de</strong>rosas<br />
narinas. “Sai, cavalo. Cavalo feio. Vai pra lá!”<br />
Costumes e falas arcaicas resistiram ali ao<br />
rádio, à estrada e à luz elétrica. O novo<br />
<strong>de</strong>safio é a televisão. Entre as duas casas do<br />
Areião ergue‐se, há sete anos, uma antena<br />
parabólica, que acrescentou um gasto às<br />
<strong>de</strong>spesas mensais <strong>de</strong> Albertina. A serra do<br />
Itacolomi é uma região <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> incidência<br />
<strong>de</strong> queda <strong>de</strong> raios, e a antena não passa três<br />
meses sem ser atingida. Des<strong>de</strong> então, são<br />
essas as preocupações cotidianas <strong>de</strong><br />
Albertina: os raios e a polícia florestal. “Eles<br />
só vêm aqui para atormentar gente pobre”,<br />
<strong>de</strong>sabafa. Há um ano, tentaram multá‐la em<br />
R$ 2.600,00 por ter construído uma pequena<br />
represa <strong>de</strong>stinada, na seca, a aumentar o<br />
fluxo do córrego da Prata, que toca o seu<br />
moinho. Wagner, furioso, ameaçou afogar o<br />
policial. Um vereador <strong>de</strong> Mariana se prontificou<br />
a socorrê‐los. Houve recurso. A multa –<br />
“murta”, como dizem – foi suspensa e<br />
Wagner, perdoado.<br />
Albertina não faz associações entre os<br />
policiais <strong>de</strong> hoje e os esbirros da Coroa que<br />
pren<strong>de</strong>ram seu pentavô. Conta suas peripécias<br />
para escapar da “murta”, para minutos<br />
<strong>de</strong>pois narrar uma suposta esperteza do<br />
antepassado. Mas um fio não conduz ao<br />
outro. A história que conta é quase puro<br />
folclore. O fato ocorreu em 1940, quando ela<br />
tinha 13 anos. O dono da Vargem, A<strong>de</strong>lino <strong>de</strong><br />
Castro Maia, <strong>de</strong>cidira <strong>de</strong>molir a casa original<br />
da fazenda e contratara os pais e tios <strong>de</strong><br />
Albertina para o serviço. Além <strong>de</strong> velha, a<br />
construção era afamada pela ocorrência <strong>de</strong><br />
coisas inexplicáveis. A mais comum era a<br />
queda <strong>de</strong> imundícies na mesa <strong>de</strong> jantar,<br />
quando a família estava reunida. Ora <strong>de</strong>spencava<br />
esterco <strong>de</strong> animais, ora seixos<br />
molhados, gravetos, bolotas <strong>de</strong> barro. “Para<br />
morar lá, só mesmo o seu “Oscal” (Oscar,<br />
genro <strong>de</strong> A<strong>de</strong>lino). “Homem bravo, sem<br />
medo”, comenta Albertina.<br />
No <strong>de</strong>smonte da fazenda, outra história<br />
fo‐i se construindo. Sob um barrote <strong>de</strong> um<br />
<strong>de</strong>grau da escada encontrou‐se uma caçarola<br />
<strong>de</strong> ferro tampada. Dentro, uma carta <strong>de</strong><br />
escrita antiga. Lida por um especialista em<br />
Ouro Preto, o texto revelou o relato <strong>de</strong> um<br />
auto<strong>de</strong>nominado afilhado <strong>de</strong> Cláudio<br />
Manoel. Contava ter trazido uma carga para<br />
a fazenda, em carro <strong>de</strong> boi e lombo <strong>de</strong> burros,<br />
a mando do tio, preso em Vila Rica. Saíra <strong>de</strong><br />
noite, escapando à vigilância dos soldados<br />
do governador. Junto iam quatro escravos<br />
com sentença pre<strong>de</strong>finida: <strong>de</strong>veriam ser<br />
mortos tão logo o material fosse enterrado. A<br />
misteriosa remessa seria composta <strong>de</strong><br />
moedas, jóias, ouro em barra e em pó. Tudo<br />
foi <strong>de</strong>positado junto a um pé <strong>de</strong> laranja, no<br />
pasto dos burros, e coberto com terra e<br />
cascalho. Recorda Albertina que “seu<br />
A<strong>de</strong>lino” não fez nada, até que, dias <strong>de</strong>pois,<br />
quando do <strong>de</strong>smonte dos alicerces, foram<br />
encontrados quatro esqueletos dispostos<br />
cabeça a cabeça. “Bateu o vento e tudo virou<br />
pó, ficaram só as canelas” – contou o pai<br />
Henrique aos filhos, Albertina entre eles.<br />
A<strong>de</strong>lino se inquietou. Perguntou aos mais<br />
velhos on<strong>de</strong> era o pasto dos burros. Ninguém<br />
sabia – até porque 1789 estava há longínquos<br />
143 anos. Seguindo a disposição da<br />
casa e das trilhas no mato, selecionou áreas<br />
planas e mandou cavar. A terra foi toda<br />
revirada. Nada<br />
19
Decepcionado, mas ainda esperançoso,<br />
mandou vir <strong>de</strong> Belo Horizonte um certo Pai<br />
Cruzeiro e sua mulher, médiuns famosos <strong>de</strong><br />
um terreiro <strong>de</strong> umbanda. Durante dias foram<br />
feitas sessões, na área da casa velha e nos<br />
platôs. Pai Cruzeiro alterava a voz, contorcia<br />
o corpo, dizia‐se tomado por velhos<br />
espíritos, mas nenhum <strong>de</strong>les ajudava.<br />
A<strong>de</strong>lino finalmente <strong>de</strong>sistiu. A história ficou e<br />
ninguém mais se animou a fazer novas<br />
buscas, nem mesmo os <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>ntes<br />
legítimos do poeta: “Meu pai dizia: nóis num<br />
caça o que num guardou”, lembra Albertina.<br />
Para eles, o tesouro só virá à luz agora por<br />
<strong>de</strong>sígnio <strong>de</strong> Deus. E se vier, ela avisa, <strong>de</strong>le<br />
não falarão, pois temem a “florestal” e os<br />
advogados. Se os ouvisse, o velho Diogo <strong>de</strong><br />
Vasconcellos provavelmente aprovaria tal<br />
<strong>de</strong>sconfiança. Em 1915, ele fez as contas e<br />
mostrou que o fisco republicano era bem<br />
mais voraz que o do “rei velho”. O “quinto”,<br />
cuja cobrança <strong>de</strong>flagrou o movimento da<br />
Inconfidência, representava 12% do ouro<br />
produzido em Minas. Recentemente, o<br />
ministro da Fazenda, Guido Mantega,<br />
admitiu que o fisco leva 47% do que se<br />
produz no Brasil. Na <strong>de</strong>spedida do Areião,<br />
pergunto a Albertina se irá a Ouro Preto nas<br />
festas <strong>de</strong> 21 <strong>de</strong> abril. “Sempre quis ir, mas<br />
nunca fui. Antes não tinha estrada. Depois,<br />
não tinha ônibus. Agora tem, mas como é<br />
feriado, o ônibus não passa”.<br />
Passo da Rua Direita - Cristiano Casimiro<br />
Pico do Itacolomi - Foto : Cristiano Casimiro<br />
20
Cláudio Manoel da Costa foi um dos maiores marianense, lutou pela igualda<strong>de</strong>,<br />
por um estado <strong>de</strong>mocrático e pela liberda<strong>de</strong>...Em mariana temos<br />
uma praça com seu nome um distrito em sua homenagem, mas será que os<br />
marianenses qual importância <strong>de</strong>le para formação cívica e cultural do<br />
Brasil? Segue abaixo parte do Soneto: Fábula do ribeirão do Carmo.<br />
FÁBULA DO RIBEIRÃO DO CARMO<br />
A vós, canoras Ninfas, que no amado<br />
Berço viveis do plácido Mon<strong>de</strong>go,<br />
Que sois da minha lira doce emprego,<br />
Inda quando <strong>de</strong> vós mais apartado;<br />
A vós do pátrio Rio em vão cantado<br />
O sucesso infeliz eu vos entrego;<br />
E a vítima estrangeira, com que chego,<br />
Em seus braços acolha o vosso agrado.<br />
Ve<strong>de</strong> a história infeliz, que Amor or<strong>de</strong>na,<br />
Jamais <strong>de</strong> Fauno, ou <strong>de</strong> Pastor ouvida,<br />
Jamais cantada na silvestre avena.<br />
Se ela vos <strong>de</strong>sagrada, por sentida,<br />
Sabei que outra mais feia em minha pena<br />
Se vê entre estas serras escondida.<br />
Foto : Márcio Lima<br />
Sobrado ( ve<strong>de</strong> e amarelo) on<strong>de</strong> viveu o poeta e inconfi<strong>de</strong>nte Cláudio Manoel da Costa - Praça Cláudio Manoel em Mariana
Acervo : Museu da Música <strong>de</strong> Mariana
MUSEU DA MÚSICA DE MARIANA<br />
Paulo Castanha<br />
O Museu da Música <strong>de</strong> Mariana, como tem<br />
sido popularmente chamado o Museu da<br />
Música do Arquivo Eclesiástico da<br />
Arquidiocese <strong>de</strong> Mariana, vem participando<br />
da construção cultural <strong>de</strong> brasileiros e portugueses.<br />
Sua história, no entanto, exibe uma<br />
complexa teia <strong>de</strong> relações, que fez <strong>de</strong>sta<br />
instituição um centro pioneiro <strong>de</strong> recepção,<br />
preservação e difusão do patrimônio histórico-musical<br />
luso-brasileiro, que se encontra<br />
em franco <strong>de</strong>senvolvimento.<br />
A origem do Museu da Música está associada<br />
a um problema inicialmente observado<br />
pelo musicólogo teuto-uruguaio Francisco<br />
Curt Lange (1903-1997), que realizou as<br />
primeiras investigações histórico-musicais<br />
em território brasileiro nas décadas <strong>de</strong> 1940 e<br />
1950: a falta <strong>de</strong> pessoal especializado e,<br />
principalmente, <strong>de</strong> instituições locais <strong>de</strong>stinadas<br />
ao cuidado e estudo <strong>de</strong> acervos <strong>de</strong><br />
manuscritos musicais. A primeira solução<br />
adotada por Curt Lange foi, no entanto,<br />
discutível: o musicólogo obteve muitos<br />
manuscritos musicais com os quais se<br />
<strong>de</strong>parou nos estados <strong>de</strong> Minas Gerais, Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro e São Paulo, por compra ou por<br />
métodos obscuros, levando-os à sua residência,<br />
nessas décadas no Rio <strong>de</strong> Janeiro e<br />
em Montevidéu (Uruguai).<br />
Mas se, nesse período, não havia no Brasil<br />
nenhuma instituição especificamente<br />
<strong>de</strong>dicada a esse tipo <strong>de</strong> acervo, ao menos<br />
nos mol<strong>de</strong>s <strong>de</strong>fendidos por Curt Lange, os<br />
manuscritos por ele recolhidos estavam<br />
sendo cada vez mais referidos no Brasil,<br />
principalmente a partir da primeira publicação<br />
<strong>de</strong> uma coletânea <strong>de</strong>sse repertório<br />
(LANGE, 1951) e <strong>de</strong> sua primeira gravação,<br />
em 1958. Por outro lado, praticamente<br />
nenhum especialista, além <strong>de</strong>le próprio, tinha<br />
acesso a tais documentos, antes <strong>de</strong> sua<br />
transferência para o Museu da Inconfidência<br />
(Ouro Preto – MG) em 1983 e sua disponibilização<br />
pública na década seguinte.<br />
Foi nesse contexto que se <strong>de</strong>stacou o trabalho<br />
do terceiro arcebispo da Arquidiocese <strong>de</strong><br />
Mariana, Dom Oscar <strong>de</strong> Oliveira (1912-<br />
1997). Des<strong>de</strong> o início <strong>de</strong> sua função arquiepiscopal,<br />
em 1960, Dom Oscar vinha tomando<br />
várias medidas referentes à preservação<br />
e acesso ao patrimônio histórico e artístico <strong>de</strong><br />
sua região: em 1962 instituiu o Museu<br />
Arquidiocesano <strong>de</strong> Arte Sacra e em 1965 o<br />
Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese <strong>de</strong><br />
Mariana. Até o final <strong>de</strong> sua atuação à frente<br />
da arquidiocese, em 1988, Dom Oscar<br />
fundou também o Museu do Livro (com o<br />
acervo da antiga Biblioteca dos Bispos <strong>de</strong><br />
Mariana), o Museu dos Móveis, a Fundação<br />
Cultural e Educacional da Arquidiocese <strong>de</strong><br />
Mariana e a Fundação Marianense <strong>de</strong><br />
Educação.<br />
Mariana é se<strong>de</strong> episcopal <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1748 e a<br />
sexta diocese brasileira, <strong>de</strong>pois das dioceses<br />
(ou bispados) da Bahia (1555), Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro (1676), Olinda (1676), Maranhão<br />
(1677) e Pará (1719), tendo sido elevada a<br />
arquidiocese em 1906. Primeira vila, cida<strong>de</strong> e<br />
capital <strong>de</strong> Minas Gerais, Mariana começou a<br />
se <strong>de</strong>senvolver economicamente em função<br />
da mineração aurífera, tornando-se região<br />
agropastoril no século XIX e, na recente fase<br />
industrial, um centro minerador <strong>de</strong> ferro.<br />
A herança urbanística e eclesiástica <strong>de</strong><br />
Mariana fez com que lá se concentrassem<br />
muitas reminiscências da antiga arte sacra<br />
(especialmente dos séculos XVIII e XIX),<br />
incluindo muitos manuscritos musicais e o<br />
conhecido órgão Arp Schnitger construído<br />
em Hamburgo (Alemanha) na primeira<br />
década do século XVIII e transferido para a<br />
catedral <strong>de</strong> Mariana em 1753.<br />
Mudanças litúrgicas do século XX, no<br />
entanto, acarretaram uma sensível<br />
diminuição das atenções em relação ao<br />
repertório dos séculos anteriores, até o<br />
momento em que essa música começou a<br />
ser vista não apenas como componente<br />
litúrgico, mas também como patrimônio<br />
histórico. Quem pela primeira vez percebeu<br />
isso em Mariana foi Dom Oscar <strong>de</strong> Oliveira.<br />
23
24<br />
Acervo : Museu da Música <strong>de</strong> Mariana
Des<strong>de</strong> sua consagração como arcebispo em<br />
1960, Dom Oscar <strong>de</strong> Oliveira já manifestava<br />
especial interesse pela música sacra. Nesse<br />
mesmo ano publicou uma série <strong>de</strong> treze<br />
artigos com o título “Música sacra e liturgia”<br />
(OLIVEIRA, 1960), embora sem qualquer<br />
menção ao passado musical marianense.<br />
Em meio a tais iniciativas e sentindo a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma ação também dirigida<br />
ao patrimônio histórico-musical, o arcebispo<br />
fundou em 1973 o Museu da Música, como<br />
p a r t e d o A r q u i v o E c l e s i á s t i c o d a<br />
Arquidiocese <strong>de</strong> Mariana. Principalmente<br />
constituído <strong>de</strong> manuscritos musicais, apesar<br />
<strong>de</strong> também contar com alguns instrumentos<br />
musicais, o Museu da Música acabou<br />
recebendo esse nome em <strong>de</strong>corrência das<br />
instituições anteriormente fundadas por Dom<br />
Oscar para a proteção do patrimônio<br />
histórico marianense, como o Museu <strong>de</strong> Arte<br />
Sacra e o Museu do Livro.<br />
A fundação do Museu da Música foi uma<br />
solução criada por Dom Oscar para a falta <strong>de</strong><br />
instituições brasileiras <strong>de</strong>stinadas à<br />
preservação e estudo <strong>de</strong> manuscritos<br />
musicais. Tal solução, entretanto, foi o<br />
resultado <strong>de</strong> uma longa série <strong>de</strong> ações<br />
anteriores à sua oficialização, que inclui a<br />
tradição dos mestres da capela do século<br />
XVIII e a acumulação <strong>de</strong> manuscritos<br />
musicais na cida<strong>de</strong> durante o século XIX.<br />
Quando assumiu a arquidiocese, ou talvez<br />
mesmo antes disso, Dom Oscar <strong>de</strong> Oliveira<br />
percebeu que a cúria marianense, à época<br />
instalada na igreja <strong>de</strong> São Pedro dos Clérigos<br />
g u a r d a v a u m p r e c i o s o a c e r v o d e<br />
manuscritos musicais, muitos <strong>de</strong>les bastante<br />
a n t i g o s . O a r c e b i s p o m a n i f e s t o u<br />
publicamente o interesse por esse acervo em<br />
1966, quando convidou o irmão marista<br />
Wagner Ribeiro a publicar o artigo “Visita ao<br />
maravilhoso reino da música antiga<br />
mariananese” no jornal O Arquidiocesano,<br />
texto que se tornou a mais antiga notícia hoje<br />
disponível sobre o acervo que <strong>de</strong>u origem ao<br />
Museu da Música.<br />
Entre outros impressos e documentos,<br />
Wagner Ribeiro (1966) <strong>de</strong>screveu <strong>de</strong>zenove<br />
manuscritos musicais do acervo da cúria,<br />
chegando a apresentar o incipit musical<br />
(fda Antífona <strong>de</strong> Nossa Senhora Regina<br />
Cæli lætare <strong>de</strong> José Joaquim Emerico Lobo<br />
<strong>de</strong> Mesquita (1746?-1805), a partir <strong>de</strong> uma<br />
cópia <strong>de</strong> 1779, o mais antigo manuscrito<br />
musical datado <strong>de</strong>sse acervo. No ano<br />
seguinte, um artigo do mesmo jornal<br />
(VASCONCELLOS, 1967) já mencionava a<br />
existência <strong>de</strong> dois arquivistas musicais<br />
trabalhando na cúria: Aníbal Pedro Walter e<br />
Vicente Ângelo das Mercês. A partir <strong>de</strong>sse<br />
período, o arcebispo estava firmemente<br />
<strong>de</strong>cidido a cuidar <strong>de</strong>sse acervo.<br />
Mas qual foi a origem dos manuscritos<br />
musicais preservados na cúria <strong>de</strong> Mariana? A<br />
existência <strong>de</strong> uma tradição musical do século<br />
XVIII (CASTAGNA, 2004b) na matriz e<br />
<strong>de</strong>pois catedral <strong>de</strong> Mariana , associada à<br />
presença <strong>de</strong> várias cópias <strong>de</strong>sse período no<br />
acervo encontrado por Dom Oscar,<br />
sugeriram a hipótese <strong>de</strong> que o acervo<br />
musical da cúria fosse o remanescente do<br />
antigo arquivo musical da catedral <strong>de</strong><br />
Mariana, suposição apoiada pela existência<br />
<strong>de</strong> várias cópias com a indicação <strong>de</strong><br />
proprieda<strong>de</strong> “catedral” na página <strong>de</strong> rosto.<br />
De fato, vários documentos atestam a<br />
relação entre o arquivo musical catedralício e<br />
o acervo encontrado por Dom Oscar <strong>de</strong><br />
Oliveira na cúria, como a “Lista das músicas<br />
pertencentes à Catedral”, <strong>de</strong> 1832, embora<br />
seja evi<strong>de</strong>nte que boa parte do repertório<br />
acumulado nessa igreja nos séculos XVIII e<br />
XIX tenha se perdido. Paralelamente, em<br />
1882, o arcediago José <strong>de</strong> Souza Teles<br />
Guimarães doou à catedral <strong>de</strong> Mariana 164<br />
músicas “dos melhores autores conhecidos,<br />
para uso da Catedral”, encaminhando “a lista<br />
nominal <strong>de</strong> todas as peças” e solicitando que<br />
“as ditas músicas sejam acondicionadas e<br />
zeladas <strong>de</strong> modo que se prestem ao fim<br />
proposto” (CASTAGNA, 2010). Essa “lista<br />
nominal” parece correspon<strong>de</strong>r à “Lista Geral<br />
<strong>de</strong> Todas as Músicas” localizada no Arquivo<br />
Eclesiástico da Arquidiocese <strong>de</strong> Mariana, a<br />
qual exibe muitas correspondências com o<br />
antigo acervo musical da cúria e nos ajuda a<br />
esclarecer a origem <strong>de</strong> uma parte dos<br />
manuscritos preservados.<br />
25
Acervo : Museu da Música <strong>de</strong> Mariana
Não são conhecidos registros sobre a transferência<br />
do arquivo musical da catedral para<br />
a cúria, mas isso <strong>de</strong>ve ter ocorrido após a<br />
promulgação do Motu Proprio Tra le sollecitudini<br />
(22 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 1903) do papa Pio<br />
X, que acarretou o <strong>de</strong>suso da maior parte do<br />
repertório sacro dos séculos XVIII e XIX,<br />
<strong>de</strong>corrente da <strong>de</strong>puração do “funesto<br />
influxo que sobre a arte sacra exerce a arte<br />
profana e teatral” solicitada pelo pontífice.<br />
Essa <strong>de</strong>terminação foi amplamente conhecida<br />
pelo clero marianense, pois além <strong>de</strong> ter<br />
sido transcrita nas atas do cabido, foi impressa<br />
em Mariana poucos meses após sua<br />
assinatura em Roma (PIO X, 1904).<br />
Pelo menos trezentas obras <strong>de</strong>vem ter sido<br />
transferidas da catedral à cúria <strong>de</strong> Mariana no<br />
início do século XX, a julgar pelo atual conteúdo<br />
da seção mais antiga do Museu da<br />
Música. Entre elas, estão principalmente<br />
composições <strong>de</strong> autores afro-mineiros dos<br />
séculos XVIII e XIX, mas também algumas<br />
obras <strong>de</strong> autores portugueses mais antigos,<br />
com <strong>de</strong>staque para as quatro Paixões da<br />
Semana Santa escritas por Francisco Luís no<br />
século XVII. Fica assim evi<strong>de</strong>nte que, embora<br />
instituído há 40 anos, o Museu da Música<br />
<strong>de</strong> Mariana partiu <strong>de</strong> um repertório acumulado<br />
ao longo <strong>de</strong> três séculos – obviamente<br />
com muitas perdas e substituições – mas<br />
cujas raízes remontam à história musical<br />
portuguesa, europeia e católica. Nesse<br />
sentido, o acervo do Museu da Música é a<br />
reminiscência, no Brasil, <strong>de</strong> uma re<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
difusão musical que iniciou-se na Europa e<br />
cruzou várias vezes o Atlântico, reunindo e<br />
mesclando estilos, tendências, origens,<br />
formas e funções.<br />
Interessado em preservar toda essa documentação<br />
musical, o arcebispo Dom Oscar<br />
<strong>de</strong> Oliveira tomou duas medidas, ainda no<br />
final da década <strong>de</strong> 1960: a primeira <strong>de</strong>las foi<br />
convidar, para a função <strong>de</strong> arquivista musical,<br />
a professora Maria Ercely Coutinho , que<br />
trabalhou na cúria, ainda na igreja <strong>de</strong> São<br />
Pedro dos Clérigos, <strong>de</strong> 1968 a 1972 (em<br />
substituição aos primeiros arquivistas Aníbal<br />
Pedro Walter e Vicente Ângelo das Mercês,<br />
que lá atuaram em 1967). A segunda foi<br />
solicitar às famílias <strong>de</strong> músicos que o arcebispo<br />
encontrava, durante as visitas episcopais<br />
às paróquias da arquidiocese, a doação <strong>de</strong><br />
músicas à cúria <strong>de</strong> Mariana, o que ocorreu<br />
várias vezes a partir <strong>de</strong>ssa época: o primeiro<br />
<strong>de</strong>sses acervos foi oferecido em 1969 por<br />
José Henrique Ângelo, <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> uma<br />
família <strong>de</strong> músicos da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Barão <strong>de</strong><br />
Cocais (MG)<br />
O tamanho e a complexida<strong>de</strong> do acervo <strong>de</strong><br />
Barão <strong>de</strong> Cocais tornou necessária a intervenção<br />
<strong>de</strong> um musicólogo com experiência<br />
na área, o que representou novo <strong>de</strong>safio ao<br />
arcebispo. Francisco Curt Lange, que já tinha<br />
conhecimento do acervo musical da cúria <strong>de</strong><br />
Mariana, começou a oferecer seu trabalho a<br />
D o m O s c a r d e O l i v e i r a e m 1 9 6 7<br />
(CASTAGNA, 2005), mas este acabou<br />
aceitando a colaboração do padre José <strong>de</strong><br />
Almeida Penalva (1924-2002) , que já vinha<br />
trabalhando com manuscritos musicais em<br />
Campinas, sua cida<strong>de</strong> natal: o primeiro<br />
trabalho <strong>de</strong> Penalva como pesquisador havia<br />
sido impresso em 1955, mas a catalogação,<br />
em 1970, das obras <strong>de</strong> Carlos Gomes (1836-<br />
1896) no Centro <strong>de</strong> Ciências, Letras e Artes<br />
<strong>de</strong> Campinas (SP), foi a iniciativa que diretamente<br />
o conectou à pesquisa que realizaria<br />
e m M a r i a n a d o i s a n o s m a i s t a r d e<br />
(PROSSER, 2000: 227).<br />
Em Mariana, José Penalva organizou e<br />
elaborou um catálogo do arquivo <strong>de</strong> José<br />
Henrique Ângelo, parcialmente publicado no<br />
jornal O Arquidiocesano em 1972 , porém<br />
impresso em sua forma integral no ano<br />
seguinte na revista Ca<strong>de</strong>rnos, periódico do<br />
Studium Theologicum <strong>de</strong> Curitiba (PR),<br />
cida<strong>de</strong> na qual o padre Penalva passou a<br />
residir.<br />
Com o encerramento do trabalho <strong>de</strong> Maria<br />
Ercely Coutinho e do Padre José <strong>de</strong> Almeida<br />
Penalva, em 1972, surgiu novamente a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> contar com alguém que<br />
continuasse o trabalho por eles iniciado. Dom<br />
Oscar <strong>de</strong> Oliveira, em nova ação planejadora,<br />
aceitou a colaboração <strong>de</strong> Maria da<br />
Conceição <strong>de</strong> Rezen<strong>de</strong>, então professora <strong>de</strong><br />
História e Estética Musical na Fundação <strong>de</strong><br />
Educação Artística <strong>de</strong> Belo Horizonte (MG),<br />
que assumiu as tarefas <strong>de</strong> organização,<br />
catalogação e estudo do acervo por doze<br />
anos ininterruptos.<br />
27
A importância do acervo do Museu da Música <strong>de</strong> Mariana , que abriga mais <strong>de</strong> 2 mil<br />
partituras originais, foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a<br />
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) por meio do Diploma do Registro<br />
Regional para a América Latina e o Caribe.<br />
O título foi concedido pelo Programa Memória do Mundo, cujo objetivo é i<strong>de</strong>ntificar<br />
e certificar patrimônios documentais <strong>de</strong> relevância internacional, regional e<br />
nacional, facilitando assim sua preservação e acesso pelo público geral.<br />
A coleção <strong>de</strong> música sacra manuscrita do Museu da Música <strong>de</strong> Mariana, consi<strong>de</strong>rada<br />
uma das mais importantes da América Latina, é um patrimônio não só da<br />
população <strong>de</strong> Mariana, mas sim do mundo.<br />
28
Conceição Rezen<strong>de</strong> conviveu pouco tempo<br />
com Penalva e Coutinho em Mariana e logo<br />
passou a <strong>de</strong>senvolver praticamente sozinha<br />
sua tarefa, às vezes contando com o auxílio<br />
<strong>de</strong> músicos e professores <strong>de</strong> Mariana e <strong>de</strong><br />
Belo Horizonte (CASTAGNA, 2004a). Poucas<br />
semanas após o início do trabalho <strong>de</strong><br />
Conceição Rezen<strong>de</strong>, naquele agitado ano <strong>de</strong><br />
1972, a catalogação dos manuscritos musicais<br />
da cúria (especialmente do século XVIII)<br />
motivou constantes reportagens na imprensa<br />
diária , o que acabou dando ao acervo, a partir<br />
<strong>de</strong>sse período, uma notorieda<strong>de</strong> nacional e<br />
internacional.<br />
Foi <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> tudo isso que Dom Oscar <strong>de</strong><br />
Oliveira fundou o Museu da Música, inaugurado<br />
em uma sala do novo edifício da Cúria e<br />
Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese <strong>de</strong><br />
Mariana em 6 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 1973, paradoxalmente<br />
sem a presença do arcebispo, cuja<br />
mãe havia falecido nessa mesma época. A<br />
partir <strong>de</strong> então, as notícias sobre o Museu da<br />
Música tornaram-se frequentes e as doações<br />
<strong>de</strong> manuscritos musicais aumentaram consi<strong>de</strong>ravelmente.<br />
Utilizando a metodologia <strong>de</strong>senvolvida por<br />
José <strong>de</strong> Almeida Penalva, Maria da<br />
Conceição <strong>de</strong> Rezen<strong>de</strong> passou a separá-los<br />
pela cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> origem e por seis categorias<br />
funcionais: 1) Te Deum; 2) Ladainhas; 3)<br />
Ofícios e Novenas; 4) Missas; 5) Semana<br />
Santa; 6) Fúnebres. Assim, o acervo encontrado<br />
na cúria por Dom Oscar tornou-se a<br />
seção “Mariana”, enquanto o acervo estudado<br />
por José Penalva tornou-se a seção<br />
“Barão <strong>de</strong> Cocais”, cada um <strong>de</strong>les divididos<br />
em seis seções referentes à categorias acima<br />
mencionadas.<br />
Na década <strong>de</strong> 1980, os papéis <strong>de</strong> música já<br />
eram proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> trinta cida<strong>de</strong>s<br />
mineiras – felizmente registradas por<br />
Conceição Rezen<strong>de</strong> – e sua organização<br />
estimulou várias ações relacionadas ao<br />
patrimônio histórico-musical brasileiro. Uma<br />
<strong>de</strong>las foi a microfilmagem <strong>de</strong> parte dos<br />
manuscritos do Museu da Música (cujos<br />
fotogramas encontram-se na Pontifícia<br />
Universida<strong>de</strong> Católica do Rio <strong>de</strong> Janeiro),<br />
para a elaboração do catálogo O ciclo do<br />
ouro, que relaciona manuscritos musicais e<br />
outros documentos históricos <strong>de</strong> onze acervos<br />
mineiros e cariocas (BARBOSA, 1978).<br />
Conceição Rezen<strong>de</strong>, no entanto, encerrou<br />
seu trabalho no Museu da Música durante o I<br />
Encontro Nacional <strong>de</strong> Pesquisa em Música<br />
(Mariana, julho <strong>de</strong> 1984), ocasião na qual<br />
Dom Oscar provi<strong>de</strong>nciou o registro jurídico da<br />
instituição, abrindo-o finalmente à pesquisa.<br />
Em função da falta <strong>de</strong> espaço, o Museu da<br />
Música acabou sendo transferido para o<br />
recém-inaugurado Palácio Arquiepiscopal, na<br />
Praça Gomes Freire, em 1988 (mesmo ano<br />
em que Dom Oscar <strong>de</strong> Oliveira encerrou sua<br />
atuação como arcebispo <strong>de</strong> Mariana) e, ao<br />
lado do Museu do Livro, continuou recebendo<br />
pesquisadores e estimulando ações semelhantes<br />
nos anos seguintes .<br />
Felizmente, Dom Oscar foi sucedido por Dom<br />
Luciano Men<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Almeida (1930-2006),<br />
que não apenas manteve o acervo aberto à<br />
pesquisa no Palácio Arquiepiscopal, como<br />
também, à frente da Fundação Cultural e<br />
Educacional da Arquidiocese <strong>de</strong> Mariana,<br />
aceitou novas ações referentes à mo<strong>de</strong>rnização<br />
e <strong>de</strong>senvolvimento do Museu da Música.<br />
O Museu da Música <strong>de</strong> Mariana no século XXI<br />
Um trabalho <strong>de</strong>cisivo foi realizado no Museu<br />
da Música entre 2001 e 2003: o projeto “Acervo<br />
da Música Brasileira / Restauração e<br />
Difusão <strong>de</strong> Partituras”, da Fundação Cultural<br />
e Educacional da Arquidiocese <strong>de</strong> Mariana,<br />
financiado pela Petrobras e administrado pelo<br />
Santa Rosa Bureau Cultural (Belo Horizonte –<br />
MG). Nessa fase, foi constituída uma equipe<br />
<strong>de</strong> pesquisadores para continuar a organização<br />
do acervo e elaborar um instrumento <strong>de</strong><br />
busca eletrônico, além <strong>de</strong> editar nove álbuns<br />
<strong>de</strong> partituras e coor<strong>de</strong>nar sua gravação por<br />
coros e orquestras <strong>de</strong> Belo Horizonte, Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro e São Paulo.<br />
29<br />
Acervo : Museu da Música <strong>de</strong> Mariana
O projeto Acervo da Música Brasileira gerou<br />
novo interesse e maior visibilida<strong>de</strong> em relação<br />
ao Museu da Música, que passou a<br />
contar com outras ações e projetos <strong>de</strong>stinados<br />
a aumentar a difusão social <strong>de</strong> seu<br />
acervo. Após a restauração do antigo Palácio<br />
dos Bispos <strong>de</strong> Mariana, entre 2004 e 2007 , o<br />
Museu da Música foi para lá transferido, on<strong>de</strong><br />
se encontra atualmente . O novo espaço<br />
tornou a instituição apta a <strong>de</strong>senvolver<br />
ativida<strong>de</strong>s diferentes, como a recepção <strong>de</strong><br />
grupos <strong>de</strong> visitantes e o oferecimento <strong>de</strong><br />
aulas e apresentações musicais, o que<br />
ampliou consi<strong>de</strong>ravelmente seu significado<br />
cultural e social.<br />
Des<strong>de</strong> então, além <strong>de</strong> continuar o trabalho<br />
técnico e <strong>de</strong> receber pesquisadores, o Museu<br />
da Música <strong>de</strong> Mariana têm realizado projetos<br />
<strong>de</strong>stinados não somente ao <strong>de</strong>senvolvimento<br />
da pesquisa musicológica, mas também<br />
ao <strong>de</strong>senvolvimento musical, com a manutenção<br />
<strong>de</strong> espaços para exposições,aulas e<br />
apresentações musicais, e a realização <strong>de</strong><br />
projetos <strong>de</strong> apresentações públicas com<br />
obras <strong>de</strong> seu acervo em várias cida<strong>de</strong>s<br />
mineiras. Além disso, o Museu da Música<br />
mantém o projeto “Aperfeiçoamento <strong>de</strong><br />
Maestros e Regentes <strong>de</strong> Coro”, <strong>de</strong>stinado a<br />
<strong>de</strong>senvolver localmente a prática da música<br />
coral e a multiplicar ações nessa área.<br />
Em reconhecimento à importância <strong>de</strong> seu<br />
acervo <strong>de</strong> manuscritos musicais, mas também<br />
por conta dos projetos acima referidos, o<br />
Museu da Música <strong>de</strong> Mariana recebeu, do<br />
Programa Memória do Mundo da UNESCO,<br />
em 2 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011, o Diploma do<br />
Registro Regional para a América Latina e o<br />
Caribe (MOWLAC), tornando-se, assim, a<br />
primeira instituição brasileira do gênero com<br />
esse tipo <strong>de</strong> distinção.<br />
Apesar dos projetos anteriores <strong>de</strong> edição e<br />
gravação, a maior parte do acervo do Museu<br />
da Música <strong>de</strong> Mariana é <strong>de</strong>sconhecido do<br />
público. Bastante variado, esse acervo inclui<br />
instrumentos musicais, documentos históricos,<br />
recortes <strong>de</strong> jornais, livros cerimoniais,<br />
bibliografia musicológica, manuscritos e<br />
impressos musicais. Entre os manuscritos –<br />
que constituem a maior parte do acervo –<br />
estão obras sacras <strong>de</strong> vários períodos históricos<br />
e uma gran<strong>de</strong> seção <strong>de</strong> música dos<br />
séculos XIX e XX para banda, ainda em<br />
processo <strong>de</strong> catalogação. É gran<strong>de</strong> o número<br />
<strong>de</strong> autores <strong>de</strong> música sacra representados<br />
no acervo, entre eles muitos brasileiros,<br />
como José Joaquim Emerico Lobo <strong>de</strong><br />
Mesquita (1746?-1805), Manoel Dias <strong>de</strong><br />
Oliveira (c.1735-1813), Francisco Gomes da<br />
Rocha (c.1754-1808), João <strong>de</strong> Deus <strong>de</strong><br />
Castro Lobo (1794-1832) e José Maurício<br />
Nunes Garcia (1767-1830), e vários europeus,<br />
como os portugueses Francisco Luís (?-<br />
1693), Antonio Leal Moreira (1758-1819) e<br />
Marcos Portugal (1762-1830).<br />
Acervo : Museu da Música <strong>de</strong> Mariana
Acervo : Museu da Música <strong>de</strong> Mariana<br />
Por outro lado, a herança portuguesa e<br />
africana da maior parte dos compositores<br />
brasileiros representados no acervo – sem<br />
contar a música dos autores europeus que<br />
se transferiram para o Brasil – torna o Museu<br />
da Música <strong>de</strong> Mariana uma instituição <strong>de</strong><br />
significado internacional. Os projetos nele<br />
<strong>de</strong>senvolvidos não afetam apenas a cida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Mariana e nem somente o meio musicológico<br />
brasileiro, mas difun<strong>de</strong>m pelo mundo,<br />
especialmente <strong>de</strong> língua portuguesa, uma<br />
herança cultural que vem participando <strong>de</strong><br />
nossa vivência cultural por via direta ou<br />
indireta.<br />
O Museu da Música <strong>de</strong> Mariana tem estimulado<br />
o surgimento <strong>de</strong> instituições semelhantes<br />
em outras cida<strong>de</strong>s brasileiras – como o<br />
Museu da Música <strong>de</strong> Timbó (SC), inaugurado<br />
em 2004, e o Museu da Música <strong>de</strong> Itu<br />
(SP), inaugurado em 2007 – e seu <strong>de</strong>senvolvimento<br />
foi importante na elaboração <strong>de</strong><br />
outros projetos <strong>de</strong> conservação, organização,<br />
catalogação, edição e gravação <strong>de</strong><br />
obras, no Brasil e fora <strong>de</strong>le. Mesmo assim,<br />
as ações <strong>de</strong>ssa instituição estão longe <strong>de</strong><br />
serem encerradas: o Museu da Música<br />
planeja, atualmente, a digitalização e disponibilização<br />
eletrônica <strong>de</strong> seu acervo e outras<br />
iniciativas igualmente impactantes relacionadas<br />
ao patrimônio histórico-musical<br />
brasileiro.<br />
Vivemos, entretanto, em um período bastante<br />
diferente das décadas <strong>de</strong> 1940 a 1980,<br />
nas quais a falta <strong>de</strong> informações, <strong>de</strong> instituições<br />
e <strong>de</strong> oportunida<strong>de</strong>s mobilizou centenas<br />
<strong>de</strong> pessoas para o trabalho técnico e acadêmico<br />
relacionado ao patrimônio históricomusical.<br />
Na atualida<strong>de</strong>, os <strong>de</strong>safios são<br />
quase opostos aos daquela época, estando<br />
entre os principais o excesso <strong>de</strong> informações<br />
e que circula nas socieda<strong>de</strong>s e a falta<br />
<strong>de</strong> significado humano <strong>de</strong> boa parte das<br />
ações institucionais.<br />
Em virtu<strong>de</strong> da total reconfiguração do Museu<br />
da Música <strong>de</strong> Mariana e dos projetos nele<br />
<strong>de</strong>senvolvidos nos últimos treze anos, essa<br />
instituição vem se preparando para uma<br />
nova atuação junto à socieda<strong>de</strong>, que não se<br />
restringe somente à abertura <strong>de</strong> seu acervo<br />
aos especialistas (o que será permanentemente<br />
mantido), mas que visa também o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento cultural e social, com<br />
ações <strong>de</strong> interesse público relacionados ao<br />
seu acervo. Se o Museu da Música foi, no<br />
passado, uma instituição pioneira no cuidado<br />
<strong>de</strong> antigos acervos musicais por especialistas,<br />
seu futuro aponta agora para o cuidado<br />
<strong>de</strong> pessoas por meio da música antiga.<br />
31
Foto: Márcio Lima
Órgão da Sé <strong>de</strong> Mariana<br />
A catedral da Sé <strong>de</strong> Mariana guarda um<br />
precioso tesouro musical – um órgão<br />
construído em 1701, em Hamburgo<br />
(Alemanha), por Arp Schnitger (1648-1719),<br />
um dos maiores construtores <strong>de</strong> órgãos <strong>de</strong><br />
todos os tempos. Enviado inicialmente a uma<br />
Igreja Franciscana em Portugal, o órgão<br />
chegou ao Brasil em 1753, como presente da<br />
coroa portuguesa ao primeiro Bispo <strong>de</strong><br />
Mariana.<br />
É um instrumento <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> importância,<br />
tanto pela sua antigüida<strong>de</strong> e comprovada<br />
autoria, quanto por ter sido objeto <strong>de</strong> um<br />
amplo trabalho <strong>de</strong> restauração. Entre os<br />
órgãos da manufatura Schnitger que<br />
sobreviveram até hoje, esse é um dos<br />
exemplares mais bem conservados e o único<br />
que se encontra fora da Europa.<br />
Construído na Alemanha, provavelmente em<br />
1701, esse órgão passou um período em<br />
Portugal e, tendo sido colocado à venda em<br />
1747, foi adquirido das mãos do organeiro<br />
João da Cunha pelo Rei D. João V que<br />
preten<strong>de</strong>u enviá-lo à Mariana, mas que<br />
faleceu antes disso acontecer. Assim, seu<br />
filho D. José I fez do órgão um presente à<br />
récem criada Diocese <strong>de</strong> Mariana que, já em<br />
1748, mantinha, em sua Sé, um organista:<br />
Pe. Manuel da Costa Dantas e um mestre <strong>de</strong><br />
capela: Pe. Gregório dos Reis Melo.<br />
O transporte do órgão ocorreu por navio e<br />
lombo <strong>de</strong> animais, havendo relatos bem<br />
exatos das condições <strong>de</strong> chegada: “...um<br />
órgão gran<strong>de</strong> com sua caixa e talhas<br />
pertencentes a ele que chegou em 18 caixões<br />
numerados com as advertências precisas<br />
para se armar e também em 10 embrulhos<br />
gran<strong>de</strong>s e pequenos numerados...”.<br />
Des<strong>de</strong> sua instalação, em 1753, o órgão Arp<br />
Schnitger foi o centro <strong>de</strong> uma intensa<br />
ativida<strong>de</strong> musical na Sé <strong>de</strong> Mariana, cuja<br />
memória escrita é o acervo <strong>de</strong> partituras do<br />
Museu da Música, que abriga obras <strong>de</strong><br />
compositores do período colonial. São<br />
compositores <strong>de</strong> várias cida<strong>de</strong>s do Estado e<br />
do país. Após muitos anos <strong>de</strong> funcionamento<br />
ininterrupto, nos quais por algumas vezes<br />
recebeu algumas modificações visando<br />
adaptá-lo ao gosto vigente na época, por<br />
volta da década <strong>de</strong> 30 o órgão da Sé parou <strong>de</strong><br />
funcionar. Somente na década <strong>de</strong> 70, após<br />
pesquisas sobre a sua procedência e do<br />
reconhecimento <strong>de</strong> sua importância para o<br />
acervo <strong>de</strong> instrumentos musicais não só<br />
brasileiro, mas também mundial, foi feito um<br />
esforço concentrado para a restauração .<br />
Na década <strong>de</strong> 1970 o organista alemão Karl<br />
Richter esteve em Mariana a convite do<br />
Arcebispo D. Oscar <strong>de</strong> Oliveira e do então<br />
presi<strong>de</strong>nte da CEMIG, Dr. Francisco Afonso<br />
Noronha para fazer uma avaliação do<br />
instrumento que continha, no interior <strong>de</strong> sua<br />
caixa, um gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> peças originais<br />
preservadas e consi<strong>de</strong>rou esse instrumento<br />
u m ó r g ã o m u i t o i m p o r t a n t e , s a í d o<br />
provavelmente da manufatura <strong>de</strong> Arp<br />
Schnitger. Após essa visita e graças a um<br />
esforço consi<strong>de</strong>rável, os elementos musicais<br />
do órgão foram enviados a Hamburgo,<br />
Alemanha, on<strong>de</strong> foram reformados sob os<br />
cuidados da firma von Beckerath.<br />
Enquanto isso, uma equipe brasileira da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Minas Gerais, sob a<br />
orientação <strong>de</strong> Beatriz Coelho, restaurava a<br />
estrutura interna e externa da caixa e as<br />
partes que compõem a <strong>de</strong>coração do<br />
instrumento. Nesse primeiro trabalho, o<br />
gran<strong>de</strong> mérito foi trazer o instrumento <strong>de</strong> volta<br />
à vida usando as conquistas técnicas da<br />
época, sem <strong>de</strong>struir os sinais das fases<br />
anteriores, valiosíssimos no caso <strong>de</strong> uma<br />
restauração posterior com enfoque mais<br />
histórico.<br />
Reinaugurado em 1984 o Órgão Arp<br />
Schnitger voltou a ser centro da vida musical<br />
<strong>de</strong> Mariana, acompanhando missas e<br />
celebrações litúrgicas, além <strong>de</strong> ser<br />
apresentado em concertos regulares e<br />
internacionais, que tem trazido ao Brasil<br />
organistas <strong>de</strong> renome mundial. Embora o<br />
órgão estivesse tocando e funcionando bem,<br />
algumas características importantes que não<br />
pu<strong>de</strong>ram ser reconstruídas foram <strong>de</strong>ixadas<br />
para uma segunda etapa, feita por iniciativa<br />
da Fundação Cultural e Educacional da<br />
Arquidiocese <strong>de</strong> Mariana, que teve início em<br />
julho <strong>de</strong> 1997, com a visita <strong>de</strong> Bernhard<br />
Edskes a Mariana, e foi concluída em<br />
fevereiro <strong>de</strong> 2002 com a entrega oficial do<br />
instrumento.<br />
Juntamente com a restauração foi refeita a<br />
pesquisa histórica do instrumento, visando o<br />
levantamento <strong>de</strong> mais dados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a sua<br />
construção até a chegada em Minas, assim<br />
como suas diferentes funções ao longo <strong>de</strong><br />
sua história. Esta restauração foi realizada<br />
pela Firma Edskes Orgelbau, <strong>de</strong> Wohlen, na<br />
Suíça e teve o patrocínio da Petrobrás e o<br />
apoio da Varig, Tam e da Vitae.<br />
33
Acervo : Museu da Música <strong>de</strong> Mariana
Órgão do Museu da Música <strong>de</strong> Mariana<br />
O órgão do Museu da Música <strong>de</strong> Mariana foi<br />
construído por Abel Vargas, a partir do<br />
reaproveitamento <strong>de</strong> peças usadas em<br />
restaurações do órgão Arp Schnitger da<br />
catedral <strong>de</strong> Mariana. Não se trata, portanto,<br />
<strong>de</strong> um órgão barroco, <strong>de</strong> uma réplica ou <strong>de</strong><br />
um órgão feito com peças originais do<br />
instrumento da catedral, mas sim <strong>de</strong> um<br />
órgão totalmente mo<strong>de</strong>rno, que apenas<br />
reaproveitou peças das restaurações<br />
realizadas anteriormente na catedral.<br />
Em fins do século XIX, o órgão Arp Schnitger<br />
da catedral <strong>de</strong> Mariana (que foi construído<br />
em 1701) havia sido totalmente reafinado<br />
um tom acima, e alguns poucos tubos<br />
originais <strong>de</strong> metal (apenas meta<strong>de</strong> <strong>de</strong> um<br />
registro) haviam sido substituídos por tubos<br />
<strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira. No final do ano <strong>de</strong> 1937 o órgão<br />
<strong>de</strong>ixou <strong>de</strong> funcionar e, nas décadas<br />
subsequentes, foi se <strong>de</strong>teriorando e seus<br />
tubos foram sendo avariados, alguns <strong>de</strong>les<br />
perdidos.<br />
Entre 1980-1984, quando, pela primeira vez,<br />
o órgão da catedral foi restaurado, pela firma<br />
Beckerath Orgelbau, em Hamburgo, os<br />
tubos originais foram reparados e alguns<br />
tubos que faltavam foram substituídos por<br />
novos. Além disso, foram substituídos os<br />
antigos manuais (teclados) por novos<br />
exemplares, foi anexado um novo banco<br />
para o(a) organista e instalada, pela primeira<br />
vez, uma pedaleira. Todo o material<br />
removido foi cuidadosamente guardado e<br />
reenviado a Mariana.<br />
Entre 2000-2002 foi realizada a segunda<br />
restauração do órgão Arp Schnitger, <strong>de</strong>sta<br />
vez pela firma Edskes Orgelbau, que<br />
reconstituiu o tamanho original dos tubos e a<br />
afinação do século XVIII. Durante essa<br />
restauração <strong>de</strong> 2000-2002 (parte na Suíça e<br />
parte em Mariana), foram realizadas outras<br />
intervenções técnicas, como a troca<br />
daqueles poucos tubos <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira do<br />
século XIX por novos tubos <strong>de</strong> metal, o<br />
retorno dos manuais originais do século<br />
XVIII (removidos entre 1980-1984), a troca<br />
do banco e da pedaleira por exemplares<br />
construídos segundo mo<strong>de</strong>los do século<br />
XVIII, bem como a substituição dos tubos<br />
instalados pela Beckerath, por tubos mais<br />
próximos dos originais. Todo o material<br />
inserido pela Beckerath entre 1980-1984 e<br />
removido pela Edskes, em 2000-2002,<br />
também foi cuidadosamente guardado.<br />
Finalmente em 2010, a partir <strong>de</strong> um projeto<br />
d a o r g a n i s t a E l i s a F r e i x o , c o m<br />
fi n a n c i a m e n t o d a P r e f e i t u r a d e<br />
Mariana/Conselho Municipal do Patrimônio<br />
Cultural/COMPAT, o luthier Abel Vargas<br />
reuniu as peças retiradas pelas firmas<br />
Beckerath e Edskes, que estavam<br />
encaixotadas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2002, e construiu o<br />
órgão do Museu da Música <strong>de</strong> Mariana,<br />
acrescentando apenas o fole, o motor, a<br />
caixa externa, mais alguns tubos e algumas<br />
outras peças para dar unida<strong>de</strong> ao<br />
instrumento. O órgão do Museu da Música é,<br />
portanto, um órgão reciclado!<br />
Agora ainda faltam os ajustes finos, como o<br />
término da afinação e da regulagem dos<br />
manuais, o revestimento acústico do motor e<br />
alguns outros acabamentos técnicos. Até o<br />
final do ano, o órgão estará pronto e, em<br />
2015, já estará disponível para os projetos<br />
do Museu da Música, principalmente<br />
voltados ao ensino e ao estudo.<br />
O ó r g ã o e s t á e m f u n c i o n a m e n t o ,<br />
atualmente, no coro do Santuário do Carmo<br />
<strong>de</strong> Mariana.<br />
Foto : Cristiano casimiro<br />
O luthier Abel Vargas e equipe afinado o órgão<br />
no santuário do carmo em Mariana<br />
35
Mariana<br />
<strong>Revista</strong> Histórica e Cultural<br />
Conhecer nosso patrimônio e saber preserva-lo.<br />
A <strong>Revista</strong> Mariana Histórica e Cultural estará<br />
presente neste evento