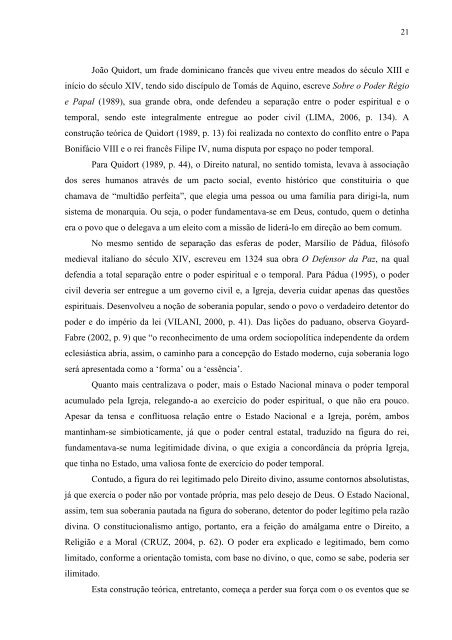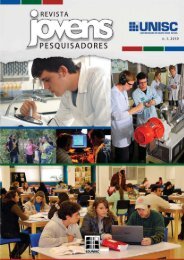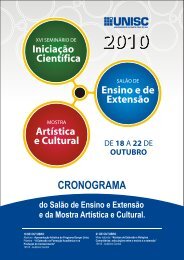Direito fundamental social e política econômica - Unisc
Direito fundamental social e política econômica - Unisc
Direito fundamental social e política econômica - Unisc
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
João Quidort, um frade dominicano francês que viveu entre meados do século XIII e<br />
início do século XIV, tendo sido discípulo de Tomás de Aquino, escreve Sobre o Poder Régio<br />
e Papal (1989), sua grande obra, onde defendeu a separação entre o poder espiritual e o<br />
temporal, sendo este integralmente entregue ao poder civil (LIMA, 2006, p. 134). A<br />
construção teórica de Quidort (1989, p. 13) foi realizada no contexto do conflito entre o Papa<br />
Bonifácio VIII e o rei francês Filipe IV, numa disputa por espaço no poder temporal.<br />
Para Quidort (1989, p. 44), o <strong>Direito</strong> natural, no sentido tomista, levava à associação<br />
dos seres humanos através de um pacto <strong>social</strong>, evento histórico que constituiria o que<br />
chamava de “multidão perfeita”, que elegia uma pessoa ou uma família para dirigi-la, num<br />
sistema de monarquia. Ou seja, o poder fundamentava-se em Deus, contudo, quem o detinha<br />
era o povo que o delegava a um eleito com a missão de liderá-lo em direção ao bem comum.<br />
No mesmo sentido de separação das esferas de poder, Marsílio de Pádua, filósofo<br />
medieval italiano do século XIV, escreveu em 1324 sua obra O Defensor da Paz, na qual<br />
defendia a total separação entre o poder espiritual e o temporal. Para Pádua (1995), o poder<br />
civil deveria ser entregue a um governo civil e, a Igreja, deveria cuidar apenas das questões<br />
espirituais. Desenvolveu a noção de soberania popular, sendo o povo o verdadeiro detentor do<br />
poder e do império da lei (VILANI, 2000, p. 41). Das lições do paduano, observa Goyard-<br />
Fabre (2002, p. 9) que “o reconhecimento de uma ordem socio<strong>política</strong> independente da ordem<br />
eclesiástica abria, assim, o caminho para a concepção do Estado moderno, cuja soberania logo<br />
será apresentada como a ‘forma’ ou a ‘essência’.<br />
Quanto mais centralizava o poder, mais o Estado Nacional minava o poder temporal<br />
acumulado pela Igreja, relegando-a ao exercício do poder espiritual, o que não era pouco.<br />
Apesar da tensa e conflituosa relação entre o Estado Nacional e a Igreja, porém, ambos<br />
mantinham-se simbioticamente, já que o poder central estatal, traduzido na figura do rei,<br />
fundamentava-se numa legitimidade divina, o que exigia a concordância da própria Igreja,<br />
que tinha no Estado, uma valiosa fonte de exercício do poder temporal.<br />
Contudo, a figura do rei legitimado pelo <strong>Direito</strong> divino, assume contornos absolutistas,<br />
já que exercia o poder não por vontade própria, mas pelo desejo de Deus. O Estado Nacional,<br />
assim, tem sua soberania pautada na figura do soberano, detentor do poder legítimo pela razão<br />
divina. O constitucionalismo antigo, portanto, era a feição do amálgama entre o <strong>Direito</strong>, a<br />
Religião e a Moral (CRUZ, 2004, p. 62). O poder era explicado e legitimado, bem como<br />
limitado, conforme a orientação tomista, com base no divino, o que, como se sabe, poderia ser<br />
ilimitado.<br />
Esta construção teórica, entretanto, começa a perder sua força com o os eventos que se<br />
21