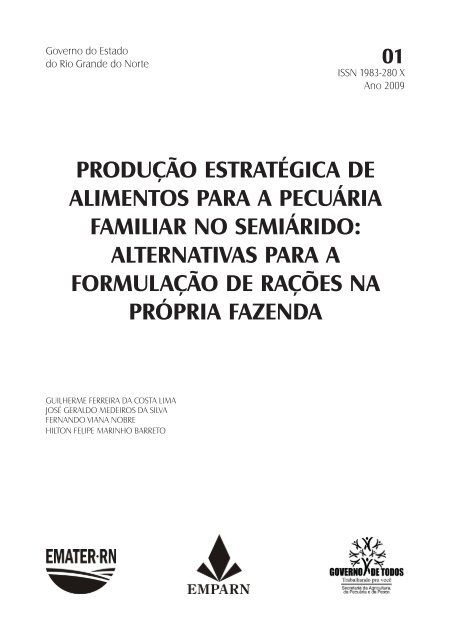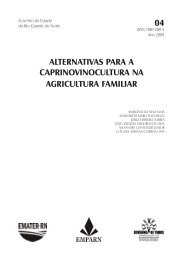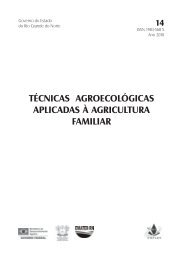produção estratégica de alimentos para a pecuária familiar
produção estratégica de alimentos para a pecuária familiar
produção estratégica de alimentos para a pecuária familiar
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Governo do Estado<br />
do Rio Gran<strong>de</strong> do Norte<br />
PRODUÇÃO ESTRATÉGICA DE<br />
ALIMENTOS PARA A PECUÁRIA<br />
FAMILIAR NO SEMIÁRIDO:<br />
ALTERNATIVAS PARA A<br />
FORMULAÇÃO DE RAÇÕES NA<br />
PRÓPRIA FAZENDA<br />
GUILHERME FERREIRA DA COSTA LIMA<br />
JOSÉ GERALDO MEDEIROS DA SILVA<br />
FERNANDO VIANA NOBRE<br />
HILTON FELIPE MARINHO BARRETO<br />
01<br />
ISSN 1983-280 X<br />
Ano 2009
GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE<br />
WILMA MARIA DE FARIA<br />
SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DA PESCA<br />
FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO<br />
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO RIO GRANDE NORTE<br />
DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPARN<br />
DIRETOR PRESIDENTE<br />
HENRIQUE EUFRÁSIO DE SANTANA JUNIOR<br />
DIRETOR DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO<br />
MARCONE CÉSAR MENDONÇA DAS CHAGAS<br />
DIRETOR DE OPERAÇÕES ADM. E FINANCEIRAS<br />
AMADEU VENÂNCIO DANTAS FILHO<br />
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO RN<br />
DIRETORIA EXECUTIVA DA EMATER-RN<br />
DIRETOR GERAL<br />
LUIZ CLÁUDIO SOUZA MACEDO<br />
DIRETOR TÉCNICO<br />
MÁRIO VARELA AMORIM<br />
DIRETOR DE ADM. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS<br />
CÍCERO ALVES FERNANDES NETO
PRODUÇÃO ESTRATÉGICA DE<br />
ALIMENTOS PARA A PECUÁRIA<br />
FAMILIAR NO SEMIÁRIDO:<br />
ALTERNATIVAS PARA A<br />
FORMULAÇÃO DE RAÇÕES NA<br />
PRÓPRIA FAZENDA<br />
GUILHERME FERREIRA DA COSTA LIMA<br />
JOSÉ GERALDO MEDEIROS DA SILVA<br />
FERNANDO VIANA NOBRE<br />
HILTON FELIPE MARINHO BARRETO<br />
ISSN 1983-280 X<br />
Ano 2009
PRODUÇÃO ESTRATÉGICA DE ALIMENTOS PARA A PECUÁRIA FAMILIAR NO<br />
SEMIÁRIDO: ALTERNATIVAS PARA A FORMULAÇÃO DE RAÇÕES NA PRÓPRIA<br />
FAZENDA<br />
EXEMPLARES DESTA PUBLICAÇÃO PODEM SER ADQUIRIDOS<br />
EMPARN - Empresa <strong>de</strong> Pesquisa Agro<strong>pecuária</strong> do RN<br />
UNIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE TECNOLOGIAS<br />
AV. JAGUARARI, 2192 - LAGOA NOVA - CAIXA POSTAL: 188<br />
59062-500 - NATAL-RN<br />
Fone: (84) 3232-5858 - Fax: (84) 3232-5868<br />
www.emparn.rn.gov.br - E-mail: emparn@rn.gov.br<br />
COMITÊ EDITORIAL<br />
Presi<strong>de</strong>nte: Maria <strong>de</strong> Fátima Pinto Barreto<br />
Secretária-Executiva: Vitória Régia Moreira Lopes<br />
Membros<br />
Aldo Arnaldo <strong>de</strong> Me<strong>de</strong>iros<br />
Amilton Gurgel Guerra<br />
Leandson Roberto Fernan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Lucena<br />
Marciane da Silva Maia<br />
Marcone César Mendonça das Chagas<br />
Terezinha Lúcia dos Santos Fernan<strong>de</strong>s<br />
Revisor <strong>de</strong> texto: Maria <strong>de</strong> Fátima Pinto Barreto<br />
Normalização bibliográfi ca: Biblioteca Central Zila Mame<strong>de</strong> – UFRN<br />
Editoração eletrônica: Giovanni Cavalcanti Barros (www.giovannibarros.eti.br)<br />
1ª Edição<br />
1ª impressão (2009): tiragem - 2.500<br />
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS<br />
A re<strong>produção</strong> não-autorizada <strong>de</strong>sta publicação, no todo ou em parte,<br />
constitui violação dos direitos autorais (Lei no 9.610).<br />
Divisão <strong>de</strong> Serviços Técnicos<br />
Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mame<strong>de</strong><br />
Holanda, José Simplício <strong>de</strong>.<br />
Cultivo do coqueiro no Rio Gran<strong>de</strong> do Norte / José Simplício <strong>de</strong> Holanda,<br />
Maria Cléa Santos Alves, Marcone César Mendonça das Chagas. – Natal, RN:<br />
EMPARN, 2008.<br />
27 p. – (Sistemas <strong>de</strong> <strong>produção</strong>; 1)<br />
ISSN: 1983-280-X<br />
1. Cultura do coco. 2. Produção <strong>de</strong> coco. 3. Manejo do coco. 4. Sanida<strong>de</strong>.<br />
I. Alves, Maria Cléa Santos. II. Chagas, Marcone César Mendonça das. III. Titulo.<br />
IV. Série.<br />
CDD 634.6<br />
RN/UF/BCZM CDU 633.528
SUMÁRIO<br />
1. APRESENTAÇÃO .............................................................................. 7<br />
2. INTRODUÇÃO ................................................................................ 9<br />
3. PECUÁRIA LEITEIRA NO RIO GRANDE DO NORTE ....................... 12<br />
4. O PROBLEMA DO ALTO CUSTO DOS CONCENTRADOS<br />
COMERCIAIS ................................................................................... 13<br />
5. REQUERIMENTOS DE VOLUMOSOS E CONCENTRADOS ............ 14<br />
6. OS ALIMENTOS CONCENTRADOS ................................................ 18<br />
7. A MANDIOCA ................................................................................ 19<br />
8. SORGO GRANÍFERO E DE DUPLA APTIDÃO ................................. 26<br />
9. PALMA FORRAGEIRA ...................................................................... 29<br />
10. MANEJO DE CACTÁCEAS NATIVAS ............................................... 38<br />
11. GIRASSOL ...................................................................................... 42<br />
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................. 43<br />
13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................... 45<br />
14. ANEXOS ....................................................................................... 48
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
APRESENTAÇÃO<br />
A água é um bem natural essencial a sobrevivência dos seres<br />
vivos. Trata-se <strong>de</strong> um recurso renovável em seu ciclo natural, mas<br />
um bem fi nito, pois suas reservas são limitadas. O uso irracional<br />
e irresponsável da água po<strong>de</strong> comprometer a vida no planeta.<br />
Por isso, é imprescindível a conscientização da população sobre<br />
a importância do seu uso sustentável.<br />
A agricultura é o setor que mais consome água entre todas<br />
as ativida<strong>de</strong>s humanas e é imperativo sensibilizar os produtores<br />
rurais, os técnicos, multiplicadores, estudantes, extensionistas<br />
e pesquisadores em relação ao respeito à utilização correta das<br />
reservas <strong>de</strong> água. Precisamos garantir a preservação das reservas<br />
aqüíferas <strong>para</strong> que as gerações futuras não sofram com a<br />
escassez <strong>de</strong> água.<br />
Isso se faz, entre outras ações, levando conhecimento e<br />
educação <strong>para</strong> junto da população, <strong>para</strong> que <strong>de</strong>senvolvam uma<br />
nova consciência não só da importância da quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> água<br />
disponível, mas também da sua qualida<strong>de</strong>. São gestos simples<br />
que precisam se transformar em práticas usuais, como evitar o<br />
<strong>de</strong>sperdício, não usar venenos nas plantações, armazenar água da<br />
chuva corretamente e proteger as nascentes e as matas ciliares.<br />
O Governo do Estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Norte através da Empresa<br />
<strong>de</strong> Pesquisa Agro<strong>pecuária</strong> do RN – EMPARN e do Instituto <strong>de</strong><br />
Assistência Técnica e Extensão Rural do RN – EMATER, afi liadas da<br />
Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca – SAPE, contando<br />
com o apoio <strong>de</strong> diversos outros parceiros, promovem em 2009 o<br />
VI Circuito <strong>de</strong> Tecnologias Adaptadas <strong>para</strong> a Agricultura Familiar.<br />
7
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
O tema <strong>de</strong>sse ano é: Conservar os Recursos Naturais do Semiárido<br />
Gerando Renda e Mais Alimentos. Este Circuito se propõe,<br />
além <strong>de</strong> ações diretamente relacionadas com a conservação da<br />
água, disponibilizar tecnologias <strong>para</strong> a conservação do solo, outro<br />
problema <strong>para</strong> a ativida<strong>de</strong> agro<strong>pecuária</strong>, principalmente <strong>para</strong> os<br />
pequenos agricultores <strong>familiar</strong>es.<br />
Esse tema foi <strong>de</strong>senvolvido baseado na Declaração Universal<br />
dos Direitos da Água, documento <strong>de</strong> 1992 da ONU, que<br />
preconiza: “A água não <strong>de</strong>ve ser <strong>de</strong>sperdiçada, nem poluída,<br />
nem envenenada. De maneira geral, sua utilida<strong>de</strong> <strong>de</strong>ve ser feita<br />
com consciência e discernimento <strong>para</strong> que não se chegue a uma<br />
situação <strong>de</strong> esgotamento ou <strong>de</strong> <strong>de</strong>terioração da qualida<strong>de</strong> das<br />
reservas atualmente disponíveis.<br />
Muito obrigado pela sua presença.<br />
Henrique Eufrásio <strong>de</strong> Santana Júnior<br />
Diretor Presi<strong>de</strong>nte da EMPARN<br />
Luiz Cláudio <strong>de</strong> Souza Macedo<br />
Diretor Geral da EMATER<br />
8
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
INTRODUÇÃO<br />
No semiárido nor<strong>de</strong>stino a <strong>pecuária</strong> historicamente tem<br />
representado um importante fator <strong>de</strong> segurança alimentar e<br />
econômica <strong>para</strong> os agricultores <strong>familiar</strong>es da região. A criação <strong>de</strong><br />
bovinos, caprinos, ovinos, suínos e aves, isolada ou conjuntamente,<br />
representou e representa nos sertões, uma signifi cativa forma <strong>de</strong><br />
acumulação <strong>de</strong> riqueza ou poupança <strong>de</strong>sses produtores.<br />
Em função <strong>de</strong> sua maior resistência à seca, quando<br />
com<strong>para</strong>da às explorações agrícolas, a <strong>pecuária</strong> tem se constituído<br />
num dos principais fatores <strong>para</strong> a garantia da geração <strong>de</strong> emprego<br />
e renda na região. No entanto, <strong>de</strong>vido à gran<strong>de</strong> variação na<br />
oferta <strong>de</strong> forragens nos períodos <strong>de</strong> chuva e <strong>de</strong> seca e a limitada<br />
área dos estabelecimentos rurais, o <strong>de</strong>sempenho produtivo dos<br />
rebanhos é baixo, principalmente, em função da redução da<br />
disponibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>alimentos</strong> no período seco.<br />
A <strong>pecuária</strong> tem condições <strong>de</strong> representar o eixo principal<br />
dos sistemas <strong>de</strong> <strong>produção</strong> <strong>familiar</strong> no semiárido, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que se<br />
estruture um suporte alimentar, que garanta reservas <strong>para</strong> o<br />
período seco e, <strong>de</strong>ssa forma, permita aos criadores manejarem<br />
rebanhos maiores, mesmo em pequenas proprieda<strong>de</strong>s, gerando<br />
uma escala <strong>de</strong> <strong>produção</strong> que assegure renda e lucros.<br />
No entanto, quando se procura discutir a viabilida<strong>de</strong><br />
econômica <strong>de</strong>sses sistemas <strong>de</strong> <strong>produção</strong> pecuários, alguns<br />
problemas <strong>de</strong>vem merecer atenção especial, entre eles:<br />
• A pequena área das proprieda<strong>de</strong>s;<br />
• A escassez <strong>de</strong> <strong>alimentos</strong> no longo período seco (7 a 8<br />
meses);<br />
9
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
• A disputa por área com a <strong>produção</strong> <strong>de</strong> <strong>alimentos</strong>;<br />
• O alto custo dos concentrados comerciais;<br />
• A alta participação dos <strong>alimentos</strong> na composição do custo <strong>de</strong><br />
<strong>produção</strong> do leite (> 50%);<br />
• As <strong>de</strong>fi ciências <strong>de</strong> gestão e assistência técnica dos sistemas;<br />
• A necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> proteção das áreas com restrição ou inaptas<br />
<strong>para</strong> a agricultura;<br />
• A garantia <strong>de</strong> estruturar sistemas <strong>de</strong> <strong>produção</strong> sustentáveis<br />
econômica, social e ambientalmente.<br />
Guanziroli et al. (2001) relatam que 88% dos estabelecimentos<br />
agropecuários do Nor<strong>de</strong>ste são <strong>de</strong> agricultores <strong>familiar</strong>es,<br />
possuindo uma área média <strong>de</strong> apenas 17 ha, cujos rebanhos<br />
representam a principal forma <strong>de</strong> poupança disponível aos<br />
produtores e constituem fator <strong>de</strong> segurança indispensável à<br />
sobrevivência da população local.<br />
De acordo com Guimarães Filho e Lopes (2001), nas áreas<br />
mais secas do semiárido são necessários pelo menos <strong>de</strong> 200 a 300<br />
hectares, <strong>para</strong> manter em condições semiextensivas, um rebanho<br />
caprino <strong>de</strong> corte com 300 matrizes. Segundo esses autores, esse<br />
número representa o rebanho mínimo estimado <strong>de</strong> matrizes <strong>para</strong><br />
viabilizar a re<strong>produção</strong> e a acumulação dos meios <strong>de</strong> <strong>produção</strong><br />
<strong>de</strong> uma família na região. Apontam ainda esses pesquisadores,<br />
que no semiárido nor<strong>de</strong>stino apenas 16% (16 milhões <strong>de</strong> hectares)<br />
das áreas apresentam bom potencial agrícola, 44% (43 milhões<br />
<strong>de</strong> hectares) têm potencial agrícola limitado e 36% (35 milhões<br />
<strong>de</strong> hectares) são áreas com<br />
fortes restrições <strong>de</strong> uso ou<br />
mesmo inaptas <strong>para</strong> a ativida<strong>de</strong><br />
agro<strong>pecuária</strong>.<br />
Áreas <strong>de</strong> caatinga <strong>de</strong>gradadas<br />
10
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
Os confl itos existentes entre a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> incrementar a<br />
escala <strong>de</strong> <strong>produção</strong>, aumentando os rebanhos e os impedimentos<br />
ou limitações da disponibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> áreas <strong>para</strong> formação e manejo<br />
<strong>de</strong> pastagens, só po<strong>de</strong>m ser enfrentados por intermédio da<br />
intensifi cação dos processos <strong>de</strong> <strong>produção</strong>.<br />
Para Guimarães Filho e Lopes (2001) é possível uma família<br />
viver condignamente em três hectares com cultivo irrigado. No<br />
entanto, eles lembram que apenas cerca <strong>de</strong> 2% da área total do<br />
semiárido dispõe <strong>de</strong> condições <strong>de</strong> solo e água <strong>para</strong> tal.<br />
É importante também consi<strong>de</strong>rar que os sistemas <strong>de</strong><br />
<strong>produção</strong> da agricultura <strong>familiar</strong> no semiárido são bastante<br />
diversifi cados e, muitas vezes, a <strong>pecuária</strong> se constitui apenas<br />
em uma das ativida<strong>de</strong>s formadoras da renda <strong>familiar</strong>. Por isso,<br />
são importantes os estudos atuais sobre a integração lavoura<br />
vs. <strong>pecuária</strong>, e mesmo aqueles sistemas mais complexos que<br />
integram conjuntamente as explorações agrícolas, <strong>pecuária</strong>s e<br />
fl orestais (agrosilvipastoris). A integração e mo<strong>de</strong>rnização <strong>de</strong><br />
vários sistemas, envolvendo animais e plantas na agricultura<br />
<strong>familiar</strong>, são fundamentais <strong>para</strong> a segurança alimentar e<br />
econômica <strong>de</strong>sses produtores, assim como são mais adaptados<br />
a um manejo ecológico e sustentável, numa região reconhecida<br />
por sua fragilida<strong>de</strong> e até por áreas <strong>de</strong> <strong>de</strong>sertifi cação.<br />
Reconhecida a importância da <strong>pecuária</strong> como ativida<strong>de</strong> capaz<br />
<strong>de</strong> gerar emprego e renda <strong>para</strong> a agricultura <strong>familiar</strong> no semiárido,<br />
conservando o meio ambiente, torna-se necessário conhecer os<br />
principais problemas que afetam a viabilida<strong>de</strong> econômica <strong>de</strong>sses<br />
sistemas <strong>de</strong> <strong>produção</strong>.<br />
11
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
3. PECUÁRIA LEITEIRA NO RIO GRANDE DO NORTE<br />
Os exemplos apresentados nesta apostila são, na sua maioria,<br />
voltados à <strong>pecuária</strong> leiteira, uma vez que essa é uma ativida<strong>de</strong><br />
predominante no Rio Gran<strong>de</strong> do Norte.<br />
O Programa do Leite do Governo Estadual, em execução há<br />
quase 15 anos, que compra cerca <strong>de</strong> 150 mil l/dia e distribui a<br />
famílias carentes, tem proporcionado um preço <strong>de</strong> leite <strong>para</strong> os<br />
produtores do Estado da or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> R$ 0,65 a 0,70/l, além <strong>de</strong> tornarse<br />
importante fator <strong>de</strong> geração <strong>de</strong> emprego e renda no meio<br />
rural. Vale salientar que esses preços variam muito em função<br />
da disponibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> pastagens (seca ou chuva), do mercado <strong>de</strong><br />
queijos artesanais e <strong>de</strong> outras <strong>de</strong>mandas.<br />
O Programa melhorou a qualida<strong>de</strong> genética dos rebanhos,<br />
os produtores adquiriram novos conhecimentos técnicos, as<br />
proprieda<strong>de</strong>s melhoraram sua estrutura e os reflexos estão<br />
expressos na <strong>produção</strong> estadual <strong>de</strong> 500 mil litros/dia. Deve ser<br />
ressaltado que a ativida<strong>de</strong> gerou a estruturação <strong>de</strong> 27 usinas <strong>de</strong><br />
leite, distribuídas nas diferentes regiões, que são responsáveis<br />
pelo processamento do produto e subprodutos da ca<strong>de</strong>ia <strong>de</strong><br />
laticínios. O Estado tem hoje um rebanho bovino da or<strong>de</strong>m <strong>de</strong><br />
900 mil cabeças.<br />
As tendências <strong>de</strong> especialização dos produtores <strong>de</strong>correm<br />
também das mudanças que estão ocorrendo no sistema <strong>de</strong> <strong>produção</strong> e<br />
captação <strong>de</strong> leite, principalmente com a implementação da Normativa<br />
51 e da obrigatorieda<strong>de</strong> da coleta a granel <strong>de</strong> produto refrigerado por<br />
parte dos maiores laticínios. Nesse contexto, as mudanças po<strong>de</strong>rão<br />
promover o <strong>de</strong>saparecimento do pequeno produtor <strong>de</strong> leite, se não<br />
lhes forem disponibilizadas as informações e o acesso ao conhecimento<br />
tecnológico <strong>de</strong> forma prática, direta e com tecnologias adaptadas aos<br />
sistemas <strong>de</strong> criação da agricultura <strong>familiar</strong> da região.<br />
12
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
4. O PROBLEMA DO ALTO CUSTO DOS CONCENTRADOS<br />
COMERCIAIS<br />
Alguns levantamentos recentes efetuados pela EMATER-RN e<br />
SEBRAE-RN apontaram <strong>para</strong> custos médios <strong>de</strong> <strong>produção</strong> <strong>de</strong> leite<br />
no Rio Gran<strong>de</strong> do Norte, <strong>de</strong> R$ 0,85/l <strong>para</strong> o leite bovino e R$ 1,35/l<br />
<strong>para</strong> o leite caprino. Quando se tem conhecimento que os preços<br />
médios do leite recebidos pelos produtores nos últimos meses no<br />
Estado, têm sido <strong>de</strong>, respectivamente, R$ 0,70/l e R$ 1,00/l, constatase<br />
que esses produtores estão tendo prejuízo na ativida<strong>de</strong>.<br />
Em função da falta <strong>de</strong> planejamento na <strong>produção</strong> e<br />
armazenamento <strong>de</strong> reservas forrageiras <strong>estratégica</strong>s <strong>para</strong> serem<br />
utilizadas no período seco, gran<strong>de</strong> parte dos agricultores <strong>familiar</strong>es<br />
recorre à utilização dos concentrados comerciais <strong>para</strong> manutenção<br />
<strong>de</strong> seus rebanhos. Muitos <strong>de</strong>sses concentrados (farelo <strong>de</strong> soja, farelo<br />
e torta <strong>de</strong> algodão, milho, farelo <strong>de</strong> trigo) ultrapassaram a barreira <strong>de</strong><br />
R$ 1,00/kg e mesmo os mais baratos superaram 0,50/kg, além do que,<br />
os preços dos importantes suplementos minerais alcançaram valores<br />
superiores a R$ 2,00/kg. Dessa forma fi ca praticamente impossível<br />
formular uma ração equilibrada <strong>para</strong> vacas <strong>de</strong> leite com custo inferior<br />
a R$ 0,70/kg. Alguns estudiosos <strong>de</strong>stacam que quando o preço <strong>de</strong><br />
1 kg <strong>de</strong> concentrado supera o preço <strong>de</strong> 1 kg <strong>de</strong> leite, a utilização<br />
<strong>de</strong>sses <strong>alimentos</strong> se torna inviável economicamente. Dessa forma,<br />
restaria a esses criadores duas opções, ou trabalhar com rebanhos<br />
com menores níveis <strong>de</strong> <strong>produção</strong>, cujos requerimentos nutricionais<br />
possam ser atendidos quase que integralmente por volumosos<br />
(capins, leguminosas, fenos, silagens), ou tentar produzir a maioria<br />
<strong>de</strong>sses concentrados na própria fazenda.<br />
Levando-se em conta que a alimentação representa<br />
mais <strong>de</strong> 50% do custo da <strong>produção</strong> <strong>de</strong> leite, toda a atenção<br />
do produtor <strong>de</strong>ve ser voltada à máxima efi ciência na<br />
<strong>produção</strong> <strong>de</strong> <strong>alimentos</strong> <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> na própria fazenda.<br />
13
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
Martins et al. (2004) <strong>de</strong>stacam que o item alimentação é<br />
o fator <strong>de</strong> <strong>produção</strong> mais oneroso <strong>de</strong>ntre aqueles responsáveis<br />
pelo custo operacional da ativida<strong>de</strong> leiteira. Segundo os<br />
autores, <strong>para</strong> minimizar esse custo, os produtores <strong>de</strong>vem lançar<br />
mão <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> <strong>produção</strong> <strong>de</strong> forragens e sistemas <strong>de</strong><br />
alimentação mais efi cientes, que <strong>de</strong>man<strong>de</strong>m menos mão <strong>de</strong> obra,<br />
investimentos e insumos, e ainda que promovam menor impacto<br />
ao meio ambiente.<br />
Alimentação mais <strong>de</strong> 50%<br />
do custo da <strong>produção</strong> <strong>de</strong> leite<br />
5. REQUERIMENTOS DE VOLUMOSOS E CONCENTRADOS<br />
Quando se consi<strong>de</strong>ra, a título <strong>de</strong> exemplo, as necessida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>alimentos</strong> <strong>para</strong> um rebanho <strong>de</strong> 25 vacas leiteiras no semiárido<br />
(sem incluir as crias), com um período <strong>de</strong> seca <strong>de</strong> seis meses<br />
e consumo médio por vaca <strong>de</strong> 12 kg <strong>de</strong> matéria seca (MS)/<br />
dia, verifi ca-se a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>produção</strong> ou compra <strong>de</strong> 54<br />
toneladas <strong>de</strong> matéria seca. Essa quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> matéria seca<br />
<strong>de</strong>verá ser atendida por intermédio dos volumosos (capins,<br />
silagens, fenos) e concentrados. Normalmente, por ser a parte<br />
da ração mais barata, a quantida<strong>de</strong> usual <strong>de</strong> volumosos situase<br />
entre 50 e 70% da matéria seca total da dieta, enquanto<br />
o concentrado é usado na proporção <strong>de</strong> 30 a 50%. Se, como<br />
acontece atualmente, os concentrados alcançam preços muito<br />
elevados, <strong>de</strong>ve-se procurar trabalhar com uma proporção <strong>de</strong><br />
60 a 70% <strong>de</strong> volumosos na composição da dieta, <strong>para</strong> tentar<br />
viabilizar economicamente a exploração leiteira. No exemplo<br />
citado, consi<strong>de</strong>rando-se a utilização <strong>de</strong> 30% <strong>de</strong> concentrados,<br />
14
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
o produtor precisaria produzir ou comprar cerca <strong>de</strong> 16 toneladas<br />
<strong>de</strong> <strong>alimentos</strong> concentrados, a um custo <strong>de</strong> aproximadamente R$<br />
11.200,00 (R$ 0,70/kg), <strong>para</strong> garantir uma alimentação equilibrada<br />
<strong>para</strong> suas vacas nos seis meses <strong>de</strong> seca.<br />
O plantio e manejo a<strong>de</strong>quado <strong>de</strong> forrageiras como a palma,<br />
o capim-elefante, o sorgo, a mandioca, os capins buff el e urocloa,<br />
a cana, a leucena e outras leguminosas, associados a práticas <strong>de</strong><br />
ensilagem, fenação e utilização <strong>de</strong> resíduos da agroindústria,<br />
representam uma sólida base <strong>para</strong> a implantação <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong><br />
<strong>produção</strong> pecuários <strong>para</strong> agricultores <strong>familiar</strong>es no semiárido.<br />
Para aqueles que são contrários ao cultivo <strong>de</strong> espécies<br />
forrageiras exóticas ou introduzidas no semiárido, torna-se<br />
importante lembrar que a alta <strong>produção</strong> obtida com o manejo<br />
<strong>de</strong>ssas espécies é capaz <strong>de</strong> permitir uma menor utilização dos<br />
pastos nativos, que normalmente são super pastejados, com áreas<br />
inclusive em processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sertifi cação.<br />
“Enquanto são necessários em média 10 a 15 hectares <strong>de</strong><br />
vegetação <strong>de</strong> caatinga <strong>para</strong> manter um bovino adulto por ano, em<br />
apenas um hectare bem manejado e irrigado <strong>de</strong> capim-elefante<br />
ou palma forrageira, o produtor po<strong>de</strong> garantir a <strong>produção</strong> <strong>de</strong><br />
forragem <strong>para</strong> alimentar 20 vacas durante seis meses <strong>de</strong> seca”.<br />
Deve fi car claro ao criador que quanto melhor a forragem<br />
oferecida aos animais na forma ver<strong>de</strong>, fenada ou ensilada, menor<br />
a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> concentrados necessária <strong>para</strong> se atingir um<br />
<strong>de</strong>terminado nível <strong>de</strong> <strong>produção</strong>. O produtor também não po<strong>de</strong><br />
esquecer que mesmo utilizando volumosos <strong>de</strong> boa qualida<strong>de</strong>,<br />
<strong>para</strong> vacas ou cabras <strong>de</strong> alta <strong>produção</strong> <strong>de</strong> leite, a utilização <strong>de</strong><br />
concentrados é indispensável.<br />
15
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
Pesquisas da Embrapa Gado <strong>de</strong> Leite indicam a<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vacas alcançarem produções <strong>de</strong> 12,5 kg <strong>de</strong><br />
leite/dia apenas consumindo pastagens. No entanto, vale<br />
salientar que esses resultados só po<strong>de</strong>m ser obtidos em<br />
pastagens <strong>de</strong> alta qualida<strong>de</strong>, bem adubadas e manejadas.<br />
Nos cálculos da Embrapa, essa pastagem permitiria a uma<br />
vaca <strong>de</strong> 500 kg, um consumo diário <strong>de</strong> 100 kg <strong>de</strong> pontas<br />
<strong>de</strong> capim (13,5 kg MS/2,7% do peso vivo (PV) na base MS),<br />
por ser uma rebrota nova e rica, com cerca <strong>de</strong> 14% PB e<br />
65% <strong>de</strong> Nutrientes Digestíveis Totais (NDT), que garantiriam<br />
quantida<strong>de</strong>s suficientes <strong>de</strong> energia e proteína, aten<strong>de</strong>ndo<br />
os requerimentos <strong>de</strong>ssa <strong>produção</strong>. Para os pesquisadores, a<br />
<strong>produção</strong> <strong>de</strong> leite à pasto é limitada pelo conteúdo <strong>de</strong> NDT<br />
(Energia) da pastagem (65%), e <strong>para</strong> vacas com maiores<br />
produções, torna-se necessária a suplementação <strong>de</strong>ssa<br />
energia com concentrados.<br />
Pastagens são os <strong>alimentos</strong> mais baratos<br />
Outra questão difícil <strong>para</strong> a qual os criadores necessitam <strong>de</strong><br />
apoio da assistência técnica é a <strong>de</strong>fi nição <strong>de</strong> quando utilizar a<br />
suplementação concentrada, <strong>para</strong> que categorias animais, em<br />
que quantida<strong>de</strong>s, que formulações <strong>de</strong> rações utilizar e se esta<br />
suplementação gera lucros.<br />
16
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
Segundo Deresz et al. (2006), as melhores respostas <strong>de</strong><br />
suplementação com concentrados <strong>para</strong> vacas holando x zebu,<br />
em pastagens manejadas em pastejo rotativo e adubadas<br />
a<strong>de</strong>quadamente, são <strong>de</strong> 0,5 a 0,65 kg <strong>de</strong> leite <strong>para</strong> cada 1 kg <strong>de</strong><br />
concentrado fornecido. Ressaltam os autores que sempre que o<br />
preço <strong>de</strong> 1 kg <strong>de</strong> concentrado for maior do que o preço <strong>de</strong> 0,5<br />
a 0,65 do kg do leite, fi ca inviável economicamente o uso dos<br />
concentrados, especialmente, durante a época das chuvas. Para<br />
o preço praticado no RN <strong>de</strong> R$ 0,70/kg <strong>de</strong> leite, seria necessário<br />
a aquisição <strong>de</strong> concentrados com valores inferiores a R$ 0,42 <strong>para</strong><br />
viabilizar a utilização <strong>de</strong>sses <strong>alimentos</strong>, quando na realida<strong>de</strong> os<br />
preços vigentes quase dobram esse valor.<br />
“Quanto maior for a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> forragens<br />
produzidas e armazenadas e melhor a qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sses<br />
<strong>alimentos</strong>, menor será a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> utilização dos<br />
concentrados comerciais.”<br />
Nos últimos anos, as diversas publicações (Maciel et al., 2004<br />
ab; Lima, 2006; Lima e Aguiar, 2007 e Lima, 2008) do “Circuito <strong>de</strong><br />
Tecnologias Apropriadas <strong>para</strong> a Agricultura Familiar” enfatizaram<br />
a importância <strong>de</strong> produzir e armazenar volumosos forrageiros<br />
<strong>de</strong> qualida<strong>de</strong>.<br />
A publicação atual procurará discutir o manejo <strong>de</strong> plantas<br />
forrageiras capazes <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r, pelo menos em parte, a<br />
<strong>de</strong>manda dos concentrados dos rebanhos. Nesse sentido foram<br />
selecionadas plantas produtoras <strong>de</strong> grãos (milho, sorgo e girassol)<br />
ou <strong>alimentos</strong> ricos em energia e com alta digestibilida<strong>de</strong> (palma<br />
forrageira, cactáceas nativas, algaroba e mandioca) e ainda alguns<br />
subprodutos da agroindústria. O objetivo da proposta é sensibilizar<br />
os pecuaristas <strong>familiar</strong>es <strong>para</strong> a necessida<strong>de</strong> da <strong>produção</strong>,<br />
manejo e manipulação <strong>de</strong>sses <strong>alimentos</strong> na própria fazenda,<br />
17
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
produzindo rações com altas concentrações <strong>de</strong> energia e proteína,<br />
que diminuirão sensivelmente a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> aquisição dos<br />
concentrados comerciais.<br />
6. OS ALIMENTOS CONCENTRADOS<br />
Os <strong>alimentos</strong> CONCENTRADOS (farelos, grãos), como o próprio<br />
nome indica, são aqueles que concentram, em um pequeno<br />
volume, uma gran<strong>de</strong> riqueza em energia ou proteína ou ambos.<br />
Em geral eles possuem 85 a 95% <strong>de</strong> matéria seca. A sua fração<br />
<strong>de</strong> energia compreen<strong>de</strong>, principalmente, o amido, seguido <strong>de</strong><br />
açúcares mais simples e das gorduras. Em geral, os concentrados<br />
possuem mais <strong>de</strong> 60% <strong>de</strong> NDT e baixos teores <strong>de</strong> fi bra.<br />
Informações da Embrapa/Gado <strong>de</strong> Leite apontam que, <strong>para</strong><br />
cada quilo <strong>de</strong> leite produzido, uma vaca precisa comer, além do<br />
necessário <strong>para</strong> sua manutenção, 90 g <strong>de</strong> proteína e 333 g <strong>de</strong><br />
energia digestível.<br />
Observe que esses números indicam que a vaca<br />
precisa 3,7 vezes mais energia que proteína e os<br />
produtores precisam saber que <strong>alimentos</strong> vão proporcionar<br />
essa energia <strong>para</strong> suas vacas.<br />
Os concentrados po<strong>de</strong>m ser classifi cados como energéticos<br />
e protéicos.<br />
CONCENTRADOS ENERGÉTICOS – São os concentrados com<br />
16% ou menos <strong>de</strong> proteína bruta (PB), representados pelos<br />
grãos dos cereais e seus subprodutos (grão <strong>de</strong> milho, farelo<br />
<strong>de</strong> trigo, grão <strong>de</strong> sorgo, farelo <strong>de</strong> arroz). O teor <strong>de</strong> fibra é<br />
variável, sempre menor que 18% e o teor <strong>de</strong> gordura <strong>de</strong>pen<strong>de</strong><br />
do grão utilizado.<br />
18
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
CONCENTRADOS PROTÉICOS – Compreen<strong>de</strong>m os farelos e<br />
farinhas <strong>de</strong> cereais (20 a 30% <strong>de</strong> PB) e os farelos e tortas <strong>de</strong><br />
oleaginosas (30 a 50% <strong>de</strong> PB).<br />
Os concentrados protéicos <strong>de</strong> origem vegetal são os<br />
mais utilizados <strong>para</strong> a alimentação <strong>de</strong> bovinos. Em geral, são<br />
utilizados os subprodutos das agroindústrias <strong>de</strong> extração do<br />
óleo comestível, como as tortas e farelos <strong>de</strong> soja, amendoim,<br />
girassol, algodão e outros.<br />
Os <strong>alimentos</strong> chamados VOLUMOSOS (fenos, silagens,<br />
capins, palmas, palhadas), como o próprio nome já diz, englobam<br />
aqueles <strong>alimentos</strong> que apresentam gran<strong>de</strong>s volumes, com níveis<br />
<strong>de</strong> fi bra bruta (FB) superiores a 18%. Geralmente constituem<br />
a maior parte da ração e, muitas vezes, apresentam baixa<br />
digestibilida<strong>de</strong> da energia e proteína, mas <strong>de</strong>sempenham um<br />
papel fundamental no funcionamento do rúmen dos bovinos,<br />
ovinos e caprinos (Apostila, 2006).<br />
7. A MANDIOCA<br />
Mandioca raiz – importante fonte <strong>de</strong> energia <strong>para</strong> a <strong>pecuária</strong> leiteira<br />
Conhecida pela rusticida<strong>de</strong> e pelo papel social que <strong>de</strong>sempenha<br />
junto às populações <strong>de</strong> baixa renda, a cultura da mandioca tem<br />
gran<strong>de</strong> adaptabilida<strong>de</strong> aos diferentes ecossistemas, possibilitando<br />
seu cultivo em praticamente todo o território nacional. O Brasil é o<br />
19
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
segundo maior produtor mundial <strong>de</strong> mandioca.<br />
Seja na forma <strong>de</strong> raiz, raspa ou maniva, seja na forma in<br />
natura, fenada ou ensilada, a mandioca é uma planta forrageira<br />
<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> importância <strong>para</strong> a <strong>pecuária</strong> leiteira, não só por alcançar<br />
altos rendimentos, mas principalmente por ser um alimento com<br />
alta concentração <strong>de</strong> energia.<br />
Trabalhos <strong>de</strong> pesquisa <strong>de</strong>senvolvidos pela Embrapa Mandioca<br />
e Fruticultura <strong>de</strong>stacam a riqueza <strong>de</strong>ssa planta, tanto da raiz como<br />
fonte <strong>de</strong> energia <strong>para</strong> ruminantes, como da sua parte aérea. As<br />
manivas chegam a apresentar, na matéria seca, teores <strong>de</strong> PB <strong>de</strong><br />
16 a 18%, enquanto que as folhas chegam a atingir 25%. Muitas<br />
vezes, esses recursos são <strong>de</strong>sperdiçados em vez <strong>de</strong> armazenados<br />
<strong>para</strong> utilização no período seco. Em termos <strong>de</strong> <strong>produção</strong>,<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo das condições climáticas, da fertilida<strong>de</strong> do solo e<br />
da cultivar plantada, po<strong>de</strong>m ser obtidas <strong>de</strong> 10 a 20 toneladas <strong>de</strong><br />
raízes e <strong>de</strong> oito a 20 toneladas <strong>de</strong> parte aérea por hectare.<br />
Mandioca folhas até 25% <strong>de</strong> PB<br />
Raspas <strong>de</strong> mandioca são pedaços ou fragmentos secos<br />
<strong>de</strong> raízes <strong>de</strong> mandioca, enquanto são chamadas <strong>de</strong> cascas os<br />
fragmentos resultantes do <strong>de</strong>scascamento das raízes <strong>para</strong> a<br />
<strong>produção</strong> <strong>de</strong> farinha.<br />
20
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
Segundo o NRC (1996), a mandioca é um alimento que<br />
contém 3,04 Mcal/kg <strong>de</strong> energia metabolizável (EM), sendo<br />
portanto, muito próxima a EM do milho, com 3,25 Mcal/<br />
kg. Seu potencial <strong>para</strong> a <strong>produção</strong> animal é alto, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que<br />
sua <strong>produção</strong> econômica, em larga escala, seja viabilizada<br />
(Martins et al., 2000).<br />
Em relação aos problemas <strong>de</strong> intoxicação dos animais<br />
causados pela utilização da mandioca, <strong>de</strong>ve-se tomar algumas<br />
precauções. Quando se tratar <strong>de</strong> mandioca mansa, po<strong>de</strong>-se<br />
fornecê-la fresca aos animais sem nenhum problema. Quando<br />
se tratar <strong>de</strong> mandioca brava <strong>de</strong>ve-se quebrar ou picar as raízes e<br />
a parte aérea e espalhar bem ao ar livre por 24 horas. Isto basta<br />
<strong>para</strong> eliminar gran<strong>de</strong> parte do princípio tóxico da planta (ácido<br />
cianídrico), tornando-a inofensiva <strong>para</strong> os animais. A fenação e a<br />
ensilagem também são formas <strong>de</strong> inativar esse princípio tóxico.<br />
A raiz da mandioca e seus subprodutos po<strong>de</strong>m ser<br />
utilizados com poucas restrições na alimentação animal e<br />
constituem excelente substituto <strong>para</strong> os grãos dos cereais.<br />
Diversos experimentos com<strong>para</strong>ram a substituição do<br />
milho pela mandioca na alimentação <strong>de</strong> vacas em lactação.<br />
Quando a <strong>produção</strong> <strong>de</strong> leite foi pequena (8,35 kg/dia) ou<br />
média (12,0 kg/dia), não foram observadas diferenças entre<br />
o milho e a mandioca. No entanto, com produções maiores<br />
(média <strong>de</strong> 23,6 kg <strong>de</strong> leite/dia) a raspa <strong>de</strong> mandioca não foi<br />
capaz <strong>de</strong> substituir o milho e interferiu negativamente no<br />
<strong>de</strong>sempenho produtivo e na eficiência alimentar (Ramalho et<br />
al., 2006). As diferenças nos processos <strong>de</strong> digestão e absorção e<br />
metabolismo entre o amido do milho e o da raspa <strong>de</strong> mandioca,<br />
talvez expliquem as diferenças encontradas.<br />
21
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
Deve ser ressaltada a viabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> substituição parcial, uma<br />
vez que a raspa <strong>de</strong> mandioca é mais barata que o milho, sendo<br />
consi<strong>de</strong>rada uma alternativa regional. Para que seja vantajosa essa<br />
substituição do milho pela raspa, torna-se necessária a avaliação<br />
das diferenças no custo <strong>de</strong>sses ingredientes.<br />
Entre algumas formas <strong>de</strong> utilização da mandioca incluem-se<br />
as raspas ou raízes <strong>de</strong>sidratadas ao sol, parte aérea <strong>de</strong>sidratada<br />
ao sol, na ensilagem, e mesmo na forma in natura. Vale aqui<br />
ressaltar a importância do secador solar (Lima et. al., 2004),<br />
como ferramenta <strong>de</strong> <strong>produção</strong> <strong>de</strong> <strong>alimentos</strong> <strong>para</strong> a <strong>pecuária</strong><br />
<strong>familiar</strong>. Além da <strong>produção</strong> <strong>de</strong> fenos triturados <strong>de</strong> diversas plantas<br />
forrageiras nativas e introduzidas, o secador presta-se à pre<strong>para</strong>ção<br />
dos farelos <strong>de</strong> raiz e raspas <strong>de</strong> mandioca, farelos <strong>de</strong> palma, farelos<br />
<strong>de</strong> resíduos da agroindústria (caju, melão), entre outros.<br />
Secador solar <strong>para</strong> <strong>produção</strong> <strong>de</strong> fenos e concentrados<br />
Raízes <strong>de</strong> mandioca <strong>de</strong>sidratadas ao sol<br />
Para <strong>de</strong>sidratar as raízes ao sol é preciso seguir os seguintes passos:<br />
• Colher e lavar as raízes eliminando as que tiverem coloração escura;<br />
• Picar em pedaços <strong>de</strong> mais ou menos 5 cm <strong>de</strong> comprimento<br />
por 1,5 cm <strong>de</strong> largura;<br />
22
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
• Espalhar sobre terreiro cimentado em camadas <strong>de</strong> 8 a 10 kg/<br />
m² e <strong>de</strong>ixar ao sol;<br />
• Passar o rodo revirando o material <strong>para</strong> promover uma secagem<br />
uniforme;<br />
• Verifi car se o material está seco (14% <strong>de</strong> umida<strong>de</strong>). Um método<br />
prático é tomar um pedaço da raiz e riscar no piso como se fosse<br />
giz; se <strong>de</strong>ixar risco é porque está seco;<br />
• Ensacar e empilhar os sacos em armazéns secos, sobre estrados<br />
<strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira, po<strong>de</strong>ndo posteriormente transformar em farelo.<br />
Parte aérea da mandioca <strong>de</strong>sidratada ao sol<br />
Para a secagem da parte aérea (manivas e folhas), o processo<br />
é o mesmo, <strong>de</strong>vendo-se tomar alguns cuidados <strong>para</strong> evitar as<br />
perdas <strong>de</strong> folhas no manuseio, já que são as partes mais ricas.<br />
Deixar <strong>de</strong> fora a haste principal, cortando a uma altura <strong>de</strong> 40 cm<br />
do solo (material <strong>para</strong> plantio), e diminuir o tamanho da picagem<br />
<strong>para</strong> 2 a 3 cm.<br />
Ensilagem da parte aérea da mandioca<br />
A parte aérea da mandioca é um aditivo que melhora a<br />
qualida<strong>de</strong> da silagem, principalmente <strong>para</strong> gado <strong>de</strong> leite. A<br />
inclusão <strong>de</strong> 25% <strong>de</strong> parte aérea da mandioca na ensilagem do<br />
capim-elefante melhora a qualida<strong>de</strong> da silagem. Esse capim<br />
quando muito novo apresenta alta umida<strong>de</strong>, o que não é bom<br />
<strong>para</strong> ensilagem. Neste caso, tanto a adição da parte aérea ver<strong>de</strong>,<br />
como <strong>de</strong> 5% <strong>de</strong> farelo seco <strong>de</strong> manivas e folhas, distribuídos<br />
no silo à medida que se for colocando camadas <strong>de</strong> 20 cm do<br />
material, melhora o valor nutritivo e a qualida<strong>de</strong> da silagem <strong>de</strong><br />
capim-elefante (Carvalho, 1984).<br />
23
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
Na Tabela 1 Carvalho (1984) <strong>de</strong>screve a composição<br />
química da parte aérea da mandioca fresca, <strong>de</strong>sidratada ao sol<br />
e ensilada.<br />
Tabela 1. Percentuais <strong>de</strong> composição química da parte aérea da mandioca<br />
fresca, <strong>de</strong>sidratada ao sol e ensilada (com base na MS)<br />
Componentes<br />
Matéria seca<br />
Proteína bruta<br />
FDN2<br />
Gordura<br />
Cálcio<br />
Fósforo<br />
Fresca<br />
%<br />
25,95<br />
14,99<br />
42,53<br />
2,66<br />
1,34<br />
0,21<br />
Fonte: Carvalho (1984)<br />
²FDN – Fibra em <strong>de</strong>tergente neutro<br />
Parte aérea da mandioca<br />
24<br />
Desidratada ao<br />
sol %<br />
89,00<br />
10,84<br />
49,81<br />
2,44<br />
1,12<br />
0,17<br />
Ensilada<br />
%<br />
31,99<br />
11,50<br />
48,85<br />
2,96<br />
1,21<br />
0,14<br />
Na Tabela 2, Nobre (2009 - Informação pessoal) apresenta<br />
sugestões <strong>para</strong> preparo <strong>de</strong> misturas concentradas <strong>para</strong><br />
caprinos, ovinos e bovinos, utilizando a mandioca e o farelo<br />
<strong>de</strong> caju como ingredientes.
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
Tabela.2. Formulação <strong>de</strong> misturas concentradas com participações <strong>de</strong> mandioca<br />
(casca, raspa, feno), farelo <strong>de</strong> caju e farelo <strong>de</strong> soja, com as respectivas<br />
composições médias<br />
Rações<br />
Mandioca<br />
Casca<br />
%¹<br />
Alimentos Sugeridos<br />
Mandioca<br />
Raspa<br />
%²<br />
Mandioca<br />
Feno<br />
%³<br />
25<br />
Caju<br />
Farelo<br />
% 4<br />
Soja<br />
Farelo<br />
% 5<br />
MS<br />
(*)<br />
%<br />
Composição<br />
Média<br />
PB<br />
(*)<br />
%<br />
NDT<br />
(*)<br />
%<br />
01 50 - - 25 25 90 16 71<br />
02 50 - - 20 30 90 17 71<br />
03 40 - - 25 35 89 20 71<br />
04 40 - - 20 40 89 22 71<br />
05 - 50 - 25 25 89 17 75<br />
06 - 50 - 20 30 90 18 75<br />
07 - 40 - 25 35 89 21 74<br />
08 70 - - - 30 89 15 69<br />
09 60 - - - 40 89 20 70<br />
10 50 - 10 - 40 90 20 69<br />
MS – Matéria seca; PB – Proteína bruta; NDT – Nutrientes digestíveis totais<br />
Fonte: Nobre (2009)<br />
Observações:<br />
(1) Casca <strong>de</strong> mandioca (bem seca) – subproduto da fabricação<br />
<strong>de</strong> farinha <strong>para</strong> uso humano;<br />
(2) Raspa integral <strong>de</strong> mandioca – produto resultante do<br />
<strong>de</strong>ssecamento da raiz com casca;<br />
(3) Feno moído da maniva com folhas (toda a parte aérea);<br />
(4) Farelo industrial do caju – subproduto da extração do suco,<br />
bem seco e moído.
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
Notas:<br />
(1) Juntar a cada 100 kg das misturas listadas, <strong>de</strong> 2 a 3 kg <strong>de</strong> uma<br />
boa mistura mineral, rica em cálcio e fósforo;<br />
(2) Em todas as rações é possível substituir o farelo <strong>de</strong> soja,<br />
que tem o preço elevado, por outros farelos protéicos como os<br />
<strong>de</strong> girassol, gergelim, amendoim, nas mesmas quantida<strong>de</strong>s. A<br />
substituição por farelo <strong>de</strong> algodão (1 kg <strong>de</strong> farelo <strong>de</strong> soja por 1,5<br />
kg <strong>de</strong> farelo <strong>de</strong> algodão), <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> também do tipo do farelo <strong>de</strong><br />
algodão e seu teor <strong>de</strong> proteína bruta.<br />
(3) As rações 05, 06 e 07 são as mais indicadas <strong>para</strong> matrizes<br />
leiteiras em lactação, crias jovens, reprodutores, por serem mais<br />
ricas em energia (NDT).<br />
8. SORGO GRANÍFERO E DE DUPLA APTIDÃO<br />
Grão <strong>de</strong> sorgo:<br />
Importante substituto do milho<br />
Como em muitas regiões do<br />
semiárido nor<strong>de</strong>stino, o milho é uma<br />
cultura <strong>de</strong> risco, o sorgo surge como<br />
um ótimo substituto <strong>para</strong> a <strong>produção</strong><br />
<strong>de</strong> silagem e grãos. Valente (1992),<br />
consi<strong>de</strong>ra o valor nutritivo da silagem <strong>de</strong> sorgo equivalente a 85<br />
a 90% da <strong>de</strong> milho, havendo, no entanto, referências mais amplas<br />
(72 a 92%). Outra vantagem da cultura do sorgo em relação ao<br />
milho é a diminuição das perdas por roubos, no entanto são<br />
frequentes perdas por ataques <strong>de</strong> pássaros.<br />
26
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
O sorgo po<strong>de</strong> substituir parcialmente o milho nas<br />
rações <strong>para</strong> aves e totalmente <strong>para</strong> ruminantes, com uma<br />
vantagem com<strong>para</strong>tiva <strong>de</strong> menor custo <strong>de</strong> <strong>produção</strong> e valor<br />
<strong>de</strong> comercialização <strong>de</strong> 80% do preço do milho. O sorgo po<strong>de</strong><br />
substituir o milho até o nível <strong>de</strong> 100% em rações <strong>de</strong> leitões<br />
<strong>de</strong> recria (10 a 30 kg), sem prejudicar a disponibilida<strong>de</strong> e o<br />
<strong>de</strong>sempenho dos animais (Fialho et al., 2002).<br />
O sorgo é uma extraordinária fábrica <strong>de</strong> energia, <strong>de</strong> enorme<br />
utilida<strong>de</strong> em regiões muito quentes e muito secas, on<strong>de</strong> o<br />
homem não consegue boas produtivida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> grãos ou <strong>de</strong><br />
forragem cultivando outras espécies, como o milho. Requer uma<br />
precipitação média anual entre 375 e 625mm, mas respon<strong>de</strong> bem<br />
a irrigação suplementar. O sorgo granífero é o que tem maior<br />
expressão econômica e está entre os cinco cereais mais cultivados<br />
do mundo (Ribas, 2008).<br />
Para Tardin e Rodrigues (2008), o potencial <strong>de</strong> rendimento<br />
<strong>de</strong> grãos <strong>de</strong> sorgo, po<strong>de</strong> situar-se entre 7 a 10 t/ha, em condições<br />
favoráveis <strong>de</strong> cultivo e manejo. No entanto, nas condições <strong>de</strong><br />
cultivo das lavouras brasileiras a média alcançada está em torno<br />
<strong>de</strong> 2,4 t/ha.<br />
Duarte (2008) indica produtivida<strong>de</strong>s médias da or<strong>de</strong>m <strong>de</strong><br />
1,8 t/ha e informa que a <strong>produção</strong> dos grãos <strong>de</strong> sorgo tem como<br />
primeira opção o consumo interno na fazenda direcionado ao<br />
consumo animal, que chega alcançar 27% da <strong>produção</strong>.<br />
O sorgo apresenta três tipos com características distintas:<br />
o sorgo forrageiro, o misto (ou <strong>de</strong> dupla aptidão) e o granífero.<br />
Nesta apostila serão abordados principalmente as características<br />
e potenciais <strong>de</strong> <strong>produção</strong> <strong>de</strong> grãos das cultivares graníferas ou <strong>de</strong><br />
dupla aptidão, como opção aos grãos <strong>de</strong> milho.<br />
27
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
Sorgos do tipo granífero - são plantas <strong>de</strong> porte baixo (1,0 a<br />
1,6m), com panículas bem <strong>de</strong>senvolvidas, grãos gran<strong>de</strong>s, ciclo<br />
mais curto que os outros tipos e ponto <strong>de</strong> ensilagem entre 100<br />
a 110 dias.<br />
Sorgo misto ou <strong>de</strong> dupla aptidão - São plantas <strong>de</strong> porte<br />
médio, com altura variando <strong>de</strong> 2 a 2,3 m. A <strong>produção</strong> <strong>de</strong> massa<br />
ver<strong>de</strong> também é alta, com boa <strong>produção</strong> <strong>de</strong> grãos. Os sorgos <strong>de</strong><br />
dupla aptidão são indicados <strong>para</strong> ensilagem, pois além <strong>de</strong> uma<br />
alta <strong>produção</strong> <strong>de</strong> forragem, enriquecem a silagem <strong>de</strong>vido a uma<br />
maior participação <strong>de</strong> grãos que os sorgos forrageiros.<br />
A EMPARN, em parceria com a Embrapa Milho e Sorgo lançou<br />
recentemente, uma varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> sorgo <strong>de</strong> dupla aptidão<br />
<strong>de</strong>nominada BRS – Ponta Negra, que apresenta, como pontos<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>staque, rendimentos potenciais <strong>de</strong> matéria ver<strong>de</strong> <strong>de</strong> 30 a 50<br />
t e <strong>de</strong> MS <strong>de</strong> 9 a 15 t/ha/corte e rendimento <strong>de</strong> grãos em sequeiro<br />
<strong>de</strong> 1,5 a 2 t e com irrigação acima <strong>de</strong> 4 t.<br />
Vale lembrar que o sorgo po<strong>de</strong>rá ser manejado <strong>para</strong> <strong>produção</strong><br />
<strong>de</strong> grãos e, se plantado cedo, po<strong>de</strong>rá ainda no fi nal das chuvas<br />
alcançar uma boa rebrota <strong>para</strong> a <strong>produção</strong> <strong>de</strong> silagem. Caso seja<br />
possível a utilização da irrigação, então o sorgo po<strong>de</strong>rá promover<br />
várias rebrotas.<br />
Na Tabela 3 são apresentadas algumas formulações<br />
<strong>de</strong> concentrados utilizando grãos <strong>de</strong> sorgo e vagens <strong>de</strong><br />
algarobeira, como alternativas ao grão <strong>de</strong> milho (Nobre, 2009<br />
– informação pessoal).<br />
28
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
Tabela 3. Formulação <strong>de</strong> misturas concentradas com participação <strong>de</strong> grãos<br />
<strong>de</strong> sorgo, algaroba, farelo <strong>de</strong> trigo e farelo <strong>de</strong> algodão, com as<br />
respectivas composições médias<br />
Alimentos/<br />
Rações Diversas<br />
Nutrientes<br />
% 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10<br />
Sorgo grão 50,0 45,0 40,0 - - - 30,0 40,0 - 30,0<br />
Algaroba - - - 45,0 40,0 40,0 40,0 - 45,0 40,0<br />
Farelo <strong>de</strong> trigo 20,0 30,0 40,0 25,0 35,0 45,0 - 40,0 25,0 -<br />
Torta <strong>de</strong><br />
algodão<br />
30,0 25,0 20,0 30,0 25,0 29,0 30,0 20,0 30,0 30,0<br />
PB (Proteína<br />
bruta)<br />
20,8 19,7 18,5 20,5 19,5 18,3 19,4 18,5 20,5 19,4<br />
NDT (Energia) 69,5 70,3 70,6 71,5 71,5 70,0 71,0 70,6 71,5 71,0<br />
Fonte: Nobre (2009).<br />
Para Santos (2008), uma característica positiva dos<br />
grãos do sorgo é a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> serem armazenados<br />
por longo período <strong>de</strong> tempo, sem perdas significativas<br />
<strong>de</strong> qualida<strong>de</strong>.<br />
No site da Embrapa Milho e Sorgo (www.cnpms.<br />
embrapa.br) os produtores e técnicos po<strong>de</strong>rão encontrar<br />
informações <strong>de</strong>talhadas, não só <strong>de</strong> como controlar as pragas<br />
nos grãos armazenados, como também informações e fotos<br />
<strong>de</strong> sintomas <strong>de</strong> <strong>de</strong>ficiências e doenças do sorgo e diversas<br />
outras informações sobre outros segmentos do sistema <strong>de</strong><br />
<strong>produção</strong> da cultura.<br />
9. PALMA FORRAGEIRA<br />
As palmas são forrageiras <strong>de</strong> longa tradição na <strong>pecuária</strong><br />
nor<strong>de</strong>stina e representam um suporte alimentar fundamental <strong>para</strong><br />
29
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
os rebanhos no semiárido. Um número restrito <strong>de</strong> espécies tem<br />
sido cultivado na região, sendo as mais conhecidas as cultivares<br />
gigante e redonda e uma cultivar miúda ou doce.<br />
Palma forrageira alta produtivida<strong>de</strong> e valor nutritivo<br />
As palmas são <strong>alimentos</strong> com alta concentração <strong>de</strong><br />
energia e boa digestibilida<strong>de</strong>, ricos em minerais, com excelente<br />
palatabilida<strong>de</strong>, ótimo potencial <strong>de</strong> <strong>produção</strong> por área e<br />
principalmente, disponíveis nos períodos mais críticos <strong>de</strong> oferta<br />
<strong>de</strong> <strong>alimentos</strong>.<br />
Consi<strong>de</strong>rando dados <strong>de</strong> <strong>produção</strong> <strong>de</strong> MS <strong>de</strong> milho, sorgo e<br />
palma forrageira em Pernambuco, Ferreira (2005) aponta que essa<br />
cactácea produz mais energia por unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> área que essas duas<br />
gramíneas, com 6,43 t NDT/ha/ano e, respectivamente, 4,32 e<br />
5,16 <strong>para</strong> o milho e sorgo. Segundo esse autor, a palma apresenta<br />
coefi cientes <strong>de</strong> digestibilida<strong>de</strong> in vitro na MS da or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> 74,4;<br />
75,0 e 77,4%, <strong>para</strong> as cultivares redonda, gigante e miúda e teores<br />
<strong>de</strong> NDT <strong>de</strong> 61,1 a 65,9%.<br />
A palma representa assim, mais uma planta forrageira<br />
adaptada ao semiárido nor<strong>de</strong>stino com altas concentrações<br />
<strong>de</strong> energia e elevados rendimentos, que <strong>de</strong>ve ser utilizada<br />
nas rações <strong>de</strong> vacas e cabras <strong>de</strong> leite, visando substituir<br />
concentrados como o milho.<br />
30
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
A palma apresenta em média 64,7% <strong>de</strong> NDT, quantida<strong>de</strong> esta<br />
bastante superior à maioria dos <strong>alimentos</strong> volumosos utilizados na<br />
ração animal na região semiárida. Com essa riqueza em energia<br />
digestível e baixo nível (17%) <strong>de</strong> fi bra bruta (FB), a palma po<strong>de</strong>ria<br />
ser classifi cada como concentrado na classifi cação tradicional (><br />
60,0% NDT e < 18%FB). Por outro lado, consi<strong>de</strong>rando-se a forma<br />
<strong>de</strong> uso in natura e o fato <strong>de</strong> ocupar gran<strong>de</strong> volume, permitem<br />
também sua indicação como volumoso (Melo, 2006).<br />
Outro indicativo importante da palma como alimento <strong>para</strong><br />
a <strong>produção</strong> <strong>de</strong> leite é a sua riqueza em carboidratos não fi brosos<br />
(CNF), com médias <strong>de</strong> 53 a 71%, que chegam a superar os níveis<br />
máximos (44%) <strong>para</strong> vacas <strong>de</strong> leite recomendados pelo NRC<br />
(2001). Os CNF são aqueles mais digestíveis e que aten<strong>de</strong>m mais<br />
prontamente as <strong>de</strong>mandas por energia.<br />
Torna-se importante com<strong>para</strong>r na Tabela 9 (anexo), quais<br />
<strong>alimentos</strong> apresentam teores tão elevados <strong>de</strong> NDT, CNF e DIVMS,<br />
com<strong>para</strong>dos com a palma, e observar que apenas <strong>alimentos</strong><br />
concentrados apresentam níveis tão altos <strong>de</strong> energia.<br />
Como restrição à sua utilização exclusiva como volumoso<br />
<strong>para</strong> ruminantes, a palma é pobre em fi bra, que é necessária <strong>para</strong><br />
manutenção das condições normais do rúmen, e não aten<strong>de</strong> às<br />
recomendações mínimas <strong>de</strong> fi bra em <strong>de</strong>tergente neutro (FDN)<br />
<strong>para</strong> vacas <strong>de</strong> leite.<br />
Dessa forma, existe a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> associação com fontes<br />
<strong>de</strong> fi bra (capins, fenos, silagem) a fi m <strong>de</strong> se prevenir <strong>de</strong>sor<strong>de</strong>ns<br />
metabólicas. O teor médio <strong>de</strong> PB da palma forrageira (4,22%)<br />
po<strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rado baixo, necessitando ser complementado<br />
com outras fontes <strong>de</strong>sse nutriente (Ferreira, 2005).<br />
31
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
A baixa percentagem <strong>de</strong> MS da palma entre 10 e 11% (cerca<br />
<strong>de</strong> 90% <strong>de</strong> água), é outro tópico bastante discutido e apontado<br />
por alguns como ponto negativo <strong>de</strong>ssa forrageira. No entanto,<br />
experimentos <strong>de</strong>senvolvidos no semiárido mostraram que<br />
vacas em dietas com gran<strong>de</strong> participação da palma gigante,<br />
praticamente tiveram suas exigências <strong>de</strong> água atendidas, sem<br />
interferência no consumo <strong>de</strong> matéria seca. Numa região on<strong>de</strong><br />
a água é um elemento escasso e muitas vezes <strong>de</strong> péssima<br />
qualida<strong>de</strong>, tal característica <strong>de</strong>ve ser enquadrada entre os aspectos<br />
positivos da forrageira.<br />
Alguns autores apontam que a palma miúda apresenta um<br />
teor <strong>de</strong> MS 50% mais elevado que a palma gigante. Essa diferença<br />
po<strong>de</strong> fazer gran<strong>de</strong> efeito, pois num balaio <strong>de</strong> palma <strong>de</strong> 30 kg,<br />
ter-se-ia então 2,93 kg <strong>de</strong> MS <strong>para</strong> a palma gigante e 4,45 kg <strong>de</strong><br />
MS <strong>para</strong> a palma miúda.<br />
Em função da baixa concentração <strong>de</strong> PB das palmas, observase<br />
uma necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> oferta conjunta com concentrados<br />
protéicos com teores <strong>de</strong> PB superiores a 30%.<br />
Outra importante informação do manejo da palma<br />
na alimentação <strong>de</strong> gado <strong>de</strong> leite é que melhores<br />
<strong>de</strong>sempenhos são alcançados quando ela é ofertada na<br />
forma <strong>de</strong> ração completa, ou seja, misturada com outras<br />
fontes <strong>de</strong> fibras (capins, silagem, feno, bagaço <strong>de</strong> cana) e<br />
com o concentrado.<br />
“ A palma sempre <strong>de</strong>ve ser ofertada juntamente com<br />
um fonte <strong>de</strong> fi bra”<br />
Melo (2004) apresenta na Tabela 4, excelentes<br />
<strong>de</strong>sempenhos <strong>de</strong> vacas com produções superiores a 30 kg<br />
32
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
<strong>de</strong> leite/dia, com a palma representando 29% da MS da ração,<br />
associada a níveis variáveis <strong>de</strong> silagem <strong>de</strong> sorgo, caroço <strong>de</strong><br />
algodão e farelo <strong>de</strong> soja.<br />
Tabela 4. Desempenho <strong>de</strong> vacas da raça Holan<strong>de</strong>sa alimentadas com caroço<br />
<strong>de</strong> algodão como fonte <strong>de</strong> fi bra e proteína, em substituição a silagem<br />
<strong>de</strong> sorgo e farelo <strong>de</strong> soja em dietas à base <strong>de</strong> palma forrageira<br />
Itens<br />
0,00<br />
Níveis <strong>de</strong> caroço <strong>de</strong> algodão<br />
6,25 12,50 18,75 25,00<br />
Palma (%) 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00<br />
Silagem (%) 27,30 23,70 19,50 15,90 12,10<br />
Caroço <strong>de</strong> algodão (%) 0,00 6,25 12,50 18,75 25,00<br />
Farelo <strong>de</strong> soja 23,90 20,90 18,70<br />
Desempenho<br />
16,00 13,00<br />
Consumo <strong>de</strong> MS (% PV) 3,30 3,28 3,37 3,66 3,59<br />
Produção <strong>de</strong> leite<br />
(kg/dia)<br />
29,50 30,24 31,25 32,67 32,27<br />
Produção <strong>de</strong> leite corrigida<br />
gordura (kg/dia)<br />
26,70 28,12 30,22 30,74 31,68<br />
Adaptado <strong>de</strong> Melo (2006)<br />
Apesar <strong>de</strong> muito produtiva, os custos <strong>de</strong> <strong>produção</strong> da palma<br />
também são elevados. Na Tabela 5, Santos et al. (2006) estimam<br />
esses custos em quatro espaçamentos.<br />
Tabela 5. Estimativa <strong>de</strong> custo (R$) <strong>de</strong> implantação <strong>de</strong> um hectare <strong>de</strong> palma,<br />
em quatro espaçamentos<br />
Discriminação<br />
2,0 x 1,0m<br />
Espaçamentos <strong>de</strong> plantio<br />
1,0 x 0,5m 1,0 x 0,25m 3 x1 x0,5m<br />
Preparo do solo 90,00 90,00 90,00 90,00<br />
Plantio 150,00 300,00 450,00 165,00<br />
33
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
Raquetes e transporte<br />
120,00 405,00 825,00 210,00<br />
Adubação orgânica 450,00 450,00 450,00 450,00<br />
Adubação com<br />
fósforo<br />
180,00 180,00 180,00 180,00<br />
Capinas 540,00 585,00 720,00 540,00<br />
Total 1.530,00 2.010,00 2.715,00 1.635,00<br />
Salário mínimo <strong>de</strong> R$ 300,00<br />
Fonte: Santos et al. (2006)<br />
Melo (2003) procurou avaliar a substituição do farelo<br />
<strong>de</strong> soja por palma + uréia. Embora as produções <strong>de</strong> leite<br />
tenham diminuído, a inclusão da palma + uréia baixou os<br />
custos da dieta. Essas rações, combinando participações<br />
<strong>de</strong> silagem <strong>de</strong> sorgo (30% da MS), palma forrageira (31 a<br />
41% da MS), grão <strong>de</strong> milho (14%), farelo <strong>de</strong> soja (10 a 22%<br />
da MS) e uréia, não provocaram diarréias e nem problemas<br />
<strong>de</strong> ruminação.<br />
Resultados obtidos pelo IPA, em Caruaru-PE e<br />
Arcover<strong>de</strong>-PE, apontam produções no espaçamento <strong>de</strong> 1,0m<br />
x 0,5m <strong>de</strong> 170t a 200t/MV/ha, dois anos após o plantio,<br />
com teores médios <strong>de</strong> PB <strong>de</strong> 3 a 6% e <strong>de</strong> digestibilida<strong>de</strong><br />
da MS <strong>de</strong> 65 a 75%.<br />
O cultivo a<strong>de</strong>nsado da palma, com espaçamento<br />
<strong>de</strong> 1,0m x 0,25m (40 mil plantas por hectare), vem<br />
sendo bastante utilizado, principalmente, nos estados<br />
<strong>de</strong> Pernambuco e Alagoas. A tecnologia embora venha<br />
obtendo resultados expressivos em <strong>produção</strong> com 250t<br />
a 300t/MV/ha, dois anos após o plantio, requer níveis <strong>de</strong><br />
adubação mais altos, além maiores requerimentos em<br />
termos <strong>de</strong> limpas.<br />
34
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
Segundo esses resultados, a <strong>produção</strong> obtida em um<br />
hectare <strong>de</strong> palma em cultivo a<strong>de</strong>nsado, associada a fenos <strong>de</strong><br />
qualida<strong>de</strong>, permite alimentar 30 vacas por um período <strong>de</strong> seca<br />
<strong>de</strong> 180 dias, com um consumo diário <strong>de</strong> 50 kg/vaca/dia.<br />
Farelo <strong>de</strong> Palma<br />
O farelo <strong>de</strong> palma po<strong>de</strong> ser produzido por intermédio da<br />
secagem das raquetes picadas em terreiros cimentados (secador<br />
solar), por cerca <strong>de</strong> três dias (<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo do sol), com posterior<br />
moagem <strong>para</strong> obtenção do farelo. É evi<strong>de</strong>nte que a forma mais<br />
fácil e menos trabalhosa <strong>de</strong> ofertar a palma é na forma ver<strong>de</strong> e<br />
suculenta, principalmente no período seco.<br />
No entanto, alguns produtores da Paraíba e do Rio Gran<strong>de</strong><br />
do Norte estão aproveitando a palma que não precisou ser<br />
cortada no período seco, <strong>para</strong> produzir o farelo <strong>para</strong> utilização<br />
durante o período das chuvas. Embora possa parecer inviável a<br />
extração <strong>de</strong> 90% da água existente nas raquetes, a qualida<strong>de</strong><br />
da matéria seca da palma, seus altos rendimentos e os altos<br />
custos dos concentrados comerciais, têm justifi cado essas ações<br />
dos produtores. Segundo alguns produtores, o farelo da palma<br />
enriquecido com uréia (2%) e fornecido a ovinos, juntamente<br />
com feno <strong>de</strong> buff el e pastos nativos, tem proporcionado ganhos<br />
diários superiores a 200 g, em pleno período seco.<br />
Os resultados da utilização do farelo <strong>de</strong> palma são ainda<br />
controversos. Veras et al. (2002) substituíram até 75% dos<br />
grãos <strong>de</strong> milho por farelo <strong>de</strong> palma em ensaios com ovinos e<br />
concluíram que o farelo mostrou gran<strong>de</strong> potencial <strong>para</strong> uso como<br />
fonte alternativa <strong>de</strong> energia <strong>para</strong> ruminantes, mas <strong>de</strong>stacam a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> mais estudos.<br />
35
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
Palma irrigada e a<strong>de</strong>nsada<br />
A EMPARN e parceiros acabam <strong>de</strong> aprovar junto ao Banco<br />
do Nor<strong>de</strong>ste/FUNDECI/ETENE, recursos <strong>para</strong> o <strong>de</strong>senvolvimento<br />
<strong>de</strong> projeto <strong>de</strong> pesquisa, com o cultivo irrigado e a<strong>de</strong>nsado da<br />
palma forrageira, nos municípios <strong>de</strong> Lajes, Pedro Avelino, Angicos<br />
e Cruzeta.<br />
Foto 10 – Palma irrigada no Sertão Central<br />
Nessa região têm sido conduzidos há mais <strong>de</strong> três anos,<br />
plantios <strong>de</strong> palma realizados em altas <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 50 mil<br />
plantas/ha (2,0 x 0,10 m), com irrigação por gotejamento <strong>de</strong><br />
pequena intensida<strong>de</strong> (5 litros por metro a cada 15 dias) e<br />
fertilização orgânica e química.<br />
De início po<strong>de</strong> parecer inapropriada a irrigação <strong>de</strong> uma<br />
cultura xerófila <strong>de</strong> reconhecida adaptação ao semiárido e<br />
inviáveis os altos custos <strong>de</strong> implantação da tecnologia, da<br />
or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> 11 mil reais por hectare. Mesmo consi<strong>de</strong>rando<br />
que diversas variáveis precisam ser pesquisadas e<br />
confirmadas, principalmente em relação à sustentabilida<strong>de</strong><br />
da tecnologia e viabilida<strong>de</strong> econômica, assim como na<br />
otimização da irrigação, fertilização, regime <strong>de</strong> cortes,<br />
entre outros, os resultados preliminares obtidos po<strong>de</strong>m ser<br />
consi<strong>de</strong>rados revolucionários em termos <strong>de</strong> oportunida<strong>de</strong>s<br />
<strong>para</strong> a <strong>pecuária</strong> regional.<br />
36
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
Vale ressaltar ainda, que diferentemente do semiárido <strong>de</strong><br />
Pernambuco e Alagoas, a palma tem fraquíssimo <strong>de</strong>sempenho<br />
(murcha severa) nas áreas mais secas e baixas do Rio Gran<strong>de</strong> do<br />
Norte, como o Seridó e o Sertão Central. Mesmo os 160 cultivares<br />
introduzidos pela EMPARN oriundos <strong>de</strong> zonas <strong>de</strong>sérticas do<br />
México, não obtiveram boa adaptação nessas regiões.<br />
Outra abordagem da pesquisa <strong>de</strong>verá englobar a avaliação dos custos<br />
<strong>de</strong> <strong>produção</strong> e qualida<strong>de</strong> nutricional <strong>de</strong> concentrados energéticos produzidos<br />
a partir da <strong>de</strong>sidratação da palma. A energia da palma é comparável à energia<br />
do milho e mesmo possuindo 90% <strong>de</strong> água, com um rendimento <strong>de</strong> 300 a<br />
400 t/ha, seriam viabilizadas 30 t a 40 t <strong>de</strong> matéria seca/ha.<br />
O projeto visa avaliar sistemas <strong>de</strong> cultivo irrigado e a<strong>de</strong>nsado<br />
<strong>de</strong> palma forrageira no Rio Gran<strong>de</strong> do Norte, com ênfase na<br />
sustentabilida<strong>de</strong> técnica, econômica e ambiental.<br />
Entre os objetivos específi cos do Projeto a ser conduzido incluem-se:<br />
• Validar sistemas <strong>de</strong> cultivo a<strong>de</strong>nsado <strong>de</strong> palma forrageira e<br />
métodos <strong>de</strong> irrigação compatíveis com a realida<strong>de</strong> socioeconômica<br />
e ambiental da região semiárida do RN;<br />
• Caracterizar o potencial produtivo, o valor forrageiro e a<br />
composição químico-bromatológica dos genótipos da palma<br />
forrageira em avaliação;<br />
• Avaliar níveis <strong>de</strong> a<strong>de</strong>nsamento <strong>de</strong> plantio e fertilização em<br />
sistemas irrigados <strong>de</strong> palma forrageira no RN;<br />
• Avaliar frequência e intensida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cortes em sistemas irrigados<br />
<strong>de</strong> palma forrageira no RN;<br />
• Avaliar a viabilida<strong>de</strong> econômica <strong>de</strong> um sistema <strong>de</strong> <strong>produção</strong><br />
<strong>de</strong> palma forrageira a<strong>de</strong>nsada e irrigada, envolvendo captação<br />
da água <strong>de</strong> chuva, armazenamento em cisternas e utilização em<br />
sistemas <strong>para</strong> pequena irrigação.<br />
37
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
10. MANEJO DE CACTÁCEAS NATIVAS<br />
No Rio Gran<strong>de</strong> do Norte, particularmente a mesorregião<br />
Central Potiguar, que é consi<strong>de</strong>rada uma das regiões mais secas<br />
do Estado, em épocas <strong>de</strong> secas prolongadas, a utilização das<br />
cactáceas nativas como volumosos estratégicos no arraçoamento<br />
dos ruminantes é uma realida<strong>de</strong>.<br />
Mesmo com essa realida<strong>de</strong>, essas plantas que em quase<br />
sua totalida<strong>de</strong> são originárias da caatinga, necessitam <strong>de</strong> técnicas<br />
que proporcionem maiores incrementos na <strong>produção</strong> animal,<br />
e minimizem os efeitos <strong>de</strong>sfavoráveis das secas, com manejos<br />
sustentáveis das espécies.<br />
Na caatinga, a colheita das cactáceas xiquexique e mandacaru<br />
é feita manualmente retirando-se as brotações laterais, utilizando<br />
facão e gancho próprio e tendo-se o cuidado <strong>de</strong> preservar o caule<br />
principal.<br />
O material colhido é transportado até o local <strong>de</strong> fornecimento<br />
aos animais (galpão ou aprisco), on<strong>de</strong> os espinhos são retirados<br />
ou queimados por intermédio do lança chamas a gás butano ou<br />
forno com queima a lenha<br />
Queima dos espinhos das cactáceas<br />
38
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
O método <strong>de</strong> retirada dos espinhos fica condicionado<br />
à realida<strong>de</strong> do produtor, <strong>de</strong>saconselhando-se a forma<br />
tradicional, on<strong>de</strong> a queima dos espinhos é feita diretamente<br />
sobre as touceiras da planta viva utilizando fogueira.<br />
O criador <strong>de</strong>ve priorizar os métodos <strong>de</strong> retirada dos<br />
espinhos que causem menor impacto ambiental e tenham<br />
baixo custo <strong>de</strong> <strong>produção</strong>. Além disso, <strong>de</strong>ve adotar um<br />
manejo conservacionista, que garanta a sustentabilida<strong>de</strong><br />
dos bancos naturais <strong>de</strong>ssas cactáceas, acrescido, inclusive<br />
da implantação <strong>de</strong> áreas cultivadas.<br />
Após a queima dos espinhos, a cactácea é triturada em<br />
máquina forrageira ou picada, po<strong>de</strong>ndo então ser fornecida<br />
aos animais. Como essas cactáceas contêm muita água, é<br />
recomendável fornecê-las associadas a outros <strong>alimentos</strong> ricos em<br />
fi bra e proteína como feno, silagem e concentrados. Antes <strong>de</strong><br />
fornecer aos animais, todos os <strong>alimentos</strong> <strong>de</strong>vem ser misturados<br />
(como exemplo, cacto + feno ou silagem + concentrado) e bem<br />
homogeneizados.<br />
Visando um melhor aproveitamento das cactáceas<br />
xiquexique e mandacaru no arraçoamento dos ruminantes,<br />
Silva et al. (2007; 2008) <strong>de</strong>senvolveram pesquisas <strong>para</strong><br />
avaliar o <strong>de</strong>sempenho <strong>de</strong> garrotas e vacas da raça<br />
Pardo-Suíça, ovinos Morada Nova e cabras Saanen,<br />
com diferentes combinações das referidas cactáceas,<br />
associadas a outros <strong>alimentos</strong>. Os resultados obtidos<br />
são apresentados na Tabela 5.<br />
39
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
40<br />
Experimentos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sempenho <strong>de</strong> ruminantes<br />
alimentados com cactáceas nativas<br />
Um ponto que merece <strong>de</strong>staque nesses resultados é a<br />
possibilida<strong>de</strong> do produtor ter em <strong>de</strong>terminadas áreas da caatinga<br />
potiguar, espécies forrageiras tolerantes aos períodos <strong>de</strong> seca<br />
prolongada, participando com 75% da dieta <strong>de</strong> garrotas, 50% da<br />
dieta <strong>de</strong> vacas leiteiras, 100% da dieta <strong>de</strong> ovinos e 83% da dieta<br />
<strong>de</strong> cabras leiteiras, contribuindo <strong>para</strong> uma menor <strong>de</strong>pendência<br />
do mercado <strong>de</strong> concentrados comerciais.<br />
Além <strong>de</strong> reserva <strong>estratégica</strong> <strong>de</strong> água e forragem <strong>para</strong> os<br />
ruminantes, as cactáceas xiquexique e mandacaru têm outros<br />
usos, entre os quais, plantios como cercas vivas e repovoamento<br />
<strong>de</strong> áreas <strong>de</strong>gradadas, que contribuem <strong>para</strong> minimizar a<br />
<strong>de</strong>gradação da caatinga.
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
Tabela 5 – Desempenho <strong>de</strong> garrotas e vacas da raça Pardo Suíça, ovinos<br />
Morada Nova e cabras Saanen em confinamento no<br />
Campo Experimental e <strong>de</strong> Produção <strong>de</strong> Cruzeta- RN<br />
Dieta Ganho <strong>de</strong> peso/garrotas (g/dia)<br />
Xiquexique (15 kg) + Silagem <strong>de</strong><br />
400<br />
sorgo (7 kg) + Concentrado (1,7 kg)<br />
Mandacaru (11 kg) + Silagem <strong>de</strong><br />
500<br />
sorgo (7 kg) + Concentrado (1,7 kg)<br />
Xiquexique (22 kg) + Silagem <strong>de</strong><br />
300<br />
sorgo (4 kg) + Concentrado (1,7 kg)<br />
Mandacaru (17 kg) + Silagem <strong>de</strong><br />
500<br />
sorgo (4 kg) + Concentrado (1,7kg)<br />
Produção <strong>de</strong> leite/vacas (kg/dia)<br />
Xiquexique (10 kg) + Silagem <strong>de</strong><br />
14,80<br />
sorgo (30 kg) + Concentrado (5 kg)<br />
Xiquexique (25 kg) + Silagem <strong>de</strong><br />
15,26<br />
sorgo (25 kg) + Concentrado (5 kg)<br />
Xiquexique (40 kg) + Silagem <strong>de</strong><br />
14,89<br />
sorgo (20 kg) + Concentrado (5 kg)<br />
Xiquexique (50 kg) + Silagem <strong>de</strong><br />
14,72<br />
sorgo (10 kg) + Concentrado (5 kg)<br />
Ganho <strong>de</strong> peso/ovinos (g/dia)<br />
Xiquexique (1.500 g) + Feno <strong>de</strong><br />
sabiá (250 g) + Algaroba (400 g) +<br />
84<br />
Mistura mineral à vonta<strong>de</strong><br />
Xiquexique (1.500 g) + Feno <strong>de</strong> fl or<strong>de</strong>-seda+<br />
(250 g) Algaroba (400 g)<br />
95<br />
+ Mistura mineral à vonta<strong>de</strong><br />
Mandacaru (1.000 g) + Feno <strong>de</strong><br />
sabiá (250 g) + Algaroba (400 g) +<br />
76<br />
Mistura mineral à vonta<strong>de</strong><br />
Mandacaru (1.000 g) + Feno <strong>de</strong> fl or<strong>de</strong>-seda<br />
(250 g) + Algaroba (400 g)<br />
86<br />
+ Mistura mineral à vonta<strong>de</strong><br />
41
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
Xiquexique (3.000 g) + Feno <strong>de</strong><br />
fl or-<strong>de</strong>-seda + (600 g) + Algaroba<br />
(500 g) + Farelo <strong>de</strong> soja (300 g) +<br />
Mistura mineral (50 g)<br />
Xiquexique (3.000 g) + Feno <strong>de</strong><br />
sabiá+ (800 g) + Algaroba (500 g)<br />
+ Farelo <strong>de</strong> soja (300 g) + Mistura<br />
mineral (50 g)<br />
Mandacaru (3.000 g) + Feno <strong>de</strong><br />
fl or-<strong>de</strong>-seda + (600 g) + Algaroba<br />
(500 g) + Farelo <strong>de</strong> soja (300 g) +<br />
Mistura mineral (50 g)<br />
Mandacaru (3.000 g) + Feno <strong>de</strong><br />
sabiá+ (800 g) + Algaroba (500 g)<br />
+ Farelo <strong>de</strong> soja (300 g) + Mistura<br />
mineral (50 g)<br />
11. GIRASSOL<br />
42<br />
Produção <strong>de</strong> leite/cabras (g/dia)<br />
1.602<br />
1.757<br />
1.688<br />
1.719<br />
O girassol é uma cultura que está em crescimento no Rio<br />
Gran<strong>de</strong> do Norte, fazendo parte do Programa <strong>de</strong> Agroenergia do<br />
Estado. Além <strong>de</strong> ser uma excelente alternativa <strong>para</strong> ensilagem, o<br />
cultivo do girassol <strong>para</strong> <strong>produção</strong> <strong>de</strong> óleo comestível e biodiesel<br />
po<strong>de</strong>rá reativar as usinas <strong>de</strong> esmagamento <strong>de</strong> sementes, dando<br />
origem a farelos e tortas <strong>de</strong> importante utilização na dieta dos<br />
ruminantes potiguares. Entre algumas características importantes<br />
do girassol po<strong>de</strong>-se citar a boa<br />
tolerância à seca, facilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
adaptação a vários tipos <strong>de</strong> solo<br />
e boa produtivida<strong>de</strong>.<br />
Girassol como fonte <strong>de</strong> energia<br />
<strong>para</strong> ruminantes
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
Alguns autores apontam rendimentos <strong>de</strong> MS na cultura do<br />
girassol <strong>para</strong> forragem da or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> 5 a 10 toneladas/hectare/<br />
ano. Em experimentos conduzidos pela EMPARN na região <strong>de</strong><br />
Touros, a cultivar Catisol apresentou rendimentos médios <strong>de</strong> 46<br />
toneladas <strong>de</strong> matéria ver<strong>de</strong>/hectare, com cerca <strong>de</strong> 23% compostos<br />
pelos capítulos/grãos.<br />
A silagem <strong>de</strong> girassol apresenta como vantagens o alto valor<br />
energético e o teor <strong>de</strong> PB entre 10 a 13%, que po<strong>de</strong> ser 35% superior<br />
ao da silagem <strong>de</strong> milho. No entanto, apresenta maior teor <strong>de</strong> fi bra<br />
e gordura, que po<strong>de</strong>m reduzir a digestibilida<strong>de</strong> e o percentual <strong>de</strong><br />
nutrientes digestíveis totais. O ponto <strong>de</strong> corte do girassol <strong>para</strong> ensilagem<br />
é muito importante <strong>para</strong> obter uma silagem <strong>de</strong> boa qualida<strong>de</strong>. A<br />
melhor época <strong>para</strong> o corte é quando a planta do girassol apresenta<br />
teor <strong>de</strong> matéria seca entre 28 e 30%, o que coinci<strong>de</strong> com a maturação<br />
fi siológica (estádio R9). Para o produtor reconhecer se as plantas estão<br />
no ponto <strong>de</strong> ensilagem, <strong>de</strong>ve-se olhar a parte posterior dos capítulos<br />
que se torna amarelada e a maioria das folhas já está ressecada. Isso<br />
ocorre em geral 85 dias após a emergência (nascimento) das plantas<br />
<strong>para</strong> as varieda<strong>de</strong>s precoces e aproximadamente aos 110 dias <strong>para</strong> as<br />
varieda<strong>de</strong>s tardias. Não se <strong>de</strong>ve colher o girassol <strong>para</strong> ensilagem antes<br />
<strong>de</strong>sse período, pois o seu conteúdo <strong>de</strong> umida<strong>de</strong> será muito alto o que<br />
não é bom <strong>para</strong> o armazenamento.<br />
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
A revisão apresentada permite observar a existência <strong>de</strong><br />
um número representativo <strong>de</strong> plantas forrageiras adaptadas ao<br />
semiárido, com alto rendimento, altas concentrações <strong>de</strong> energia<br />
e outros nutrientes, que po<strong>de</strong>m ser utilizadas na <strong>produção</strong> <strong>de</strong><br />
concentrados na própria fazenda. Cabe aos produtores calcular os<br />
custos <strong>de</strong> <strong>produção</strong> das diferentes opções e avaliar a viabilida<strong>de</strong><br />
econômica <strong>de</strong>ssas ações.<br />
43
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
Para auxiliar produtores e técnicos na formulação <strong>de</strong><br />
rações equilibradas <strong>para</strong> a <strong>pecuária</strong> leiteira, encontram-se<br />
listadas, em anexo, algumas formulações <strong>de</strong> rações propostas<br />
por pesquisadores da Embrapa, recomendações <strong>para</strong> o bom<br />
<strong>de</strong>sempenho da ativida<strong>de</strong> leiteira, a composição bromatológica<br />
da gran<strong>de</strong> maioria das plantas mencionadas, seus nomes<br />
científi cos e os requerimentos das vacas em lactação, em termos<br />
<strong>de</strong> energia e proteína.<br />
13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS<br />
APOSTILA <strong>de</strong> nutrição <strong>de</strong> ruminantes (Bovinos/Bubalinos). Castanhal, PA: Escola<br />
Agrotécnica Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Castanhal, 2006, 30p. Disponível em: www.ufsm.br/<br />
petagronomia/apostilas/nutricaoruminantes.pdf. Acesso em: 6 Ago. 2008.<br />
CAMPOS, O.F. <strong>de</strong>. Opções <strong>de</strong> concentrado <strong>para</strong> bezerros até 360 dias<br />
<strong>de</strong> ida<strong>de</strong>. Juiz <strong>de</strong> Fora-MG: Embrapa/Gado <strong>de</strong> Leite, 2006. 2p. (Instrução<br />
Técnica, 39).<br />
CARVALHO, J.L.H. <strong>de</strong>. A parte aérea da mandioca na alimentação animal.<br />
Informe Agropecuário, v.10, n.119, p.29-36, 1984.<br />
DAYRELL, M.S.; CAMPOS, O.F. Opções <strong>de</strong> concentrados <strong>para</strong> vacas em<br />
lactação. Juiz <strong>de</strong> Fora-MG: Embrapa/Gado <strong>de</strong> Leite, 2000. 2p. (Instrução<br />
Técnica, 17).<br />
DERESZ, F.; CÓSER, A.C.; MARTINS, C.E. Utilização <strong>de</strong> forrageiras tropicais<br />
manejadas em pastejo rotativo <strong>para</strong> <strong>produção</strong> <strong>de</strong> leite. In: PRODUÇÃO DE LEITE<br />
A PASTO: TÉCNICAS DE ALIMENTAÇÃO E DE MANEJO DA PROPRIEDADE. Juiz <strong>de</strong><br />
Fora-MG: Embrapa/Gado <strong>de</strong> Leite, 2006. P.24-44.<br />
DUARTE, J.<strong>de</strong> O. Cultivo do sorgo: Mercado e comercialização. Sete<br />
Lagoas, EMBRAPA-CNPMS, 1991, 85. (EMBRAPA/CNPMS, Circular Técnica, 14).<br />
FERREIRA, M. <strong>de</strong> A. Palma forrageira na alimentação <strong>de</strong> bovinos leiteiros. Recife:<br />
UFRPE, Imprensa Universitária, 2005. 68p.<br />
FIALHO, E.T.; LIMA, J.A.F.; OLIVEIRA, V. et al. Substituição do milho pelo sorgo<br />
sem tanino em rações <strong>de</strong> leitões: Digestibilida<strong>de</strong> dos nutrientes e <strong>de</strong>sempenho<br />
animal. Revista Brasileira <strong>de</strong> Milho e Sorgo, v.1., p.105-111, 2002.<br />
GUANZIROLI, C.; ROMEIRO, A.; BUAINAIN, A.M. et al. Agricultura <strong>familiar</strong> e<br />
reforma agrária no século XXI. Rio <strong>de</strong> Janeiro: Garamound, 2001. 288p.<br />
44
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
GUIMARÃES FILHO, C.; LOPES, P.R.C. Subsídios <strong>para</strong> formulação <strong>de</strong> um<br />
programa <strong>de</strong> convivência com a seca no semi-árido brasileiro. Petrolina-<br />
PE: Embrapa/Semi-árido, 2001. 22p. (Documentos, 171).<br />
LIMA, G.F. da C.; AGUIAR, E.M. <strong>de</strong>.; MACIEL, F.C. et al. Secador solar – A fábrica<br />
<strong>de</strong> feno <strong>para</strong> a agricultura <strong>familiar</strong>. In: Armazenamento <strong>de</strong> forragens <strong>para</strong><br />
agricultura <strong>familiar</strong>. Natal: Empresa <strong>de</strong> Pesquisa Agro<strong>pecuária</strong> do Rio Gran<strong>de</strong><br />
do Norte, 2004, p.9-13.<br />
LIMA, G.F. da C. Reservas <strong>estratégica</strong>s <strong>de</strong> forragem: Uma alternativa <strong>para</strong><br />
melhorar a convivência dos rebanhos <strong>familiar</strong>es com a seca. Natal: EMPARN,<br />
2006, 83p. (Série Circuito <strong>de</strong> Tecnologias Adaptadas <strong>para</strong> a Agricultura Familiar,<br />
1).<br />
LIMA, G.F. da C.; AGUIAR, E.M. Qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> forragem. Natal: EMPARN, 2007,<br />
62p. (Série Circuito <strong>de</strong> Tecnologias Adaptadas <strong>para</strong> a Agricultura Familiar, 1).<br />
LIMA, G.F. DA C. Reservas <strong>estratégica</strong>s <strong>de</strong> forragem <strong>para</strong> a bovinocultura<br />
leiteira potiguar. In: LIMA, G.F. da C.; PEREIRA NETO, M. (Org.) BOVINOCULTURA<br />
DE LEITE. Natal, RN: EMPARN, 2008. p. 8-54. (Série Circuito <strong>de</strong> Tecnologias<br />
Adaptadas <strong>para</strong> a Agricultura Familiar, v.1).<br />
MACIEL. F.C..; LIMA, G.F. da C.; GUEDES, F. X.; MEDEIROS, h.r.; GARCIA, L. R.<br />
U. C. Silo <strong>de</strong> superfície – Segurança alimentar dos rebanhos na seca. In:<br />
Armazenamento <strong>de</strong> forragens <strong>para</strong> agricultura <strong>familiar</strong>. Natal: Empresa<br />
<strong>de</strong> Pesquisa Agro<strong>pecuária</strong> do Rio Gran<strong>de</strong> do Norte, 2004a, p.19-23<br />
MACIEL. F.C..; LIMA, G.F. da C.; GUEDES, F. X.; MEDEIROS, h.r.; GARCIA, L. R.<br />
U. C. Silo <strong>de</strong> superfície – Segurança alimentar dos rebanhos na seca. In:<br />
Armazenamento <strong>de</strong> forragens <strong>para</strong> agricultura <strong>familiar</strong>. Natal: Empresa<br />
<strong>de</strong> Pesquisa Agro<strong>pecuária</strong> do Rio Gran<strong>de</strong> do Norte, 2004b, p.19-23<br />
MARTINS, A.S.; PRADO, I.N.; ZEOULA, L.M. et al. Digestibilida<strong>de</strong> aparente <strong>de</strong><br />
dietas contendo milho ou casca <strong>de</strong> mandioca como fonte energética e farelo<br />
<strong>de</strong> algodão ou levedura com fonte protéica em novilhas. Revista Brasileira<br />
<strong>de</strong> Zootecnia, v.32, n.3, p.727-736, 2000.<br />
MARTINS, C.E.; CÓSER, A.C.; DERESZ, F. Formação e utilização <strong>de</strong> pastagem<br />
maneja em sistemas intensivos <strong>de</strong> <strong>produção</strong> <strong>de</strong> leite. Juiz <strong>de</strong> Fora-MG:<br />
Embrapa/Gado <strong>de</strong> Leite, 2004. 10p. (Circular Técnica, 79).<br />
MELO, A.A.S.; FERREIRA, M.A; VERAS, A.S.C. et al. Substituição parcial do farelo <strong>de</strong><br />
soja por uréia e palma forrageira (Opuntia fícus indica Mill) em dietas <strong>para</strong> vacas<br />
em lactação. Revista Brasileira <strong>de</strong> Zootecnia, v.32, n.3, p.727-736, 2003.<br />
MELO, A.A.S.M. Palma forrageira na alimentação <strong>de</strong> vacas leiteiras. In:<br />
CONGRESSO NACIONAL DE ZOOTECNIA, 16. Recife-PE: SBZ, 2006. CD-<br />
ROM.<br />
45
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRC. Nutrient requirements of beef<br />
cattle, Washington, D.C. National Aca<strong>de</strong>my Press. 1996. 242p.<br />
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of dairy cattle –<br />
NRC. Washington, D.C.: National Aca<strong>de</strong>my Press. 1989. 157p.<br />
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of dairy cattle –<br />
NRC. Washington, D.C.: National Aca<strong>de</strong>my Press. 2001. CD-ROM.<br />
RAMALHO, R.P.; FERREIRA, M. <strong>de</strong> A.; VERAS, A.S.C. et al. Substituição do milho<br />
pela raspa <strong>de</strong> mandioca em dietas <strong>para</strong> vacas primípiras em lactação. Revista<br />
Brasileira <strong>de</strong> Zootecnia, v.29, n.1, p.269-277, 2000.<br />
RIBAS, P.M. Cultivo do sorgo: importância econômica In: SISTEMA DE<br />
PRODUÇÃO SORGO, 2, 4 ed. Sete Lagoas-MG: Embrapa Milho e Sorgo, 2008.<br />
3p.<br />
SANTOS, D. C. dos; FARIAS, I.; LIRA, M. A. et al. Manejo e utilização da palma<br />
forrageira (Opuntia e Nopalea) em Pernambuco. Recife: IPA, 2006. 48p.<br />
(IPA. Documento, 30).<br />
SANTOS, J.P. Cultivo do sorgo: colheita e pós-colheita. In: SISTEMA DE<br />
PRODUÇÃO SORGO, 2, 4 ed. Sete Lagoas-MG: Embrapa Milho e Sorgo, 2008.<br />
6p.<br />
SILVA, J.G.M.; LIMA, G.F.C.; MACIEL, F.C. et al. Utilização e manejo do<br />
xiquexique e mandacaru como reservas <strong>estratégica</strong>s <strong>de</strong> forragem.<br />
Natal : EMPARN, 2007. 35p. (Documentos, 33).<br />
SILVA, J.G.M.; MACIEL, F.C.; MELO, A.A.S. et al. Xiquexique e Mandacaru<br />
Associados a Fenos <strong>de</strong> Flor-<strong>de</strong>-Seda e Sabiá na Alimentação <strong>de</strong> Cabras<br />
Leiteiras. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA,<br />
45, Lavras, 2008. Anais... Lavras : Socieda<strong>de</strong> Brasileira <strong>de</strong> Zootecnia, 2008. CD-<br />
ROM.<br />
TARDIN, F.D.; RODRIGUES, J.A.S. Cultivo do sorgo: cultivares In: SISTEMA<br />
DE PRODUÇÃO SORGO, 2, 4 ed. Sete Lagoas-MG: Embrapa Milho e Sorgo,<br />
2008. 3p.<br />
VALADARES FILHO, S.C.; MAGALHÃES, K.A.; ROCHA JÚNIOR, V.R. et al. Tabelas<br />
brasileiras <strong>de</strong> composição <strong>de</strong> <strong>alimentos</strong> <strong>para</strong> bovinos. 2 ed. Viçosa: UFV, DZO,<br />
2006. 329p.<br />
VALENTE, J <strong>de</strong> O. Milho <strong>para</strong> silagens, tecnologias, sistemas e custos<br />
<strong>de</strong> <strong>produção</strong>. Sete Lagoas, EMBRAPA-CNPMS, 1991, 85. (EMBRAPA/CNPMS,<br />
Circular Técnica, 14).<br />
VERAS, R.M.L., FERREIRA, M. <strong>de</strong> A., CARVALHO, F.R. <strong>de</strong>. et al. Farelo <strong>de</strong> palma<br />
forrageira (Opuntia fícus indica Mill) em substituição ao milho. 1. Digestibilida<strong>de</strong><br />
46
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
aparente <strong>de</strong> nutrientes. Revista Brasileira <strong>de</strong> Zootecnia, v.31, n.3, p.1302-<br />
1306, 2002.<br />
VERAS, R.M.L.; FERREIRA, M. <strong>de</strong> A.; VERAS, A.S.C. et al. Substituição do milho por<br />
farelo <strong>de</strong> palma forrageira em dietas <strong>para</strong> ovinos em crescimento. Consumo e<br />
digestibilida<strong>de</strong>. Revista Brasileira <strong>de</strong> Zootecnia, v.34, n.1, p.351-356, 2005.<br />
ZOCCAL, R. Cem recomendações <strong>para</strong> o bom <strong>de</strong>sempenho da ativida<strong>de</strong><br />
leiteira. Juiz <strong>de</strong> Fora-MG: Embrapa/Gado <strong>de</strong> Leite, 2004. 17p. (Comunicado<br />
Técnico, 39).<br />
14. ANEXOS<br />
Embrapa Gado <strong>de</strong> Leite – Recomendações <strong>para</strong> o bom<br />
<strong>de</strong>sempenho da ativida<strong>de</strong> leiteira.<br />
• Novilhas gestantes <strong>de</strong>vem receber 20% a mais <strong>de</strong> nutrientes<br />
em relação as suas exigências <strong>de</strong> mantença, por ainda estarem<br />
em crescimento;<br />
• As vacas <strong>de</strong>vem ser se<strong>para</strong>das e alimentadas em lotes baseados<br />
na <strong>produção</strong> do leite, período <strong>de</strong> lactação, re<strong>produção</strong>, e escore<br />
corporal, o que garantirá mais leite durante a vida produtiva da<br />
vaca, com menor custo;<br />
• Para permitir o aumento do consumo <strong>de</strong> <strong>alimentos</strong>, <strong>de</strong>ve-se:<br />
• Oferecer uma dieta balanceada em termos <strong>de</strong> energia, proteína,<br />
fi bra, vitaminas e minerais;<br />
• Utilizar <strong>alimentos</strong> <strong>de</strong> boa palatabilida<strong>de</strong>;<br />
• Não dar mais do que 3 a 4 kg <strong>de</strong> concentrado <strong>de</strong> uma só<br />
vez;<br />
• Para vacas <strong>de</strong> alta <strong>produção</strong>, <strong>de</strong>ve-se fazer vários tratos por<br />
dia, fracionando o fornecimento do concentrado. Assim a vaca<br />
produzirá mais leite e correrá menos riscos <strong>de</strong> adoecer;<br />
• Volumosos <strong>de</strong> alta qualida<strong>de</strong> são mais consumidos e<br />
disponibilizam mais nutrientes <strong>para</strong> os animais. Por isso, um bom<br />
produtor <strong>de</strong> leite <strong>de</strong>ve ser, antes <strong>de</strong> tudo, um bom agricultor;<br />
47
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
• Forneça os concentrados misturados ao volumoso <strong>para</strong> as<br />
vacas. Isso permite consumo mais constante e ajuda a prevenir<br />
distúrbios metabólicos, principalmente acidose;<br />
• É importante fi car atento ao correto fornecimento <strong>de</strong> minerais<br />
<strong>para</strong> o rebanho. A ingestão forçada (misturado com o concentrado)<br />
<strong>para</strong> vacas em lactação garante as quantida<strong>de</strong>s necessárias <strong>para</strong><br />
o bom <strong>de</strong>sempenho produtivo e reprodutivo;<br />
• O uso diário da uréia não prejudica a re<strong>produção</strong>, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que a<br />
quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> nitrogênio não protéico não ultrapasse um terço<br />
da proteína da dieta;<br />
• A suplementação com cana-<strong>de</strong>-açúcar e uréia <strong>de</strong>ve ser fornecida<br />
na seguinte proporção: 100 kg <strong>de</strong> cana picada + 1 kg <strong>de</strong> uréia<br />
com enxofre (sendo nove partes <strong>de</strong> uréia e uma <strong>de</strong> sulfato <strong>de</strong><br />
amônia). No período <strong>de</strong> adaptação a mistura <strong>de</strong>ve conter apenas<br />
meta<strong>de</strong> da uréia (500 g);<br />
• O caroço <strong>de</strong> algodão é alimento rico em energia e não é<br />
preciso <strong>de</strong>sintegrá-lo antes <strong>de</strong> fornecê-lo às vacas em lactação.<br />
Recomenda-se o fornecimento <strong>de</strong> 1 a 3 kg/vaca/dia, não<br />
exce<strong>de</strong>ndo a 20% da matéria seca da dieta (Zoccal, 2004).<br />
48
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
Nomes vulgares e científi cos das forrageiras citadas<br />
Nomes Vulgares Nomes Científi cos<br />
Algaroba Prosopis julifl ora D.C.<br />
Caju Anacardium occi<strong>de</strong>ntale L.<br />
Cana-<strong>de</strong>-açúcar Sacharum offi cinarum L.<br />
Capim-buff el Cenchrus ciliaris L.<br />
Capim-elefante Pennisetum purpureum Schum.<br />
Capim-urocloa ou capim corrente<br />
Urocloa mosambicensis<br />
Car<strong>de</strong>iro ou mandacaru Cereus jamacaru DC.<br />
Girassol Helianthus annuus L.<br />
Leucena<br />
Leucaena leucocephala (Lam.) <strong>de</strong><br />
Wit.<br />
Mandioca Manihot esculenta Crantz<br />
Melão Cucumis melo L.<br />
Milho Zea Mays L.<br />
Palma gigante e redonda Opuntia fícus-indica Mill.<br />
Palma miúda ou doce Nopalea cochenilifera Salm. Dick.<br />
Sorgo Sorghum bicolor (L.) Moench.<br />
Xiquexique<br />
Pilosocereus gounellei (A. Wrber ex<br />
K. Schum.) Byl ex Rowl.<br />
49
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
Tabela 6. Opções <strong>de</strong> concentrados <strong>para</strong> vacas em lactação<br />
Alimentos/Nutri<br />
Rações Diversas<br />
entes<br />
%<br />
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10<br />
Milho grão - - 84,50 74,50 79,00 50,00 85,00 80,00 65,00 75,00<br />
MPDS (*) - 78,00 - - - - - - - -<br />
Farelo <strong>de</strong><br />
soja<br />
Farelo <strong>de</strong><br />
algodão<br />
Farelo <strong>de</strong><br />
trigo<br />
23,00<br />
-<br />
-<br />
19,00<br />
-<br />
-<br />
10,00<br />
-<br />
-<br />
8,00<br />
-<br />
12,00<br />
-<br />
15,00<br />
-<br />
-<br />
10,00<br />
35,00<br />
10,00<br />
-<br />
-<br />
-<br />
15,00<br />
-<br />
-<br />
10,00<br />
20,00<br />
8,00<br />
-<br />
12,00<br />
Mandioca 72,00 - - - - - - - - -<br />
Uréia 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
Calcário<br />
calcítico<br />
- - 1,00 0,50 1,00 - - - - -<br />
Minerais<br />
PB<br />
1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
(Proteína 20,00 18,00 19,20 19,10 18,40 19,20 19,70 18,60 18,60 19,50<br />
bruta)<br />
NDT<br />
(Energia)<br />
75,80 70,00 75,20 73,00 73,00 79,00 77,00 74,90 77,30<br />
Ca (Calcio) 1,20 0,60 0,92 1,00 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
P (Fósforo) 0,33 0,40 0,62 0,60 0,64 0,80 0,36 0,45 0,56 0,45<br />
(*) MDPS – Milho <strong>de</strong>sintegrado com palha e sabugo<br />
Fonte: Dayrell e Campos ( 2000)<br />
Embrapa Gado <strong>de</strong> Leite – Pasta do Produtor<br />
Segundo Nobre (2009 – Informação pessoal) o milho po<strong>de</strong>rá ser substituído,<br />
total ou parcialmente, nas mesmas proporções por produtos<br />
como a algaroba e o sorgo.<br />
50
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
Tabela 7. Opções <strong>de</strong> concentrados <strong>para</strong> bezerros<br />
Ingredientes (%) 01 02 03 04 05 06 07 08<br />
Milho grão 45,7 60,5 62,0 34,5 43,5 66,0 52,0 75,0<br />
Farelo <strong>de</strong> soja - - - - 13,5 5,0 10,0 22,0<br />
Farelo <strong>de</strong> algodão 28,0 37,0 14,0 22,5 - 26,0 10,0 -<br />
Farelo <strong>de</strong> trigo 24,0 - 20,0 40,0 40,0 - 25,0 -<br />
Uréia - - 1,5 - - - - -<br />
Minerais 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0<br />
Calcário calcítico 1,8 2,0 1,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0<br />
PB (Proteína bruta) 16,0 16,4 17,8 15,7 16,5 16,1 16,2 17,4<br />
NDT<br />
(Energia)<br />
71,6 72,6 73,4 70,8 75,2 74,7 74,9 80,6<br />
Ca (Cálcio) 0,91 0,99 0,83 1,21 1,06 1,05 1,05 1,05<br />
P (Fósforo)<br />
Fonte:Campos (2006)<br />
0,67 0,56 0,58 0,75 0,68 0,55 0,63 0,40<br />
Embrapa Gado <strong>de</strong> Leite – Pasta do Produtor<br />
O autor recomenda colocar concentrado à disposição dos<br />
bezerros a partir da segunda semana <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>. Após o <strong>de</strong>saleitamento<br />
precoce (60 dias), a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> concentrado a ser<br />
fornecida é <strong>de</strong> 1 ou 2 kg /animal/dia, até seis meses <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>,<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ndo da qualida<strong>de</strong> do volumoso disponível. Dos seis<br />
meses até um ano <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>, a quantida<strong>de</strong> é <strong>de</strong> 1 kg/animal/<br />
dia. Deve-se renovar com frequência o concentrado no cocho,<br />
principalmente nas primeiras semanas <strong>de</strong> vida dos bezerros. Alimentos<br />
molhados e mofados são menos consumidos e po<strong>de</strong>m<br />
provocar doenças.<br />
51
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR . . . .<br />
Requerimentos diários da vaca em lactação e em gestação (NRC,<br />
1989)<br />
52
PRODUÇÃO . . . ESTRATÉGICA . . . . . . DE . . ALIMENTOS . . . . . PARA . . . A PECUÁRIA . . . . . FAMILIAR . . . . NO . . SEMIÁRIDO . . . . . . . . .<br />
53
. . . . . . . . VI . CIRCUITO . . . . . DE . TECNOLOGIAS . . . . . . . ADAPTADAS . . . . . PARA . . . A . AGRICULTURA . . . . . . FAMILIAR<br />
. . . .<br />
54