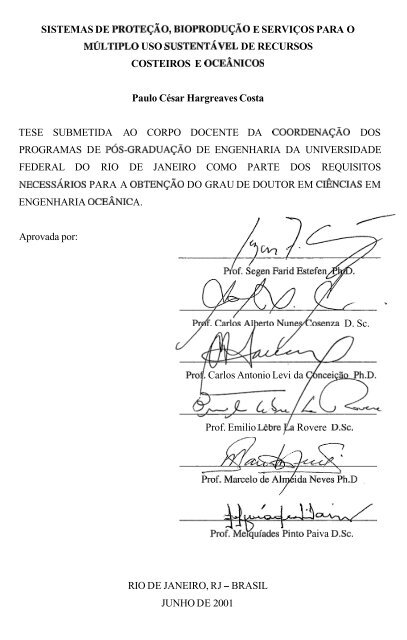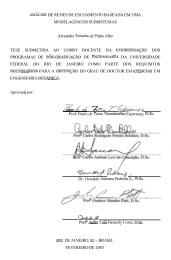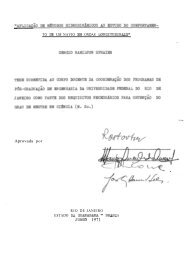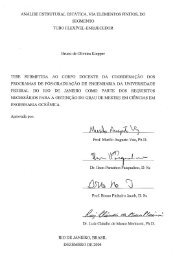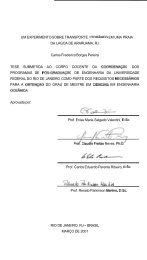SISTEMAS DE PROTEÇÃO, BIOPRODUÇÃO E SERVIÇOS PARA O ...
SISTEMAS DE PROTEÇÃO, BIOPRODUÇÃO E SERVIÇOS PARA O ...
SISTEMAS DE PROTEÇÃO, BIOPRODUÇÃO E SERVIÇOS PARA O ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>SISTEMAS</strong> <strong>DE</strong> <strong>PROTEÇÃO</strong>, <strong>BIOPRODUÇÃO</strong> E <strong>SERVIÇOS</strong> <strong>PARA</strong> O<br />
MÚLTIPLO USO SUSTENTÁVEL <strong>DE</strong> RECURSOS<br />
COSTEIROS E OCEÂNICOS<br />
Paulo César Hargreaves Costa<br />
TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COOR<strong>DE</strong>NAÇÃO DOS<br />
PROGRAMAS <strong>DE</strong> PÓS-GRADUAÇÃO <strong>DE</strong> ENGENHARIA DA UNIVERSIDA<strong>DE</strong><br />
FE<strong>DE</strong>RAL DO RIO <strong>DE</strong> JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS<br />
NECESSÁRIOS <strong>PARA</strong> A OBTENÇÃO DO GRAU <strong>DE</strong> DOUTOR EM CIÊNCIAS EM<br />
ENGENHARIA OCEÂNIC A.<br />
Aprovada por:<br />
~rd. carlos Alberto ~unekosenza D. Sc.<br />
Carlos Antonio Levi da<br />
Prof. Emilio Lèbre )h Rovere D.Sc.<br />
17<br />
RIO <strong>DE</strong> JANEIRO, RJ - BRASIL<br />
JUNHO <strong>DE</strong> 2001<br />
~rof.~e&uíades Pinto Paiva D.Sc.
Sistemas de Proteção, Bioprodução e<br />
Serviços para o Múltiplo Uso Sustentável de<br />
Recursos Costeiros e Oceânicos ( Rio de<br />
Janeiro ) 2001<br />
XK? 289 p. 29,7 cm ( COPPEAJFRJ? D.<br />
Sc., Engenharia Oceânica, 2001)<br />
Tese - Universidade Federal do Rio de<br />
Janeiro, COPPE<br />
1. Estruturas de Proteção<br />
2. Estruturas de Bioprodução<br />
3. Plano de Manejo<br />
4. Modelo Locacional<br />
5. Gerenciamento Costeiro<br />
6. Sistema Sustentável<br />
I. COPPEAJFRJ 11. Titulo (Série)
Aos meus pais Hélio e Alice,<br />
minha esposa Kumiko<br />
nzeus$lhos Paulo e Nelson<br />
minha filha Paula<br />
netos Gabriel e Mikael<br />
e irmãos Ramiro e Guilherme
AGRA<strong>DE</strong>CIMENTOS<br />
Ao Prof. Segen Farid Estefen, pela orientação acadêmica, sugestões, organização dos<br />
tópicos, revisão da tese e viabilização de convênios e bolsas durante o curso, e pela<br />
oportunidade de abertura da discussão interdisciplinar do tema no âmbito da engenharia<br />
oceânica de estruturas submarinas, em suas aplicações na sustentabilidade do múltiplo<br />
uso de sistemas costeiros e oceânicos.<br />
Ao Prof Carlos Alberto Nunes Cosenza, pelo ingresso na COPPE, orientação na<br />
formatação de métodos, sugestões e críticas na elaboração e aplicação de seu modelo<br />
locacional ao espaço costeiro e oceânico, gerando nova forma de avaliação de recursos,<br />
concepções de gestão governamental e planos de gerenciamento costeiro e oceânico.<br />
Ao Prof Carlos Antônio Levi da Conceição, pelo apoio, revisão e críticas na<br />
organização desde os primeiros trabalhos dos Exames de Qualificação e pelas sugestões<br />
sobre a forma de estruturar a tese no contexto do PENOICOPPE, e pelo empenho no<br />
tanque oceânico que abre novos horizontes para escola brasileira de tecnologia e<br />
pesquisa submarina.<br />
Ao Prof Emilio Lèbre La Rovere, pelas informações e sugestões para<br />
elaboração de matrizes de avaliação de impacto ambiental, e pelo apoio e troca de<br />
informações com os colegas doutorandos Francisco Eduardo Mendes e Giovamini<br />
Luigi do Lab. Interdisciplinar de Meio Ambiente, fundamentais para integração do<br />
espago terrestre com o oceânico no âmbito interdisciplinar de forma padronizada no<br />
contexto da COPPE.<br />
Ao Prof Marcelo de Almeida Neves pelo apoio e informações realistas sobre a<br />
situação da atividade de pesca e condições de riscos das embarcações, ftindamental para<br />
composição da base científica que levou a associação com os efeitos provocados pela<br />
degradação dos faabitats costeiros, e gelo apoio garticigativo em eventos, elaboração de<br />
teses e nas realizações e pesquisas do setor.<br />
Ao Prof Melquíades Pinto Paiva, pelo considerável volume de informações e<br />
publicações disponibilizadas, estatísticas confiáveis, conceitos de administração<br />
pesqueira e sugestões que permitiram as avaliações e medições com base tecnológica, e<br />
pela década de discussões sobre biologia marinha e a conceituação de gerenciamento<br />
costeiro, bioeconomia, bioprodução, terminologias aplicadas que sabiamente eram<br />
questionadas e lapidadas, estabelecendo-se parâmetros científicos e shegando aos novos<br />
desafios do equacionamento da bioengenharia oceânica.<br />
Ao Prof Fernando Rodrigues Lima, pela introdução e detalhamento do modelo<br />
locacional com base na sua tese, esclarecimentos e sugestões para estruturação de<br />
métodos, que permitiram a nova forma de equacionamento, com sua adaptação para<br />
resolução de problemas na faixa costeira e oceânica.<br />
Ao Prof Luiz Landau pela disponibilização de equipamentos, tecnologia e<br />
imagens do LANCEICOPPE, que serviram de base de formatação do cenário<br />
tridimensional oceânico de localização de recursos.
Ao Prof Miguel de Simoni, pelo espelho da realidade do outro lado da ética do<br />
trabalho e ambienta1 nas questões de avaliação do risco, condições operacionais e<br />
segurança durante a elaboração do relatório da CPI das Plataformas.<br />
Ao Prof Paulo César Colonna Rosman, pelas aulas, disponibilização de dados e<br />
metodologias de equacionamento com modelagem matemática para resolução de<br />
problemas de avaliação de volumes de troca de água e transporte de sedimentos em<br />
sistemas costeiras.<br />
Ao Prof. Orlando Nunes Cosenza, pelas orientações sobre a aplicação de<br />
técnicas matriciais em estudos qualitativos de avaliação que levaram a sua utilização<br />
nos métodos de medég2o.<br />
Com especial referência a Área de Estruturas do Programa de Engenharia Naval<br />
Oceânica:<br />
Através do Prof. Júlio César Ramalho Cirino pela considerações, sugestões e<br />
orientação com referencia aos assuntos acadêmicos e estendendo a todos os<br />
funcionários do PENOICOPPE<br />
E ao Prof. Murilo Augusto Vaz, pelo apoio, cobranças de prazo, informações<br />
internas e pelas publicações internacionais disponibilizadas, com estudos específicos<br />
sobre estruturas de bioprodução apresentadas em congressos, que facilitaram a<br />
integração do conhecimento de engenharia oceânica do petróleo com o de bioprodução<br />
pesqueira e a Suely Klajman pela iniciativa na resolução dos problemas burocráticos e<br />
matrículas esquecidas.<br />
Aos colegas do LTS através do Prof Theodoro Antoun Netto pelos rumos de<br />
novas conquistas e realizações em águas mais profundas.<br />
Aos colegas doutorandos Ana Paula França de Souza, Anderson Barata<br />
Custódio, Adebayo Ebenezer Ayodele, Carlos Alberto Duarte de Lemos, Mauro Costa<br />
de Oliveira e Silvestre Oliveira de Carvalho, pelas longas horas de convívio, relações<br />
de conhecimento científico e discussões de princípios sociais e políticos, inevitáveis<br />
numa Academia diante da seqüência dos fatos ocorridos nos últimos anos.<br />
E a todos os desafios de ocupação sustentável do Território Brasileiro da Plataforma<br />
Continental e área contígua do talude de águas mais profundas, onde vem se produzindo<br />
petróleo e peixe.
Resumo da Tese apresentada a COPPEIUFRJ como parte dos requisitos necessários<br />
para a obtenção do grau de Doutor em Ciências ( D.Sc.).<br />
<strong>SISTEMAS</strong> <strong>DE</strong> <strong>PROTEÇÃO</strong>, <strong>BIOPRODUÇÃO</strong> E <strong>SERVIÇOS</strong> <strong>PARA</strong> O<br />
MÚLTLPLO USO SUSTENTÁVEL <strong>DE</strong> RECURSOS<br />
Orientador: Prof Segen Farid Estefen<br />
Programa: Engenharia Oceânica<br />
COSTEIROS E oc~Âi\rzcos<br />
Paulo César Hargreaves Costa<br />
JUNH0/200 1<br />
O equacionamento da demanda decorrente do crescente quadro de usuários do<br />
mar indica a necessidade de instalação de estruturas costeiras e oceânicas, que é<br />
analisada nesta tese sob o enfoque de planejamento e gerenciamento. A pesquisa<br />
interdisciplinar engloba o conhecimento dos recursos do espaço oceânico, as relações de<br />
múltiplo uso e a necessidade de planejamento de sistemas sustentáveis, com o objetivo<br />
de promover o aproveitamento da plataforma continental, áreas contíguas do talude e<br />
profundas, conforme acordos internacionais.<br />
A base de conhecimento de potencialidades está no levantamento do espaço<br />
tridimensional submerso através de métodos visuais de coleta, para aplicação em<br />
modelo locacional de avaliação da oferta de recursos, correspondentes a demanda de<br />
atividades defmidas. A compatibilidade do múltiplo uso dos recursos e o zoneamento<br />
espacial foram pouco estudados, enquanto posições sobre níveis de degradação,<br />
dimensões e efeitos ambientais tem sido mais discutidos.<br />
A Região Sudeste do Estado do Rio de Janeiro apresenta um quadro complexo<br />
de usuários, incluindo atividades de produção de hidrocarbonetos, construção pesada e<br />
transporte marítimo. A ocupação dessas áreas tradicionais de pesca vem também<br />
afetando as atividades de turismo, esporte, recreação e lazer público. A tese tem como<br />
objetivo avaliar formas de gestão, analisar alternativas de equacionamento e apresentar<br />
métodos de planejamento e gerenciamento, com o emprego de estruturas de proteção e<br />
bioprodução, que possam viabilizar o múltiplo uso de forma segura e sustentável.
Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partia1 fulfilment of the<br />
requirements for the degree of Doctor of Science @. Sc.)<br />
PROTECTION, BIOPRODUCTION AND SERVICE SYSTEMS POR<br />
SUSTATNABLE MULTIPLE USE OF COASTAL AND OCEAN RESOURCES<br />
Advisor: Prof. Segen Farid Estefen<br />
Department: Ocean Engineering<br />
Paulo César Hargreaves Costa<br />
JuneI200 1<br />
Meeting the demand which has arisen as a consequence of the growing range of<br />
parties interested in sea-based activities, indicates the needs for installation of coastal<br />
and ocean structures. This is examined in this thesis, emphasising the strategic planning<br />
and management of coastal and ocean regions. The interdisciplinary research includes<br />
ocean resources knowledge, multiple use activities relationships, and planning for<br />
sustainable systems for continental platform and deep-water areas exploitation, in<br />
accordance with international agreements.<br />
The potentiality basis is founded upon an undersea three-dimensional space<br />
understanding attained via visual methods to be applied on a location-oriented model for<br />
resource supply evaluation and its relationship to the activities demand. The<br />
compatibility multiple use of resources and the zoning of spaces have been the subject<br />
of very few actual studies, while levels of degradation, scale and dimension of<br />
environmental effects have been discussed.<br />
The south-east region of Rio de Janeiro State has a complex range of interested<br />
parties with respect to coastal and offshore activities, including extraction of<br />
hydrocarbons, heavy construction and maritime transport occupying some traditional<br />
fishing areas, also effecting tom-sm, sport, recreation and public leisure activities. The<br />
thesis aims to evaluate forms of administration, analyse alternatives of equation forms,<br />
planning and management methods, utilising protection and bioproduction structures for<br />
safe and sustainable multiple use of resources.<br />
vii
Resumo da Tese<br />
Thesis Abstract<br />
Índice de Eguras e Tabelas<br />
CAPÍTULO I : INTRBDUÇÃO<br />
1.1 Apresentação<br />
1.2 Sistemas de Múltiplo Uso do Espaço Oceânico<br />
1.3 Conceito Global de Múltiplo Uso dos Recursos Oceânicos<br />
1.4 Abrangência do Tema de Pesquisa<br />
1.5 Engenharia Oceânica no Múltiplo Uso do Espaço Oceânico<br />
1.6 Identificação de Problemas de Engenharia Decorrentes do Múltiplo Uso<br />
1.7 Equacionamento do Múltiplo Uso do Espaço Oceânico<br />
cAPÍTULO II: A uTILIZAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO E OCEÂNICO<br />
2.1. Evolução Tecnológica no Uso do Espaço Oceânico<br />
2.1.1. Situação de Uso do Mar<br />
2.1.2. Instalação de Recifes Artificiais<br />
2.1.3. Grandes Estnituras Submersas<br />
2.2. Construção Teórica de Planejamento de Sistemas Aquáticos<br />
2.2.1. Condições Econômicas e Planejamento de Gestão de Recursos<br />
2.2.2. Estabilidade Bioeconômiea e Sustentabilidade<br />
2.2.3. Condicionante Sócio-Tecnológica de Viabilidade e Sustentação de Sistemas<br />
e Selqão, Formação, Qualificação e Sustentabilidade<br />
= Organização e Gestão de Sistemas Complexos<br />
Sustentabilidade dos Recursos de Produção<br />
2.2.4. Fatores de Ocorrência da Bioprodu~áo<br />
Aplicação de Métodos de Pesquisa de Recursos Submarinos<br />
2.3. Situação da Inovação Tecnológica no Uso do Espaço Oceânico<br />
2.4. Organizagão de Sistemas Sustentáveis de Múltiplo Uso<br />
cmÍmo m. CONSTRUÇÃO METODOL~GICA<br />
3.1. Metodologia de Planejamento de Sistemas de Múltiplo Uso<br />
3.2. Configuração do M&odo de Planejamento de Sistemas Operacionais<br />
3.3. Descrição dos Componentes de Planejamento de Sistemas<br />
= Zoneamento dos Sistemas<br />
= Plano de Manejo e Gestão de Recursos<br />
= Sistemas de Produção e Serviços<br />
3.4. Avaliação da Compatibilidade por Atividade e Níveis de Interação<br />
3.4.1. Processo de Estruturação de Matriz Gerencial<br />
= Relação de Interferência de Uso na Bioprodução<br />
3.4.2. Relação de Atividades dos Grupos de Interferência<br />
A) Atividades Fundamentais de Regulamentação e Infraestnitura<br />
B) Atividades Urbanas, Industriais e Comerciais de Impacto Ambiental<br />
C) Atividades Competitivas Interagindo no Sistema<br />
3.4.3. Possibilidades Técnicas de Previsão das Interações<br />
3.5. Descrição do Modelo Matricial de Locação de Usuários e Recursos<br />
3.5.1. Origem do Modelo Locacional<br />
3.5.2. Descrição Resumida do Modelo COSENZA<br />
3.6. Critérios de Divisão do Espaço Costeiro e Oceânico<br />
3.6.1. Divisão do Espaço Costeiro e Oceânico<br />
3.6.2. Aplicação de Critérios de Localização em Zoneamento Costeiro<br />
3.6.3. Critérios de Medição de Recursos Costeiros para Zoneamento<br />
3.7. Configuração do Modelo Tridimensional do Espaço Oceânico<br />
3.7.1. Sistemas de Localização por Carta Náutica<br />
3.7.2. Formatação de Modelo Tridimensional do Espaço Oceânico<br />
= Faixa Oceânica Econômica<br />
i Faixa Oceânica TerritoriaL
Faixa Costeira Marinha<br />
Faka Costeira Integrada<br />
Faixa Costeira Interior<br />
3.8. Tecnologia de Construção das &nas de Pesca com Sistemas de Recifes<br />
- Estruturas de Proteção e Propngaão Costeira<br />
- Estrutccrns de Indução da produçno Primária<br />
- Modelo de Redfe e EJiciêncin<br />
- Dimensões e Eftciencia dos Grupos e Sistemas de Recifes<br />
3.9. Avaliação de Recursos por Demanda de Usuário<br />
CAPITULO IV: CORIPARTIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO E AVALIAÇÁO<br />
RECURSOS COSTEIROS E OCEÂNICOS DA REGIÃo SU<strong>DE</strong>STE<br />
ESTADO DO RIO <strong>DE</strong> JANEIRO<br />
4.1. Organização e Gestão de Sistemas Complexos<br />
4.1.1. Construção de Sistemas Operacionais<br />
4.1.2. Instrumentos de Aplicação Metodológica<br />
4.2. Medição Locacional de Recursos Oceânicos<br />
4.2.1. Configuração da Região de Estudo<br />
Características de Avaliação Costeira e Oceânica na Região Sudeste<br />
rn Caracterização das kentes Oceânicas<br />
4.2.2. Plano de Gerenciamento Costeiro e Oceânico da Oferta de Recursos<br />
4.2.3. Medição dos Componentes da Oferta de Recursos<br />
4.3. Caracterização da Demanda na Avaliação da Oferta de Recursos<br />
4.3.1. Apresentação do Quadro de Usuários<br />
a) Pesca de Mergulho Comercial<br />
b) Mergulho Recreativo<br />
c) Caça Submarina (Pesca Submarina Esportiva)<br />
d) Pesca de Linha Comercial e Esportiva<br />
4.4. Medição da Disponibilidade Locacional de Recursos no Múltiplo Uso<br />
4.4.1. Adequação de Aplicação de Modelo de Medição<br />
4.4.2. Aplicação do Modelo de Medição de Avaliação Locacional<br />
Avaliações de Possibilidades Locacionais da Matriz C<br />
Índices de Avaliação Locacional da Matriz D<br />
CAPÍT~O V: CONCLUS~ES DA PESQUISA <strong>DE</strong> VIABILIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong><br />
CONSTRUÇÃO <strong>DE</strong> <strong>SISTEMAS</strong> SUSTENTÁVEIS <strong>DE</strong> MÚLTIPLO USO<br />
5.1. Aplicação de Metodologia de Construção de Sistemas Integrados<br />
5.2. Composição de Sistemas Integrados e Vocação de Uso<br />
Medição de Componentes de Sistemas Integrados e Custos de Implantação<br />
Construção de Estruturas Submarinas de Uso Regalamentado<br />
5.3. Aplicaqões em Planos de Govmo e Projetos Institucionais<br />
5.3.1. Organização de Sistemas Integrados de Produção e Serviços<br />
5.3.2. Conclusões e Sugestões sobre Planejamento e Gestão de Sistemas<br />
5.4. Considerações e Recomendações sobre a Estratégia de Enquadramento do Modelo<br />
Locacional no Planejamento de Sistemas Sustentáveis<br />
5.4.1. Planejamento e Gestão Participativa<br />
5.5. Consideraçães F'inais<br />
5.6. Temas de Referência para Gestão, Planejamento e Gerenciamento do Uso de Recursos<br />
Costeiros e Oceânicos<br />
ANEXO I (Referente ao CMRULO I)<br />
PARTE 1.1:<br />
INFORMAÇ~ES COMPLEMENTARES <strong>DE</strong> DISCUSSÃO DA POLÍTICA <strong>DE</strong><br />
GESTÃO DO ESPAÇO OCEÂNICO, MANEJO <strong>DE</strong> HABITATS SUBMARINOS<br />
E SUSTENTABILIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RECURSOS NATURAIS
L1.1. Tecnologias do Programa de Pesquisa de Engenharia Oceânica<br />
1.1.2. Contexto do Trabalho de Pesquisa<br />
11.2.1. Demanda Nacional de Planos de Gestão<br />
1.1.2.2. Parâmetros da Pesquisa dos Sistemas de Mú1tiplo Uso<br />
L1.2.3. Composição de Sistemas Integrados de Múltiplo Uso<br />
ANEXO IT (Referente ao CAPITULO Ii)<br />
PARTE II.1:<br />
FATORES CONDICIONANTES DA PESQUISA SUBMARINA <strong>PARA</strong> O<br />
MÚLIPLO USO SUSTENTÁVEL <strong>DE</strong> RECURSOS<br />
1111.1. Resumo Histórico da Pesquisa Subaquática<br />
II.1.2. Evolução da Pesquisa de Sistemas Oceânicos<br />
11.1.3. Pesquisa Submarina "in Situ" no Alto Mar<br />
II.1.4. Referências para Discussão da Pesquisa Submarina na Região Sudeste<br />
PARTE n.2:<br />
ESTRUTCJRAS SUBIUMUNAS <strong>DE</strong> <strong>PROTEÇÃO</strong> E <strong>BIOPRODUÇÃO</strong><br />
II.2.1, Introdução aos Sistemas de Recifes Artificiais<br />
II.2.2. Estruturas Submarinas de Proteção e indução de Biomassa<br />
IL2.3. Estruturas Submarinas de Estabilização e indução de Biomassa<br />
Móduios de Concreto<br />
Móddos de Aço<br />
= Móduios de Reciclagem<br />
1112.4. Módulos de Estruturas Flutuantes<br />
11.2.5. Móduios de Estruturas de Surfe<br />
PARTE II.3:<br />
CRITÉRIOS <strong>DE</strong> ZONEMNTO COSTEIRO E OCEÂNICO<br />
IL3.1. Introdução<br />
IL3.2. Zoneamento de Bacias Hidrográficas<br />
IL3.3. Divisão da Zona Costeira<br />
IL3.4. Zonemento da Faixa Costeira Marinha<br />
II.3.5. Mar Territorial<br />
lI.3.6. Espaço da Pesca Oceânica Zona Econômica Exclusiva de Pesca<br />
ANEXO III (~eferente ao cAPÍWLO IV)<br />
PARTE IIí.1:<br />
~ORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA COMPARTIMENTAÇAO,<br />
MEDIÇÃO E AVALIAÇÁO <strong>DE</strong> RECURSOS COSTEIROS E OCEÂNICOS DA<br />
REGIÃO SU<strong>DE</strong>STE DO ESTADO DO RIO <strong>DE</strong> JANEIRO<br />
IIL1.l. Descrição de Lógica Ambienta1 de Avaliação de Recursos 250<br />
FRENTESUL 250<br />
FRENTE SU<strong>DE</strong>STE 254<br />
= FRENTELESTE 260<br />
IIL1.2. Identificação e Medição da Oferta de Áreas Costeiras e Oceânicas 262<br />
IIL1.2.1. Medição das Areas Divididas por Limites Operacionais de Profundidade 262<br />
III.1.3. Medição de Recursos Pesqueiros da Região Sudeste 267
REUÇÃO <strong>DE</strong> FIGURAS E TABELAS<br />
CAPÍTULO I<br />
Figuras:<br />
Figura 1: Produção mundial de pesca e aquacultura<br />
Figura 2: Oferta e utilização da produção mundial pesqueira<br />
Figura 3: Projeto de Gerenciamento Costeiro Integrado 1MARINOVATION<br />
CAPÍTULO II<br />
Figuras:<br />
Figura 4: Experimento piloto de recifes artinciais em Arraial do CabolRJ<br />
Figura 5: Formação dos recifes de proteção da praia de Kurua, baia de Sagami, Japão<br />
Figura 6: Primeiros módulos de concreto e o nome do local de instalação<br />
Figura 7: Megaestmtura de concreto - modelos Sumitomo e FlP-reef<br />
figura 8: Torres de sistemas remotos para administração de Ração<br />
Rgura 9: Comparativos da produtividade da pesca artesanal e industrial<br />
Figura 10: Relações de custo e produçgo em três zonas diferenciadas<br />
Figura 11: Curvas de produção e custo<br />
Figura 12: Base sociotécnica para compreensão da complexidade da atividade oceânica<br />
Rgura 13: Representação da ressurgência no à leste da Costa<br />
figura 14 : Proposta de rede de tecnologia interdisciplinar<br />
Figura 15a: Quadro de estudos de viabilidade de múltiplo uso sustentável de recursos<br />
Figura 15b: Organização do Conhecimento oceânico do quadro de estudo de viabilidade<br />
Pag. 7<br />
Pag. 7<br />
Pag. 12<br />
Pag. 24<br />
Pag. 24<br />
Pag. 25<br />
Pag. 27<br />
Pag. 28<br />
Pag. 31<br />
Pag. 34<br />
Pag. 35<br />
Pag. 40<br />
Pag. 46<br />
Pag. 52<br />
Pag. 55<br />
Pag. 56<br />
CAPÍTULO m:<br />
Figuras:<br />
Figura 15c: Co guração do modelo de planejamento de sistemas integrados de proteção e<br />
bioprodução para múltiplo uso<br />
Pag. 58<br />
Figura 16: Tipos de relação por atividades com os recursos naturais<br />
Pag. 62<br />
Fi'igura 17 : Ação da regulamentação e controle na sustentabilidade<br />
Pag. 65<br />
Figura 18: Postulado do controle degenerativo para aumento da oferta de biomassa Pag. 66<br />
Figura 19: Relação do volume de atividades e níveis de recursos disponíveis<br />
Pag. 67<br />
Figura 20: Matriz de Compatibilidade (.L)<br />
Pag. 69<br />
Figura 21: Quadro de avaliação de compatibilidade de uso<br />
Pag. 77<br />
Figura 22: Divisão do espaço costeiro e oceânico para o planejamento de uso sustentável Pag. 82<br />
Figura 23: Critério de localização de pesca da sardinha<br />
Pag. 83<br />
figura 24: Relações de dimensão da divisão do espaço oceânico<br />
Pag. 84
Figura 25: Escala proposta dos sistemas costeiros<br />
Figura 26: Locação de área de quadra 41"- 42" w 123" -24" s<br />
Figura 27: Locação pontual em quadra elementar de 1 milha 2 42" 00' W - 23" 00' S<br />
Figura 28: Malha de 20 milhas 2 do Sistema Cabo Frio.<br />
Figura 29: Corte de linha pontilhada de praia com costão e lajes<br />
Figura 30: Orla rochosa de encosta<br />
figura 32: Releva submarino de banco de naufrágios<br />
Figura 31: Tipos de áreas costeira - ilhas e fundos rochosos<br />
Figura 33: Relevo submarino de banco de naufrágios<br />
Figura 34: Carta da Região Sudeste correspondente as kente Sul e Frente Sudeste<br />
Figura 35: Imagens de satélite da temperatura na superfície em torno do cabo Fiio<br />
Figura 36: Configuração do talude da plataforma continental da bacia de Campos<br />
Figura 37: Vista de cima do talude e extensão da plataforma continental<br />
Figura 38: Modelo japonês de sistema de licença de pesca<br />
Figura 39: Zoneamento de sistemas costeiros na Suécia<br />
Figura 40: Carta Temática 1- Caracterização da formação geologica<br />
Figura 41: Carta Temática 2 Cobertura vegetal e uso do espaço costeiro terrestre<br />
Figura 42 : Estruturas componentes dos sistemas de fazendas marinhas<br />
Figura 43: Módulos Maritex S e L de ação integrada de produção primária<br />
Figura 44: Módulo de mistura de águas<br />
Figura 45: Ação integrada de grupo de recifes de ressurgência Maritex L e S<br />
Figura 46: Sistema de recifes de OshimaIJapão<br />
Kgura 47: Sistema de recifes de ShimaneIJapão<br />
Figura 48: Sistema de recifes artificiais de Languedoc-Roussilio~rança<br />
CAPÍTULO IV:<br />
Figuras:<br />
Figura 49: Carta de blocos de pesca da FAO sobre os de hidrocarbonetos da ANP<br />
Figura 50: Carta de pesca esportiva de peixes de bico durante o verão<br />
Figura 51: Zona exclusiva de produção de petróleo antes da abertura de mercado<br />
Figura 52: Divisão estatística da #'AO sobre divisão locacional de sistemas<br />
Tabelas..<br />
Tabela 1: Produção da pesca de ihha no litoral sudeste brasileiro de 1986 - 1995<br />
Tabela 2: Produção de pescado por profundidade 1986-95<br />
Tabela 3: Localização do bloco de pesca, produção e produtividade da pesca de sardinha<br />
Tabela 4: Produtividade da sardinha verdadeira por faixa de profundidade<br />
Tabela 5: Quadro de Medição dos Recursos Característicos dos Sistemas<br />
Pag. 85<br />
Pag. 86<br />
Pag. 87<br />
Pag. 90<br />
Pag. 90<br />
Pag. 91<br />
Pag. 91<br />
Pag. 91<br />
Pag. 91<br />
Pag. 93<br />
Pag. 94<br />
Pag. 95<br />
Pag. 96<br />
Pag. 97<br />
Pag 98<br />
Pag. 99<br />
Pag. 99<br />
Pag. 100<br />
Pag. 101<br />
Pag. 102<br />
Pag. 102<br />
Pag. 104<br />
Pag. 104<br />
Pag. 106<br />
Pag. 111<br />
Pag. 112<br />
Pag. 114<br />
Pag. 115<br />
Pag. 113<br />
Pag. 113<br />
Pag. 116<br />
Pag. 117<br />
Pag. 124<br />
Tabela 6: Quadro do Total de Dimensões dos Recursos das Frentes - Oferta Locacional Pag. 126<br />
Tabela 7: Quadro de nívei de preferência !ocaciona1 por tipo de nwário Pag. 127
Tabela 8: Quadro de Dimensões dos Recursos das Rentes - Oferta Locacional Pag. 128<br />
Tabela 9: Quadro da Matriz A de avaliação de nível de Demanda de Recurso por usuário Pag. 133<br />
Tabela 10: Quadro Níveis de Demanda de Recursos por Atividade<br />
Tabela 11: Quadro MATRIZ- B de Avaliação da Oferta de Recursos nos Sistemas<br />
Tabela 12: Quadro de Níveis de Disponibilidade da Oferta<br />
Tabela 13: Quadro de Avaliação das Relações de Nivelamento da Oferta e Demanda<br />
Tabela 14: TabeJa de Cotejo<br />
Tabela 15: Matriz C- Possibilidades de Locação<br />
Tabela 16: Matriz E - Diagonal<br />
Tabela 17: Matriz D de índices locacionais<br />
Tabela 18: Quadro de índices de relação de oferta e demanda nos sistemas<br />
Tabela 19: Quadro de oferta de recursos por atividade na região<br />
Tabela 20: Quadro de avaliação de nível de demanda de recurso por tipo de usuário<br />
Tabela 21: Quadro de avaliação de oferta de recursos dos sistemas por atividade<br />
Tabela 22: Quadro de avaliação de oferta de recursos dos sistemas por atividade<br />
Tabela 23: Quadro MATRIZ - B: avaliação da oferta de recursos nos compartimentos<br />
Tabela 24: Quadro de avaliação de oferta de recursos dos sistemas por atividade<br />
Tabela 25: Quadro de dimensões dos recursos das frentes - oferta locacional<br />
cAFim0 V<br />
Figuras:<br />
Pag. 134<br />
Pag. 135<br />
Pag. 136<br />
Pag. 137<br />
Pag. 140<br />
Pag. 141<br />
Pag. 142<br />
Pag. 144<br />
Pag. 145<br />
Pag. 145<br />
Pag. 146<br />
Pag. 147<br />
Pag, 147<br />
Pag. 148<br />
Pag. 149<br />
Pag. 150<br />
Figura 53: Equacionamento dos componentes da demanda de planejamento e gestão de sistemas<br />
costeiros e oceânicos Pag. 171<br />
Tabelas:<br />
Tabela 26: Oferta de recursos na Rente Sul (em milhas marítimas)<br />
Pag. 155<br />
Tabela 27: Oferta de recursos na Frente Sudeste (em milhas marítimas) Qag. 158<br />
Tabela 28: Oferta de recursos na Frente Sudeste 2 (em milhas marítimas) Pag. 159<br />
Tabela 29: Oferta de recursos na Rente Leste (em milhas marítimas) Pag. 160<br />
Tabela 30: Totais de investimentos em infraestrutura de múRip1o uso<br />
ANEXO Ir<br />
Eguras:<br />
Figura 54 : Estruturas de Protqão da Linha Costeira<br />
Figura 55: Quebra-mar com tetrapoides para proteção de cais<br />
figura 56: Fundos de proteção para propagação de algas, moluscos e crustáceos<br />
Rgura 57: Megaestruturas seguindo os modelos tradicionais<br />
Figura 58: Primeiros modelos diferenciados de megaeshuturas<br />
figura 59: Evolução dos modelos de megaestruturas<br />
Figura 60: Megaestruturas de aço em várias dimensões<br />
Figura 61: Módulos de aço e concreto para propagação e crescimento<br />
Qag. 161<br />
Pag, 228<br />
Pag. 228<br />
Pag. 230<br />
Pag 31<br />
Pag. 32<br />
Pag. 33<br />
Pag. 33<br />
Pag. 34
Figura 62: Megaestruturas de aço para grandes profundidades<br />
Figura 63: Transporte de jaquetas recicladas para formação de recifes artificiais<br />
Figura 63: Atratores para profundidades de 200 a 500 metros<br />
Figura 64: Foto aérea do recife artificial de Narrowneck, Australia<br />
Rgura 65: Esquema de construção do recife de Narrowneck<br />
Figura 66: Perfil Esquemático de zoneamento em taludes do solo submarino<br />
Figura 67: Esquema de zoneamento da colonização bentônica sobre substratos rochoso<br />
Figura 68: Zonas de pesca oceânica de atuns e espécies afins ( Ph e Le Gall)<br />
Figura 69: Forma convencional da FAO para estatística Mundial da Pesca<br />
ANEXO m<br />
Figuras:<br />
Figura 70: FRENTE SUL, Compartimentos Piratininga - Ponta Negra e Massambaba<br />
Rgura 71: FRENTE SU<strong>DE</strong>STE (1) - Compartimento Cabo Frio - Cabo Búzios<br />
Figura 72 : FRENTE SU<strong>DE</strong>STE (2) -Comp. Rasa - Macaé, Cabiunas - São Tomé<br />
figura 73: Recobrimento sedimentar da FRENTE SU<strong>DE</strong>STE - cb. Hrio a Macaé,<br />
Figura 74 : FRENTE LESTE Compartimento São Tomé - Itabapoana<br />
Rgura 75: Frente Sul - Blocos de pesca e de exploração de petróleo<br />
Figura 76: Frentes Sudeste e Leste - Blocos de pesca e de exploração de petróleo<br />
Tabelas:<br />
Tabela 31: FRENTE SUL: Compartimentos Piratininga - Ponta Negra e Massambaba<br />
Tabela 32: FRENTE SU<strong>DE</strong>STE (1): Compartimento Cabo Frio - Cabo Búzios<br />
Tabela 33: FRENTE SU<strong>DE</strong>STE (2): Compartimento Praia Rasa - Macaé<br />
Tabela 34: FRENTE LESTE: Compartimento São Tomé - Itabapoana<br />
Tabela 35: Total das áreas por zona correspondente às Frentes e Faixas de profundidade<br />
Tabela 36: Percentual por frente em relação as faixas de profundidade<br />
Tabela 37: Percentual por zona de profundidade em relação as faixas<br />
Tabela 38: Estimativa de desembarque nas frentes oceânicas do Estado R J.<br />
Tabela 39: Estimativa da pesca com rede de cerco na Frente Sul (1993-97)<br />
Tabela 40: Produtividade da pesca com rede de cerco (Paiva e Motta, 2000)<br />
Tabela 41: Estimativa da pesca com rede de cerco na Frente SudestetLeste (1993-97)<br />
Tabela 42: Produçiio dos barcos linheiros na Região Sudeste (TOM 1979-95)<br />
Tabela 43: Mapa do volume de desembarque por espécie no Município de Cabo Fnio<br />
Tabela 44: Estimativa operacional da pesca nos Blocos da Região Sudeste<br />
xiv<br />
Pag. 35<br />
Pag. 35<br />
Pag. 36<br />
Pag. 37<br />
Pag. 38<br />
Pag. 39<br />
Pag. 44<br />
Pag. 47<br />
Pag. 48<br />
Pag. 250<br />
Pag. 254<br />
Pag. 257<br />
Pag. 258<br />
Pag. 260<br />
Pag. 268<br />
Pag. 270<br />
Pag. 261<br />
Pag. 262<br />
Pag. 263<br />
Pag. 264<br />
Pag. 265<br />
Pag. 265<br />
Pag. 266<br />
Pag 266<br />
Pag. 269<br />
Pag. 271<br />
Pag. 271<br />
Pag. 273<br />
Pag. 273<br />
Pag. 275
1.1. Apresentação<br />
A tese apresenta instrumentos de planejamento gerencial com métodos de<br />
avaliação e medição de componentes ambientais, que podem ser empregados na<br />
implantagão de planos de manejo de recursos naturais e de avaliação de impactos. As<br />
possíveis interações de uso de bens ecológicos são definidas, procurando-se identificar<br />
as prioridades na recuperação de áreas degradadas e em sistemas de proteção e<br />
bioprodução para o múltiplo uso sustentável.<br />
As formas de equacionamento de sistemas de múltiplo uso de recursos oceânicos<br />
podem ser estabelecidas de acordo com objetivos de intervenção planejados, definindo-<br />
se gmpos e níveis de informações interdisciplinares de conhecimento do oceano,<br />
visando a organização de sistemas sustentáveis de múltiplo uso, com aplicação de<br />
tecnologias oceânicas desenvolvidas nas áreas de prospecção e exploração de petróleo.<br />
O princípio de sustentabilidade do múltiplo uso implica no emprego de<br />
estruturas interagindo com os habitats naturais, visando intervenções locais para<br />
atendimento de demanda definida por critérios matriciais de avaliação de<br />
compatibilidade e impactos.<br />
Entre os diferentes aspectos observados para aplicação da proposta da tese em<br />
caso específico, verificou-se que a indústria do petróleo tem o domínio econômico e<br />
temológico exercendo forte impacto social e ambiental, sobre toda região da bacia de<br />
Campos. A influência sobre outras atividades tradicionais litorâneas e oceânicas como a<br />
pesca, mergulho, surfe, turismo e lazer público, levou ao questionamento da eficiência<br />
das formas de gestão, que resultou em proposta de medição e avaliação de recursos de<br />
múltiplo uso.<br />
Avaliando o processo histórico da atuação brasileira em pesquisas oceânicas,<br />
verificou-se que raros trabalhos abordam temas como a economia e manejo de recursos<br />
ambientais e biológicos, discussões sobre a forma de aplicação de gerenciamento<br />
costeiro, e principalmente, sobre a engenharia oceânica voltada a recuperação e<br />
proteção de sistemas naturais de múltiplo uso tendo como prioridade a bioprodução. As<br />
obras e construções costeiras são geralmente de emergência ou no campo da engenharia<br />
sanitária, e pouco adequadas ao desenvolvimento de atividades que dependam de<br />
qualidade ambiental, quase sempre sem levar em conta custos sociais e ambientais de<br />
extemalidades sobre outras atividades.
O processo de abordagem de problemas ambientais costeiros e fora da costa,<br />
relacionados a questão de conflitos de múltiplo uso envolvendo a indústria do petróleo,<br />
levou em consideração os aspectos da falta de informações adequadas sobre espaço<br />
oceânico, contorno e características do solo submarino para outras atividades. As<br />
referência visuais disponíveis em cartas náuticas se resumem a dados batimétricos e<br />
informações adicionais abrangentes sobre tipos de fundos em locais determinados,<br />
voltadas as condições gerais de navegação, enquanto que para indústria do petróleo as<br />
cartas são tridimensionais com características topográficas de contorno e tipos de solo.<br />
No contexto do planejamento ambiental e de avaliação de impactos é fundamental que<br />
se incluam os componentes biológicos e oceanográficos de correntes e marés,<br />
associados aos de hidrodinârnica relacionados a fatores físicos e químicos da<br />
produtividade biológica e equilíbrio ambiental.<br />
Os conflitos com barcos de pesca nesse espaço oceânico aumentaram em<br />
decorrência da concentração de cardumes em torno das estruturas de produção, sem que<br />
se tenha dado início aos estudos básicos de hidrodinâmica referentes aos efeitos da<br />
turbulência provocada pelas estruturas na produção primária, induzindo a atração de<br />
cardumes. O aumento das atividades oceânicas em alto mar, decorrentes do crescimento<br />
da indústria do petróleo, também veio a contribuir para agravar o impacto do quadro de<br />
usuários da faixa costeira com a instalação de pátios de depósitos, canteiros de obras e<br />
infra-estrutura portuária de apoio as plataformas de produção.<br />
A tese considera a proposta de organização do espaço oceânico para formação de<br />
sistemas de múltiplo uso e o desenvolvimento de sistemas de bioprodução e atividades<br />
complementares de uso dos recursos naturais, com o objetivo contribuir através de<br />
intervenções planejadas e acompanhadas de gerenciamento ambiental, costeiro e<br />
oceânico, para estudos de recuperação de áreas degradadas e proteção de áreas de risco.<br />
A metodologia proposta de equacionamento para resolução de problemas<br />
costeiros e oceânicos, com construções de proteção e bioprodução, se baseia na<br />
tecnologia e instrumentos utilizados na prospecção e produção de petróleo, para serem<br />
aplicadas no incentivo ao desenvolvimento da pesca costeira, fazendas marinhas.<br />
O primeiro capítulo apresenta uma introdução ao tema discutido na tese, que<br />
inclui as noções de sistemas naturais e integrados, e a situação decorrente da falta de<br />
linhas de pesquisas brasileiras nas áreas de economia, planejamento e gestão de recursos<br />
pesqueiros, tendo como instrumentos de avaliação e medição as pesquisas diretas de<br />
levantamento de recursos do espaço oceânico e solo submarino. São apresentados
também, temas de discussão e visão de novos paradigmas e concepções de formas<br />
avançadas de ocupação do mar para o desenvolvimento de produção e serviços. No<br />
Anexo I, dietamente relacionado a este capítulo, são apresentados os tópicos da política<br />
nacional para os recursos do mar, regulamentação e posicionamento da Organização das<br />
Nagões Unidas e de outros órgãos governamentais nacionais e estrangeiros, em relação<br />
a ocupação do solo submarino e efeitos sobre seus habitats.<br />
A base teórica da metodologia é apresentada no Capítulo 11, que inclui resumo<br />
da evolugão e situação atual de uso do mar, com ênfase nos fatores ambientais e<br />
fazendas marinhas com recifes artificiais. Também, são apresentados os componentes<br />
de organização teórica, que inclui as condições bioeconômicas da produção pesqueira e<br />
as condigões de risco e acidentes do trabalho diferenciado no mar, assim como esses<br />
fatores são estruturados na organização de sistemas complexos de múltiplo uso.<br />
Informações complementares dessa base teórica são apresentadas no Anexo 11,<br />
composto de duas partes, a primeira sobre o desenvolvimento da pesquisa submarina e<br />
sustentabilidade dos sistemas naturais, e na segunda parte, são apresentados os critérios<br />
de zoneamento utilizados no modelo proposto nesta tese.<br />
A proposta metodológica apresentada no Capítulo IíI tem como base a forma<br />
organizacional de sistemas complexos e como objetivo o planejamento de sistemas de<br />
múltiplo uso. Inclui a descrição dos componentes do planejamento e instrumentos de<br />
gestão de múltiplo uso, como critérios de avaliagão de compatibilidade de uso entre as<br />
diversas atividades e níveis de impacto em relação aos ambientes costeiros e oceânicos.<br />
Esse estudo é fundamental para que as atividades sejam classificadas de acordo com<br />
níveis de relacionamento, complementação e competitividade, visando o múltiplo uso<br />
harmônico e sustentável dos recursos.<br />
O planejamento e a gestão visam a manutenção do potencial econômico<br />
ambiental, como a bioprodução e paisagens exóticas, contribuindo para geração de<br />
novos empregos e renda, com a formação de sistemas integrados em áreas definidas de<br />
uso comum, zonas de pesca, maricultura, reservas e santuários.<br />
A avaliação e medição de recursos têm como critério a qualificação e<br />
quantificação, de forma que possa ser calculada em função de seus valores ambientais, e<br />
que corresponda a demanda de grupos de usuários interessados e dependentes de sua<br />
manutenção.<br />
Esses fatores foram aplicados em modelo locacional estabelecendo relações<br />
diretas de medição e avaliagão, entre os recursos disponíveis em cada área e o nível de
interesse de cada atividade por tipo de recurso, obtendo-se dessa forma um quadro de<br />
oferta e demanda de cada local. A aplicagão desse modelo exigiu a definição de critérios<br />
para divisão dos espaços costeiros e oceânicos, assim como métodos de medição dos<br />
seus componentes.<br />
No Capítulo IV o modelo proposto é aplicado ao litoral correspondente a área<br />
situada a sudeste do estado do Rio de Janeiro, compreendida entre a entrada da baia de<br />
Guanabara e a foz do rio Itabapoana, que será identificada no texto wmo Região<br />
Sudeste, sendo a sua localização na área central da região sudeste do país. Nas<br />
medições do modelo, o espaço é dividido em faixas oceânicas de acordo com a<br />
profùndidade e a faixa costeira, que servem de referenciais para aplicação do modelo<br />
locacional de avaliação de oferta e demanda de recursos.<br />
As conclusões da pesquisa de avaliação locacional são apresentadas no Capítulo<br />
V, com verificação de viabilidade e estimativas do volume de investimentos para<br />
implantação dos sistemas de proteção e bioprodugão sustentáveis de múltiplo uso. Em<br />
função dos resultados da aplicação do modelo, são apresentadas propostas de<br />
organização de sistemas integrados e as conclusões e sugestões de planejamento e<br />
gestão, assim como recomendações e considerações finais.<br />
1.2. Sistemas de Múltiplo Uso do Espaço Oceânico<br />
A proposta de modelo de planejamento e construção de sistemas submarinos<br />
sustentáveis de produção e melhoria de condições ambientais tem como objetivo<br />
estabelecer estratégias de proteção e recuperação de áreas degradadas ou sujeitas a<br />
intempéries, e viabilizar o aumento ou indução da produtividade natural, através do<br />
levantamento e acompanhamento de áreas estratégicas da faixa costeira e plataforma<br />
continental. Esses sistemas beneficiam as atividades de pesca comercial e esportiva,<br />
proporcionando o aumento do índice de retorno de produção com menor esforço da<br />
pesca. Servem também de base para estudos ambientais e bioeconômicos de impactos<br />
de obras em estudos de engenharia oceânica. Atualmente, como decorrência de<br />
tendências de mercado, ampliam-se as suas possibilidades com a incorporação de novas<br />
atividades recreativas e esportivas, como mergulho, surfe, caíque, windsurfe ou passeios<br />
ecológicos no contexto do setor turístico, cultural e de lazer público.<br />
Nesta proposta, a modelagem procura compreender os diversos fatores<br />
ambientais, como forma de recursos relacionados a implantagão de sistemas integrados
de produção, com estruturas de proteção e desenvolvimento de biomassa. Os modelos<br />
são definidos em projetos de implantação de estruturas artificiais, atualmente<br />
empregadas em diversas partes do mundo, como Japão, Estados Unidos, França, Itália e<br />
outros países.<br />
Os sistemas são desenvolvidos através do equacionamento de fatores<br />
econômicos ambientais no contexto da Engenharia Oceânica, para o enquadramento dos<br />
parâmetros de avaliações e medições na qualificação e quantificação de fatores<br />
ecológicos, que são relacionados a definição de critérios de gestão e planejamento de<br />
uso do espaço tridimensional oceânico, na plataforma continental e seus componentes<br />
da faixa costeira.<br />
A proposta tem como objetivo a elaboração de novas concepções de projetos<br />
voltados a preservação e produção biológica dos ambientes aquáticos, através de formas<br />
de planejamento com base estruturada em dados obtidos com métodos diretos de<br />
levantamento e pesquisa do espaço submarino. No campo de pesquisa da Engenharia<br />
Submarina a contribuição se estende a elaboração de projetos de estruturas, específicos<br />
para proteção, recuperação e estabilização de ambientes naturais; ou para indução e<br />
aumento da biomassa de consumo humano com recifes artificiais. Através dessa<br />
metodologia se pretende atender a essas novas demandas, procurando aumentar as<br />
possibilidades de aproveitamento do litoral submerso para geração de empregos,<br />
produtos e serviços.<br />
Nesta tese foram considerados os aspectos macroeconôrnicos pertinentes, a nível<br />
nacional e de impacto regional no Sudeste do Estado do Rio de Janeiro, relacionados as<br />
questões tecnológicas, a importância sócio-ambienta1 e suas relações com a pesquisa<br />
científica. Em princípio, procurando contribuir para medições (qualitativas e<br />
quantitativas) com critérios de avaliação do múltiplo uso de bens comuns, públicos, do<br />
patrimônio nacional e privado.<br />
1.3. Conceito Global de Múltiplo Uso dos Recursos Oceânicos<br />
Desde o início da década de 1970, com a declaração da zona econômica exclusiva<br />
(ZEE) de 200 milhas, o governo brasileiro vem assumindo compromissos para<br />
exploração sustentável dos seus recursos oceânicos. Posteriormente, esse compromisso<br />
se estendeu sobre toda sua faixa costeira terrestre e marítima, após a aceitação das<br />
determinações propostas na AGENDA 21 (1992), no Rio de Janeiro durante a ECO7%!.
Nesse período, medidas têm sido tomadas para o levantamento e reconhecimento<br />
dos recursos existentes na plataforma continental e a definição das políticas a serem<br />
adotadas para exploração econômica dos mares de forma sustentada. A pesca oceânica<br />
mundial em águas distantes após atingir um nível máximo de quase 8 milhões de<br />
toneladas na década de 1970, decaiu até chegar aos níveis atuais de pouco mais de 2<br />
milhões, que não ultrapassam os níveis de captura atingida na década de 1950<br />
(FAOIUN, 1999). Atualmente o crescimento da produção proveniente da aquacultura<br />
tem compensado a queda da produgão da captura oceânica (Figura I), com a China<br />
sendo responsável por cerca de 30% do total e destacando-se pelo alto nível de<br />
utilização para alimentação humana (Figura 2). O Brasil permaneceu a parte nesse<br />
processo, sem atuar de forma participativa da escalada internacional de<br />
desenvolvimento pesqueiro. A produção brasileira nessas duas décadas se manteve<br />
estável, variando em torno de 800 e 900 mil toneladas, segundo estatística estimada que<br />
representa menos de 1% da mundial.<br />
No Brasil, somente após a criação da extinta SU<strong>DE</strong>PE (Superintendência do<br />
Desenvolvimento da Pesca), em 1962, a pesca passou a ser reconhecida como uma<br />
indústria de base. Já naquela época, outras nações procuravam formas operacionais mais<br />
econômicas e eficientes para regulamentação das suas atividades de pesca doméstica e<br />
internacional.<br />
Em 1961, em conferência internacional promovida pela FAOAJN (Food a&<br />
Agriculture Organization of the United Nations), sem a participação de qualquer<br />
representação brasileira, os efeitos econômicos da regulamentação da pesca foram<br />
discutidos em alto nível de detalhamento científico e operacional (FAOIUN, 1962),<br />
usando como referências as diferentes políticas adotadas por países que já vinham<br />
implantando novas técnicas com relativo sucesso, principalmente, Japão, Canadá,<br />
Estados Unidos, Reino Unido e África do Sul.<br />
A partir de meados da década de 50, constatou-se a necessidade de se<br />
desenvolver estudos específicos para estabelecer os critérios de regulamentagão. Esses<br />
critérios passaram a incorporar diferentes níveis de detalhamento em relagão a divisão<br />
de áreas com diferentes índices de produtividade, tipos especializados de pesca, porte<br />
das embarcações, volumes de captura, tamanho médio das espécies capturadas, entre<br />
outras particularidades da regulamentação pesqueira.<br />
Passadas mais de duas décadas de especulações sobre a produtividade<br />
sustentável dos oceanos, observa-se que no Brasil pouco se avançou em relação a essas
questões. Documentos referenciais, como a publicagão: "Os Usos dos Oceanos no<br />
Século XXI", da Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos (CNIO, 1998), por<br />
exemplo, ainda não incorporam essas discussões e não apresentam orientagões mais<br />
objetivas sobre o tema.<br />
No Brasil, estudos e propostas de planejamento e gestão para utilização do<br />
espaço oceânico submerso vem ocorrendo de forma espontânea, desordenada e<br />
localizada em alguns trechos ao longo da costa brasileira, certas ilhas e arquipélagos,<br />
como Fernando de Noronha e Abrolhos. Os estudos e pesquisas científicas oceânicas<br />
têm sido direcionados de forma pontual para resolução de problemas complexos, como
no caso da exploração de hidrocarbonetos, problemas locais ao longo da costa, como o<br />
da RESEX/AC - Reserva Extrativista de Arraial do Cabo, ou aqueles decorrentes de<br />
instalações portuárias, saneamento básico e proteção emergencial, comuns a todos os<br />
estados brasileiros situados na faixa litorânea.<br />
Observa-se que o campo de pesquisas para os sistemas costeiros e oceânicos são<br />
extremamente abrangentes e merecem estudos complementares, como foi observado na<br />
contribuição da COPPE/UFRJ encomendada pela CIRM (Comissão Interministerial<br />
para os Recursos do Mar) visando a aproveitamento pleno dos recursos do mar,<br />
publicado no I1 PSRM (Plano Setorial para os Recursos do Mar) de 1989. Para essa<br />
finalidade, as universidades brasileiras, principalmente nos estados onde já se<br />
desenvolvem estudos interdisciplinares nessas áreas, poderiam incentivar a geração de<br />
trabalhos científicos orientados para essas questões. Existe uma demanda potencial por<br />
estudos de desenvolvimento de modelos e métodos de planejamento e gestão,<br />
direcionados ao espago oceânico submarino para geração de empresas, produtos e<br />
serviços.<br />
Apesar do avanço no campo da pesquisa que se abriu para a engenharia oceânica<br />
de produção estimulado pela exploração de petróleo, inclusive projetando o Brasil no<br />
cenário internacional, na área da bioprodução (proteção, pesca e aquacultura), ao<br />
contrário, a tecnologia aplicada no país continua entre as mais atrasados do mundo.<br />
8 quadro que se apresenta é de um grande desafio. Após quase quatro décadas<br />
de comprovação de teses e estudos sobre a utilização de recursos oceânicos de<br />
bioprodução, a presença brasileira no cenário científico internacional no setor ainda é<br />
muito pequena. Faltou participação brasileira na conferência sobre '%feitos Econômicos<br />
da Regulamentação Pesqueira" promovida pela Organização das Nações Unidas sobre<br />
gestão e manejo de recursos bioecômicos @AO, 1962) e uma década depois na<br />
"Conferência Técnica sobre Gerenciamento Pesqueiro e Desenvolvimento" do Fisheries<br />
Research Buurd of Canada (vÁRIos, 1973), o que dificulta posicionamento decisório<br />
no cenário mundial. Neste evento foram apresentados estudos e teses sobre as<br />
alternativas de gerenciamento, gestão e ordenamento, para exploração sustentável dos<br />
recursos pesqueiros sob as diferentes formas artesanais e industriais. O primeiro<br />
trabalho (talvez o único) sobre o assunto só foi publicado décadas depois "<br />
Fundamentos da Administração Pesqueira" (PAIVA, 1986), inclui tópicos de<br />
regulamentação, bases biológicas e econômicas, e os princípios de gerenciamento<br />
pesqueiro
O Estado do Rio de Janeiro, com longa tradição em atividades nos setores naval<br />
e pesqueiro, ainda carece de cursos universitários com linhas de pesquisa e matérias<br />
curriculares voltadas a engenharia de bioprodução aquática, economia e administração<br />
dos recursos costeiros e oceânicos, ou mesmo as dedicadas a biologia pesqueira. A falta<br />
de tradição nestas linhas fkndamentais de pesquisa e principalmente a pouca integração<br />
desses estudos, torna a situa@ío ainda mais complexa para o desenvolvimento da<br />
engenharia oceânica voltada a utilização plena do espago submarino. A situação sugere<br />
o equacionamento de modelos e sistemas que possam criar formas adequadas para<br />
integrar essas várias tecnologias, com propostas viáveis de ocupagão e utilização<br />
sustentável do espaço tridimensional oceânico.<br />
Observa-se que pouco contribui para o aprimoramento sócio-econômico<br />
nacional como um todo, gerador de empregos, produtos e serviços, a aplicação de um<br />
modelo de desenvolvimento que teve sua política voltada somente para setores<br />
estratégicos, cujos critérios de méritos eram indicadores de retornos financeiros para as<br />
grandes indústrias e o Estado. Observa-se pela existência de paradoxos, como os<br />
privilégios da política econômica, de uma ocupação oceânica restrita a indústria de<br />
hidrocarbonetos, que prejudicou de forma indireta o desenvolvimento de outros setores<br />
de produção e servigos, como a pesca, aquacultura, turismo e lazer.<br />
Enquanto a utilização do potencial pesqueiro, turístico e cultural costeiro for<br />
conduzido por uma aparente política de autogestão operacional e expontânea, os valores<br />
da economia oceânica ambiental permanecerão subestimados. A situação na Região<br />
Sudeste compreendendo o cabo Frio, bacia de Campos e adjacências, carece de<br />
embasamento técnico e científico em diferentes áreas de pesquisa, que quando<br />
suplantado poderá gerar mais empregos, produtos e serviços, contribuindo para<br />
minimizar os conflitos locais e regionais, como no caso da RESEX/AC de Arraial do<br />
Cabo (HARGREAVES e PIMENTA, 1999"). A declaração da Reserva Extrativista vem<br />
sendo contestada por grupos de pescadores, inclusive tradicionais, e principalmente por<br />
diferentes grupos de mergulhadores e operadoras de mergulho.<br />
Uma nova política pode ser conduzida de forma mais abrangente, em relação aos<br />
campos de pesquisa para conceituação ambiental e ecológica dirigidas a novas práticas<br />
de intervenção, que propiciem resultados mais eficientes e bioprodução comercial. Este<br />
tipo de proposta pode contribuir com parâmetros econômicos ambientais, capazes de<br />
orientar medições e métodos de Engenharia Oceânica voltados ao múltiplo uso e na<br />
geração de sistemas, processos e métodos, de forma eficiente, segura e sustentável.
1.4. Abrangsncia do Tema de Pesquisa<br />
A experiência acumulada em todo mundo demonstra que a eficiência do<br />
planejamento na gestão do uso dos recursos costeiros e oceânicos dependem do volume<br />
de conhecimento sobre esses sistemas naturais, que são gerados através de tecnologia<br />
específica e qualificação profissional. A situação atual de grande precariedade que se<br />
encontra o setor pesqueiro nacional por exemplo, requer primeiramente uma revisão do<br />
que existe de informações pertinentes sobre o espaço marinho (costeiro e oceânico) de<br />
estudo, para que se possa estabelecer os parâmetros e condições de produtividade, assim<br />
como seus diversos tipos de utilização, complementares ou antagônicas.<br />
A demanda reprimida por processos e métodos de múltiplo uso de recursos<br />
costeiros e oceânicos identificada na Região Sudeste do Estado do Rio de Janeiro por<br />
exemplo, pode estar relacionada a falta de estudos no campo do gerenciamento costeiro,<br />
voltado a gestão e manejo de sistemas naturais costeiros e oceânicos (HARGREAVES e<br />
PIMENTA, 199gb), que será analisado através do modelo de locação empregado na<br />
formatação do sistema proposto.<br />
A importância desses estudos e pesquisas do espaço oceânico, no campo do<br />
desenvolvimento de sistemas integrados de bioprodução e múltiplo uso, ficou<br />
evidenciada em análise do modelo de desenvolvimento do setor pesqueiro no Japão<br />
(HARGREAVES,1979). Observou-se neste trabalho a importância de um embasamento<br />
interdisciplinar técnico e científico no campo da pesquisa submarina, como instrumento<br />
de decisão para formas de zoneamento e critérios de ocupação dos espaços costeiros<br />
terrestres e aquáticos da bioprodução, em grande escala industrial.<br />
A demanda interdisciplinar de pesquisas oceânicas, pode ser identificada em<br />
diferentes cenários de sistemas complexos de múltiplo uso, como no litoral sudeste do<br />
Estado do Rio de Janeiro que inclui a pesca, produção de petróleo, turismo e lazer,<br />
diante da necessidade de se organizar as informações e de definição da atuação de cada<br />
atividade. Nesse contexto interdisciplinar, a definição do perfil de potencialidades da<br />
oferta de recursos e meios de produção, podem ser direcionados as suas possíveis<br />
demandas, considerando-se também os aspectos de viabilidade, observando-se as<br />
externalidades e interesses antagônicos dos diversos usuários.<br />
Devido a grande abrangência do tema, observou-se a dificuldade de se formar<br />
uma rede interdisciplinar de conhecimentos, capaz de atender todas as necessidades de<br />
identificação de quadros de demanda e oferta, que por sua vez precisam ser
equacionados em planos de pesquisa diferenciados para estes diferentes objetivos,<br />
relativos ao embasamento científico de cada ciência no contexto interdisciplinar.<br />
Um dos principais problemas identificados é a falta de um mapeamento espacial<br />
das características e situação ecológica dos ambientes aquáticos, que facilitaria a<br />
proposição de medidas para contemplar o aumento da produtividade pesqueira e a<br />
identificação de cenários propícios ao desenvolvimento de atividades complementares<br />
direcionadas a geração de mais emprego e renda, como turismo, esporte e lazer na faixa<br />
litorânea. Para isso é necessário a identificação de componentes do espaço submarino<br />
definindo particularidades e fatores operacionais de gerenciamento costeiro e oceânico,<br />
voltados a bioprodução, incluindo ajustes nos seus agregados econômicos<br />
complementares, que são no caso brasileiro e de forma mais complexa no caso do<br />
Estado do Rio de Janeiro, um tema de pesquisa complexo e interdisciplinar.<br />
No Brasil, sente-se ainda as perdas por falta de maior empenho em se<br />
desenvolver pesquisas submarinas aplicadas a utilização do fundo do mar, com exceção<br />
do petróleo e gás. Outros países como Inglaterra, Suécia e Alemanha, mesmo com<br />
condições climáticas menos propícias para atividade de mergulho, já vinham realizando<br />
pesquisas submarinas para levantamento do potencial biológico e suas repercussões nas<br />
ações de embarcações e dos equipamentos de pesca.<br />
Cabe ressaltar que já em 1958 mais de duzentos cientistas desses países acima e<br />
alguns outros, entre os quais Itália, França, Espanha, México e até a Áustria que é um<br />
país interior, reunidos no Scrips Institution em La Jolla na Califórnia, concluíram que as<br />
pesquisas biológicas marinhas em seu amplo aspecto qualitativo e quantitativo, só<br />
chegariam a conclusões realistas e respostas eficientes se fossem conduzidas através da<br />
pesquisa submarina. Esses trabalhos foram divulgados na edição de BUZZATI-<br />
TRAVERSO (1958), incluindo os maiores especialistas do mundo na época e sem a<br />
participação brasileira. A situação dessa linha de pesquisa tem evoluído muito pouco,<br />
como pode ser observado na proposta de implantação dos projeto do REVIZEE de<br />
1995, onde a pesquisa submarina é considerada apenas para casos de levantamento<br />
bentônico.<br />
No começo da década de 70, a pesca no Brasil vivia o paraíso dos incentivos<br />
fiscais. As pesquisa e estudos dessa época eram dirigidos somente para levantamentos<br />
estatísticos, capacidade biológica dos estoques e novos recursos, promovendo<br />
principalmente a pesca de arrasto. Esta tendência estava em completo desacordo com o<br />
resto do mundo desenvolvido, que já vinha reprimindo duramente a pesca de arrasto,
mesmo antes da Conferência da FAO de 1961 (FAOAJN, 1962), quando ela foi<br />
definitivamente condenada para as zonas costeiras.<br />
SA&KP.<strong>DE</strong> COMUNICA~~O<br />
E ANDO <strong>DE</strong>OPFRA~~~ES<br />
MSE <strong>DE</strong> I~IOPRWL~(%O<br />
UNmA<strong>DE</strong><strong>DE</strong> C O ! O<br />
figura 3: Projeto de Gerenciamento Costeiro Integrado MARINOVATIQN<br />
Fonte: Secretaria de Estado da Pesca/ Ministéiio da Agricultura, Pesca e Florestas1 Governo do Japão<br />
Nesse período o Japão começou a desenvolver os projetos governamentais de<br />
incentivo a construção de áreas de proteção e pesca com recifes artificiais em grande<br />
escala com estruturas de concreto, aço e outros materiais, que atingiu as suas formas<br />
atuais mais complexas através do projeto MARTNOVATION Concept<br />
(NORINSUISANSHO,1985), promovendo a ocupação integrada do solo oceânico<br />
através do múltiplo uso (Figura 1).
A constatação desse cenário propício a aplicações de técnicas de Engenharia<br />
Submarina de Estruturas, demonstra a necessidade de novas propostas de múltiplo uso,<br />
de métodos de aproveitamento de recursos e de aparelhamento adequado a ocupagão do<br />
solo submarino. As ações para serem integradas dependem por sua vez, do<br />
desenvolvimento do conjunto de fatores que influenciam de forma direta na eficiência<br />
dos sistemas de múltiplo uso; como infraestrutura de comercialização, novos modelos<br />
de embarcações e métodos de bioprodução pesqueira mais sofisticados, com técnicas<br />
mais avançadas, substituindo métodos primitivos e predatórios como os da pesca de<br />
arrasto.<br />
Nesse campo de estudos da sustentabilidade, as medidas de controle ambiental<br />
da produção são recentes, como a qualificação da série ISO 14.000, com novos<br />
processos e métodos de proteção e interação ecológica, que estão sendo desenvolvidos<br />
para adequações de tipologias regionais caracterizadas pelas suas condições<br />
oceanográficas, climáticas, biológicas e sócio-econômicas. Além do Japão onde<br />
grandes grupos empresariais investem em maricultura, empresas como a StoZt Ogshore<br />
investiram nesse setor, com plantas de aquacultura na Europa e Ásia, com o emprego<br />
de grandes estruturas oceânicas e em tanques nas áreas costeiras terrestres.<br />
O objetivo da economia ambiental nesta ótica diferenciada de bioprodução<br />
interativa com os sistemas naturais, demandam a orientação de sistemas operacionais<br />
que observem os aspectos práticos dos temas discutidos no fórum internacional<br />
estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, através do publicado na Agenda 21. As<br />
propostas de gerenciamento costeiro e oceânico dispõem sobre problemas ambientais<br />
crônicos que continuam ocorrendo, como os derrame de óleo na Baía de Guanabara, da<br />
mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas, do emissário submarino de esgoto<br />
de Ipanema; e das discussões sobre problemas crônicos, como o encolhimento das<br />
praias de Copacabana, Arpoador e Leblon, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro e<br />
mais recentemente sobre o emissário da Barra da Tijuca, também sem estação de<br />
tratamento adequada.<br />
A gestão desses sistemas sanitários parece comprometida, considerando-se o<br />
fato das redes de esgoto se confUndirem com as pluviais. Esses problemas nos sistemas<br />
costeiros são de interferência negativa, afetando diretamente as zonas de marés e<br />
estuários, onde ocorrem as inúmeras interações primárias de bioprodução e de uso<br />
público, com conseqüentes efeitos sociais e perdas econômicas.
O equacionamento desses problemas localizados, em décadas anteriores na baía<br />
de Guanabara por exemplo, eram menos questionados pela opinião pública, que tinham<br />
outras opções de praias do Leme ao Leblon, agora são reclamados por uma grande parte<br />
da população com poucas alternativas; como os jogadores de voleibol ou fiescobol e<br />
centenas de surfistas disputando os melhores picos de ondas. Nos mares a situação é<br />
inversa, as ilhas e arquipélagos são subaproveitadas e pouco de conhece do seu<br />
potencial. Nos Estados Unidos por exemplo, o Coastal Management Act é de 1972,<br />
enquanto no Brasil o assunto só começou a ser discutido após a publicação da CIRM do<br />
Programa de Gerenciamento Costeiro, em 1987.<br />
Esses fatores demandam da engenharia oceânica bases de avaliagão para<br />
viabilizagão de novos projetos de uso com fatores relacionados a economia ambiental.<br />
A principal discussão atual começa com a atribuição de valores aos bens, segundo as<br />
óticas da economia financeira em contraste com a economia ecológica, que por sua vez<br />
se estende ao processo decisório da forma de aplicação de técnicas de engenharia<br />
costeira e oceânica.<br />
Nesse contexto, se pode contribuir em relação a formas de valoração (qualitativa<br />
e quantitativa) dos condicionantes ambientais e biológicos, abrindo o espaço para outras<br />
discussões, como a caracterização de processos e métodos diferenciados de intervenqões<br />
no meio aquático, como no campo da engenharia oceânica, incorporando determinantes<br />
ambientais fisicos e biológicos que contribuam para o aumento da bioprodução. Uma<br />
área interdisciplinar consideravelmente fértil de interações bioeconômicas, em se<br />
considerando as interações hidrodinâmicas de efeitos das dimensões de estruturas como<br />
emissários e complexos petrolíferos, associados a outros fatores relacionados ao volume<br />
de biomassa que podem de alguma forma serem quantificados e qualificados.<br />
Cabe assim uma leitura de interpretação sobre esses fatores de avaliação<br />
econômica dos impactos ambientais, na formatação de projetos de engenharia,<br />
atribuição de prioridades, critérios para medições, adequações de uso segundo vocação<br />
e sustentabilidade. Esses fatores sugerem a busca de objetivos em sua concepção, que<br />
percorra além de solugões aparentes de baixo custo como tem sido preconizado, outros<br />
componentes que devem ser agregados na busca de soluções abrangentes de consenso,<br />
que atenda a demanda de um maior numero de usuários e sustentabilidade dos sistemas<br />
produtivos naturais.
1.5. Engenharia Oceânica no Múltiplo Uso do Espaço Oceânico<br />
Dentre as novas tecnologias de produção desenvolvidas no Brasil, a de<br />
exploração do espaço submarino vem se destacando no cenário internacional, pelo<br />
pioneirismo e eficiência na exploração de hidrocarbonetos. Enquanto ao longo da costa,<br />
a engenharia sanitária tem sido alvo constante de severas críticas, assim como a<br />
atividade pesqueira predatória, com métodos primitivos de arrasto.<br />
O desenvolvimento desse campo da Engenharia Oceânica se deve a conjugação<br />
de esforços, decorrente da formação de redes de conhecimento, direcionadas ao<br />
atendimento de demandas específicas, como a busca de petróleo em águas profiindas.<br />
Dessa forma, foi possível a integração de áreas científicas, gerando novo paradigma na<br />
ocupação da zona oceânica submersa. Entretanto, a aplicação desse conhecimento<br />
diferenciado e altamente especializado ficou restrito a prospecção, exploração e<br />
produção de dois produtos vitais, o petróleo e o gás natural.<br />
Este considerável acervo tecnológico forma um amplo cenário, tipicamente<br />
interdisciplinar, congregando informações básicas necessárias a organização de outras<br />
diversas atividades, com as de oceanografia, logística e planejamento oceânico, que no<br />
caso da exploração de petróleo foram direcionados a geração e viabilização de sistemas<br />
complexos, equacionando e integrando as diversas disciplinas que compõem a<br />
Engenharia Submarina.<br />
A identificação, caracterização e organização integrada dessas áreas de<br />
conhecimento permitem a adequação do planejamento de múltiplo uso do espaço<br />
costeiro-oceânico, podendo ser direcionado tanto para proteção ou recuperação de<br />
recursos naturais, em zonas estratégicas públicas ou privadas, como na geração de<br />
sistemas de bioprodugão extensivos e intensivos. A interdisciplinaridade propicia novas<br />
áreas de estudos e pesquisas, podendo atender ao aumento da demanda por serviços<br />
especializados para o múltiplo uso sustentável dos recursos do espaço oceânico,<br />
propiciando novas possibilidades de geração de empregos e renda.<br />
1.6. Identificação de Problemas de Engenharia Decorrentes do Múltiplo Uso<br />
O Estado do Rio de Janeiro é um exemplo de múltiplo uso a ser analisado.<br />
Possui uma extensa frente litorânea com características naturais singulares e complexos<br />
industriais em diferentes locais ao longo da sua costa. Esses fatores formam um amplo<br />
cenário para a identificação dos campos de intervenção da Engenharia Oceânica.
Num primeiro plano, os problemas de múltiplo uso tem sido observados e<br />
salientados com a participação da opinião pública, em discussões que levam as<br />
instituições governamentais a efetuarem intervenções, como a rede de esgotos em torno<br />
da Lagoa Rodrigo de Freitas na cidade do Rio de Janeiro. Enquanto a pesca neste<br />
mesmo caso ainda foi vista como uma atividade primitiva, fora da realidade do que<br />
pode ser desenvolvido no campo da bioprodução.<br />
Em outubro de 1998, a FAO/UN (Food and Agrimlture Organization of the<br />
United Nations) em decorrência dos efeitos dessa deterioração dos recursos litorâneos<br />
de forma global, apontou a necessidade de aprimoramento tecnológico integrado em<br />
etapas, referentes as novas formas de planejamento e organização dos espaços costeiros<br />
e oceânicos para bioprodução, englobando agricultura, florestas e pesca, através de uma<br />
nova política ambiental de planejamento e gestão o ICAM (Integrated Coastal Area<br />
Managernent). Sua função é encontrar meios de balancear a competitividade da<br />
demanda decorrente do múltiplo uso, através de planos de manejo que otimizem os<br />
benefícios de forma sustentável (FAO/UN, 1998). Esta publicação foi muito importante<br />
para reforçar o trabalho de pesquisa de tese que vinha sendo desenvolvida neste mesmo<br />
sentido.<br />
O fato é que no Brasil acompanhou-se um processo especulativo nas últimas<br />
três décadas, wm o aumento da demanda por áreas privilegiadas e diferentes interesses,<br />
muitas vezes antagônicos, decorrente de níveis de impactos diferenciados sobre recursos<br />
naturais, principalmente decorrentes de atividades de bioprodução, esporte, lazer e<br />
recreação. Tanto as atividades industriais como as de turismo e estações de veraneio,<br />
promoveram a construgão civil ao longo da costa e no entorno de corpos aquáticos,<br />
provocando sérios impactos em diferentes níveis de degradação. Principalmente devido<br />
a notória e questionada falta de planejamento e saneamento básico, levantando questões<br />
de atribuições e responsabilidades, relativas a competência e capacidade de gestão<br />
ambiental dos diferentes órgãos públicos, em relação as formas de intervenção da<br />
engenharia aplicada em cada situação.<br />
O tema se torna mais complexo quando observados outros fatores, como o<br />
exemplo da situação do setor industrial do Estado do Rio de Janeiro, devido a suas<br />
relações com a política econômica nacional. Embora fora do escopo da tese deve-se<br />
citar o quadro de crise da construção naval e do transporte marítimo, problema agravado<br />
com navios embaraçados em questões jurídicas que se deterioram ocupando as poucas
áreas de fundeio disponíveis, gerando outros problemas como os ambientais e de<br />
criminalidade.<br />
O principal problema identificado em ambos os caso é o da ocupação dessas<br />
áreas privilegiadas da orla e de canais de navegação, com grandes embarcações e navios<br />
já em alto grau de degradação, cujos custos de remoção e destino mereceriam estudos<br />
especiais, respaldados por ações governamentais de gerenciamento costeiro, como as de<br />
transformação dessas sucatas em pesqueiros e atrativos turísticos, atendendo a demanda<br />
decorrente do aumento do número de operadoras de mergulho ao longo do litoral<br />
fluminense. A demanda dessas áreas litorâneas pode ser avaliada. Segundo estudo da<br />
TURTSRIO (1990) por exemplo, pode-se estimar que há somente três mil vagas<br />
disponíveis para embarcações de esporte e lazer, nos principais pólos no litoral sul do<br />
Estado, incluindo cabo Frio e cabo Búzios, para atender uma demanda que pode chegar<br />
atualmente a 16 mil embarcações.<br />
Enquanto os setores envolvidos na produção de hidrocarbonetos, destacavam-<br />
se no cenário tecnológico internacional, a indústria pesqueira (bioprodução)<br />
acompanhou o acentuado declínio do setor marítimo, incluindo os principais fabricantes<br />
de lanchas e embarcações de lazer. Durante o 1dfh Regular Meeting do ICCAT<br />
(Intemational Commission for the Conserv&-on of Atlantic Tunas) em novembro de<br />
1999 no Rio de Janeiro, os empresários brasileiros foram criticadas em diferentes<br />
aspectos quanto a forma como a pesca é conduzida, com embarcações arrendadas de<br />
várias procedências, com o termo 'bandeira de conveniência yy<br />
, sugerindo a necessidade<br />
de maiores estudos sobre as possibilidades de construção de uma frota nacional e<br />
avaliação do sistema produtivo.<br />
Durante a pesquisa de tese, identificou-se a tendência de alguns países como<br />
Japão, Estados Unidos e França, em relação a ocupação do espaço tridimensional<br />
submarino nas zonas próximas da costa, voltada a bioprodução controlável de forma<br />
extensiva e semi-intensiva com métodos de pesca mais seletivos, em contraste a<br />
métodos ativos predatórios. A pesca de arrasto em águas rasas vem sendo banida dos<br />
mares costeiros e interiores de muitos países produtores como Japão desde a década de<br />
1950 (OKA et al. 1962). Na década de 1930, a frota de barcos de arrasto do Mar<br />
Interior do Japão foi afiindada para formar recifes artificiais, após coditos e colapso da<br />
produção (GOTO, 1935), como foi observado por SHEEHY (1982), num extenso<br />
trabalho de tradução das principais publicações japonesas sobre a construção de<br />
fazendas marinhas com recifes artificias.
As relações de convívio entre atividades econômicas com escalas defasadas de<br />
nivelarnento operacional e tecnológico, sob diversos e complexos sistemas de trabalho,<br />
respaldo financeiro e jurídico, tem conduzido a faixa costeira e oceânica nacional a<br />
uma utilização desordenada, potencializando sérios riscos no trabalho e para o ambiente<br />
natural, que precisam ser equacionadas em relação as demandas de produção e serviços.<br />
A visualização do espaço submarino disposto em cartas de bioprodução e<br />
outras atividades complementares são encontradas em poucos países, como Japão,<br />
Estados Unidos, França e Itália, que as utilizam na exploração de fazendas marinhas,<br />
pesca esportiva e turismo submarino. Com o estabelecimento do parque industrial da<br />
Bacia de Campos, observou-se que na região das plataformas de produgão a piscosidade<br />
aumentou de forma bastante significativa, merecendo estudos mais aprofundados desses<br />
efeitos para geragão de empreendimentos, buscando formas de adequação para esses<br />
sistemas de bioprodução mais eficientes e econômicos.<br />
No Golfo do México, a produção pesqueira que no início da década de 1950<br />
era menos de 200 mil toneladas, aumentou consideravelmente com a instalação das<br />
plataformas de petróleo, chegando a mais de 600 mil toneladas em 1970, gerando<br />
novos paradigmas sobre o impacto ambienta1 das estruturas oceânicas (RIBAKOFF et<br />
al., 1974), que alterando as características naturais de uma vasta região, provocou o<br />
aumento da biomassa de consumo com alto valor comercial. Nesse trabalho são<br />
apresentados grandes complexos de estruturas de bioprodução oceânica, um novo<br />
desafio para as engenharias oceânica e submarina.<br />
A situação do setor pesqueiro, com algumas exceções, é de muita precariedade<br />
e condições de risco (NEVES E FREITAS, 1996), o que de certa forma também vem<br />
sendo observado nas operações ofshore em plataformas de exploração de petróleo<br />
(HARGREAVES et al., 1997). A evidência de distanciamento das relações de<br />
planejamento de produção e operação, tem suscitado várias questões envolvendo a<br />
eficiência destas operações, visto que as áreas de planejamento e projeto, baseados em<br />
parâmetros usuais de trabalho em terra, ou na superfície, tem se distanciado da realidade<br />
das agões d ias no espaço submarino.<br />
A tese em questão visa contribuir neste tema, baseada nos recursos científicos<br />
disponíveis atualmente, podendo visualizar melhor o aproveitamento integral do litoral,<br />
buscando promover o múltiplo uso do espaço tridimensional submarino de forma segura<br />
e sustentável.
1.7. Equacionamento do Múltiplo Uso do Espaço Oceânico<br />
O trabalho de pesquisa busca inicialmente a temática de como proceder a<br />
divisão dos espaços costeiros e oceânicos, tendo como base os recursos disponíveis<br />
para bioprodução e atividades complementares como turismo e lazer, buscando a<br />
definição de critérios para o múltiplo uso.<br />
No trabalho de pesquisa de tese foram identificados alguns critérios<br />
diferenciados de zoneamento e gestão de recursos direcionados para determinadas<br />
atividades, incluindo: o macrozoneamento da pesca de atum (PANA, 1982), as<br />
referentes a demarcação de áreas de reservas nacionais no caso de Abrolhos (BANIA,<br />
1991); e a questionada demarcação de múltiplo uso em Arraial do Cabo<br />
(HARGREAVES e PIMENTA, 19997, além de exemplos de outros países.<br />
Nesses casos, observou-se a questão da distribuição equilibrada do bem<br />
público entre os diversos usuários, sob a ótica da disponibilidade ou restrição decorrente<br />
das formas de aproveitamento, abrindo um amplo campo de discussão sobre sistemas de<br />
gestão e sustentabilidade. Dentro deste amplo cenário, esta pesquisa visa contribuir<br />
com as possibilidades de gestão em planos de manejo que compreendem a aplicação de<br />
estruturas submarinas como forma de proteção de sistemas naturais, recuperação e<br />
regeneragão de áreas degradadas. Os planos visam o desenvolvimento de sistemas de<br />
indução de biomassa, atuando diretamente na produção sob formas extensivas ou semi-<br />
intensiva de aquacultura em fazendas marinhas.<br />
Podemos considerar o Brasil como um país pioneiro em relaqão ao zoneamento<br />
costeiro direcionado ao aproveitamento de um recurso público, no caso a bioprodução,<br />
com a implantação do sistema zoogeográfico, que a partir de 1910 tendo como base<br />
terrestre as Colônias de Pesca, dividiu o litoral brasileiro em zonas demarcadas.<br />
Posteriormente surgiram outras divisões para áreas oceânicas, visando o manejo de<br />
estoques, períodos proibidos de reprodugão e áreas definidas para esforgo de pesca,<br />
através da extinta SU<strong>DE</strong>PE e posteriormente pelo DAMA .<br />
Em decorrência da discussões sobre as zonas econômicas exclusivas no âmbito<br />
internacional, que além da pesca passaram a incluir os recursos do solo e subsolo, o<br />
governo brasileiro acompanhando a tendência mundial das discussões no âmbito da<br />
ONU, buscou uma política mais abrangente para incorporar o espaço oceânico na<br />
realidade sócio-econômica nacional. Essa demanda gerou o estudo da COPPETEC em<br />
1986, incorporado ao 11 PSRM (Plano Setorial para os Recursos do Mar) que identificou<br />
cinco tópicos para o enquadramento dos recursos oceânicos: os minerais, os energéticos,
os alimentares, a conservação dos recursos vivos e a utilização plena do mar (CIRM,<br />
1986).<br />
Nesse sentido pode-se caracterizar a intenção governamental em promover o<br />
aprofundamento de estudos sobre a utilização plena do espaço subaquático, citando a<br />
necessidade de se integrar os recursos oceânicos a realidade sócio-econômica brasileira,<br />
ou ao patrimônio nacional.<br />
Os planos governamentais posteriores voltados ao gerenciamento costeiro, como o<br />
mais recente PNGC Ií - Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II (CIRhl, 1997),<br />
passaram a tratar as questões costeiras de uma forma bem mais abrangente, com<br />
sugestões e recomendações, que incluíam também os recursos paisagísticos,<br />
arqueológicos, culturais e do patrimônio ecológico, que por suas características<br />
requerem planos adequados de gestão, manejo e manutenção. Entretanto não houve<br />
referências diretas ao zoneamento ou parcelamento de espaços costeiros oceânicos, e<br />
segundo a Procuradoria do IBAMA (NüNES, 1997), as propostas nesse sentido<br />
carecem de maiores detalhamentos sobre questões jurídicas e esclarecimentos sobre a<br />
definição de bens públicos e patrimônio nacional.<br />
Esses componentes, quando relacionados a interdisciplinaridade, servem para<br />
estabelecer parâmetros básicos dos estudos de novas técnicas de planejamento e<br />
gerenciamento, voltados à utilização de recursos em sistemas de múltiplo uso dos<br />
espaços costeiros e oceânicos, demandando a elaboração de modelos operacionais de<br />
bioprodução. Os modelos em suas diferentes etapas do planejamento a execução, tem<br />
enfoques diferenciados, como os voltados aos aspectos sócio-econômicos da<br />
distribuição dos recursos públicos e os do equilíbrio entre produtividade e segurança,<br />
buscando garantir uma maior eficiência econômica e sustentabilidade.<br />
A discussão do tema é dirigida a verificação de uma nova concepção de<br />
planejamento a partir da visão submarina de componentes oceânicos, das relações da<br />
faixa costeira e marinha como um espaço contínuo da zona terrestre, vista a partir da<br />
plataforma submarina. A proposta visa integrar essa região submersa a realidade sócio-<br />
econômica brasileira.<br />
As linhas de pesquisa propostas são pioneiras em muitos aspectos, tanto pela<br />
situação geográfica do sudeste do Estado do Rio, quanto pelas características<br />
específicas e singulares da região do cabo Frio, onde se situa a Bacia de Campos,<br />
devido as tecnologias desenvolvidas para produção de petróleo, que podem ser<br />
aplicadas também na bioprodução. O trabalho contempla, no âmbito gerencial, a
elaboração de modelos de planejamento e gestão que utilizam meios de construções<br />
submarinas costeiras e oceiinicas, destinadas aos objetivos dos sistemas sustentáveis de<br />
recuperação, proteção e aumento da biomassa.<br />
Estudos como os levantamentos da ictiofauna da plataforma continental na<br />
região do cabo Frio, já apresentam fortes indícios do efeito predatório da pesca de<br />
arrasto (FAGUN<strong>DE</strong>S-NETTO E GAELZER, 1991), que podem ser contornado com a<br />
construção de recifes artificiais e estruturas flutuantes concentradoras de peixes<br />
pelágicos, como alternativa para métodos menos predatórios<br />
Enquanto todo esse potencial pesqueiro, turístico e cultural costeiro oceânico<br />
for conduzido sem uma política efetiva de gestão, os valores de sustentabilidade da<br />
economia oceânica e ambienta1 permanecerão subestimados. Uma política mais<br />
abrangente deve ser proposta buscando preservar os sistemas naturais, ao mesmo tempo<br />
que se amplia o volume de biomassa para a bioprodução.<br />
Obs.: Informações Complementares no ANEXO I
2.1. Evoliiqão Tecnolíigica no Uso do Espaqo Oceinico<br />
Em épocas remotas o mar era explorado basicamente para alimentação e depois do<br />
Século X V passou a ser usado como via de locomoção em longas distâncias. A partir<br />
da metade do Século XX, com os avanços tecnológicos decorrentes da II Guerra<br />
Mundial, os aviões foram substituindo os navios no transporte de passageiros e carga.<br />
Devido também a esse desenvolvimento tecnológico, os navios passaram a ser<br />
dimensionados em grandes escalas para o transporte de cargas pesadas, grãos, minérios,<br />
combustíveis, petróleo ou para cruzeiros de turismo.<br />
As técnicas de pesca não tiveram muitas alterações desde o descobrimento do novo<br />
mundo, embora no Brasil a atividade parece ter tido maior importância no período<br />
colonial, como fonte de alimentos e de energia proveniente do óleo de baleia. Na<br />
década de 1920 começaram a surgir as grandes traineiras com redes de cerco e as<br />
primeiras leis de restrição à pesca de arrasto e a proibição e repressão da pesca<br />
predatória. A partir da década de 1930, começaram a operar as embarcações de pesca<br />
construídas e equipadas com tecnologias mais avanpdas, muitas ainda em operação.<br />
Atualmente a tecnologia de pesca oceânica está estagnada, as empresas operam<br />
com embarcações arrendadas e tripulação de maioria estrangeira. Como foi observado<br />
no capítulo anterior falta uma política de resultados, o setor carece de planos de gestão<br />
pesqueira eficientes, de gerenciamento costeiro e oceânico, que venha favorecer a<br />
geração de produtos, serviços e renda, de forma segura e sustentável.<br />
Neste capítulo se procura descrever a evolução e o estágio em que se encontram as<br />
pesquisas, necessárias a organização dos sistemas de aproveitamento integrado do<br />
espaço ocehico. São destacados os principais componentes da base científica da cadeia<br />
de conhecimento, que é formada por grupos de pesquisas interdisciplinares, necessárias<br />
a avaliação das possibilidades de múltiplo uso sustentável do espaço costeiro e oceânico<br />
da Região Sudeste do Estado do Rio de Janeiro. Com o resultado dessa apresentação se<br />
pretende contribuir para abrir novas possibilidades de pesquisas e alternativas de gestão<br />
ambiental, através de planos de manejo de sistemas naturais costeiros e oceânicos, com<br />
emprego de estruturas submarinas de proteção e indução da bioprodução.
2.1.1. Situaqiio de Uso do Mar<br />
As possíveis formas de utilização dos recursos do mar no Brasil só passaram a ser<br />
estudas e analisadas de forma "integrada e interdisciplinar, plenária ou holística", como<br />
vem sendo preconizado pela CIRM - Comissão hterministerial dos Recursos do Mar,<br />
após a sua criação, através do Decreto No. 74.657 de 12 de setembro de 1974. Em<br />
decosrência de sua finalidade, ou seja coordenar a política nacional de recursos do mar,<br />
surgiu a necessidade de se conduzir um amplo levantamento das possibilidades de usos<br />
do espaço oceânico, como base para permanente atualização e aprofundamento do<br />
conhecimento sobre sua potencialidade, através do desenvolvimento científico e<br />
tecnológico. Para atender essa demanda foi elaborado um estudo (MOIUZEU DA<br />
SILVA, 1978) de grande amplitude das diferentes possibilidades de aproveitamento<br />
sócio-econômico dos recursos do mar, assim como sobre as perspectivas para o seu<br />
aproveitamento, Este trabalho intitulado "Usos do Mar" pode ser considerado como a<br />
principal referência brasileira sobre o assunto, um guia completo que se abriu para<br />
discussões sobre as várias formas de aproveitamento dos recursos oceânicos.<br />
Passadas mais de duas décadas de sua publicação, somente as possibilidades<br />
brasileiras de desenvolvimento da tecnologia da indústria do petróleo foram alcançadas,<br />
enquanto as soluções para os outros temas abordados, que incluem: "o mar como fonte<br />
de alimentos", "o oceano como fonte de minerais", "as energias do mar", "o transporte<br />
marítimo", e "o mar como fonte de medicamentos", ainda precisam apresentar um<br />
desenvolvimento significativo.<br />
Quanto ao uso do espaço oceânico para bioprodução, após a instalação do Projeto<br />
Cabo Frio no Município de Arraial do Cabo, conduziu-se o experimento pioneiro de<br />
aproveitamento de águas profirndas para indução da cadeia alimentar e formas de<br />
maricultura (MOREWA DA SILVA, 1969). Ao final da década de 1970 diferentes<br />
tipos de estruturas oceânicas flutuantes produziam mexilhões e ostras, que passasam a<br />
ser adaptadas e utilizadas em outras regiões, dando início à maricultura no Brasil.<br />
No Golfo do México, como foi anteriormente mencionado, a concentração de<br />
cardumes em torno das plataformas de petróleo levou ao desenvolvimento no estado-da-<br />
arte de megaestmturas oceânicas para o cultivo de peixes e moluscos @IE3Af(OFF et<br />
al., 1974). Entretanto, somente no Japão as fazendas marinhas estão sendo<br />
dimensionadas nesta escala (NAXA- 1997). Projetos foram cond~lzidos pelo<br />
Marino-Forum 21, no início da década de 1980, organizados pela Associação de
Fazendas Marinhas do Japão, em decorrência da considerável quebra da produção de<br />
espécies nobres como os atuns, e devido ao possível colapso da pesca oceânica em<br />
grande escala, com vem advertindo a FAO em func,ão das estatísticas de 1998.<br />
2.1.2, Instalação de Recifes Artificiais<br />
Os recifes artificiais são estruturas que podem ser construídas com diferentes tipos<br />
de materiais, mas principalmente concreto e aço, podendo ser na forma de quebra-mar<br />
ou na de concentrador de peixes e cardumes. No Brasil, como em outras partes do<br />
mundo, vêm sendo construídos desde épocas remotas por pescadores nativos de países<br />
tropicais. A partir da década de 1950, mergulhadores passaram a formar os habitats<br />
artificiais com sucatas e pneus colocados em locais não revelados.<br />
A primeira proposta para instalação de recifes artificiais em operações de pesca<br />
surgiram em 1982, como alternativa para evitar a pesca de arrasto na Baía de<br />
Guanabara, de Sepetiba, de Angra dos Reis e na Região do Cabo Frio, onde foi<br />
instalado o primeiro experimento (HARGREAVES, 1994). A divulgação sobre o<br />
experimento pioneiro em Arraial do Cabo com material fot~gr~co, abordava o tema<br />
como proposta de ocupação da plataforma continental, na forma de fazenda marinha<br />
extensiva em substituição a pesca predatória; e como alternativa para pesca fora das<br />
área de exploração de petróleo (HARGREAVES, 1985). Essa matéria, publicada no<br />
principal meio de divulgação dos mergulhadores da época, foi o primeiro referencial<br />
sobre o desenvolvimento tkcnico e científico da metodologia de ocupa@o do espaço<br />
submarino para o múltiplo uso, integrando atividades de pesca e mergulho através de<br />
pianos de gerenciamento costeiro.<br />
No experimento piloto de Arraial do Cabo (Figura 4) em 1982, o objetivo foi<br />
observar o tempo de colonização nos recifes construídos com diferentes substratos, para<br />
formação da vida bentônica e a ocorrência de espécies comerciais. A primeira etapa era<br />
verificar a evolução da biomassa em pouca profundidade, com maior incidência de<br />
luminosidade (zona mais eufótica). Nesse processo foi observado na primeira semana<br />
que as formas iniciais de vida a se fixarem foram as algas, como pode ser visto na foto<br />
(a) sobre os módulos de concreto. Em seguida, cerca de um mês após a montagem,<br />
observou-se a dominante coberiura de cracas na Wo (b) sobre as manilhas de argila e<br />
posteriormente, o início da acomodação de diferentes espécies nos módulos de pneus,<br />
fotos (c) e (d).
& F"-<br />
Concreto 1<br />
L Módulos de Concreto 2<br />
1). Móduio de Argila<br />
d. Módulo de Pneus<br />
Figura 4: Experimento Piloto de Recifes Artificiais em Arraial do Cabo1R.J<br />
Após dois meses de instalação dos primeiros módulos começaram a aparecer<br />
espécies de maior valor comercial, como polvo, lagosta e pequenos badejos e garoupas.<br />
A Figura 5 apresenta ocorrência similar no Japão, na foto (a) com uma semana após a<br />
instalação e na (b), após 3 anos.<br />
a: Fixaçao de algas após 10 dias<br />
Figura 5 : Formação dos Recifes de Proteção da praia de Kurua, baia de Sagami, Japão
Desde a década de 1950, com o crescimento da caça submarina e o início do<br />
mergulho recreativo esses materiais descartados e sucatas passaram a ser aproveitados<br />
para fazer "toca para peixe ", ~yesqueiro", ou "maran~baias )' termo no nordeste, como<br />
foram popularizados os recifes ariir'zciais no Brasil. No caso dos mergulhadores<br />
provavelmente como conseqüência da expansão na produçiio e venda de eq~lipamentos<br />
de mergulho em apnéa (máscara e nadadeiras) e da disponibilidade de pneus usados,<br />
carrocerias de veículos e descartes de obras, que posteriormente evoluíram para<br />
estruturas mais sofisticadas de concreto e ago. O emprego dessas estruturas tem sido<br />
geralmente conduzidos em águas com boa visibilidade, em áreas desérticas nas<br />
proximidades ou distantes dos recifes naturais, procurando atender a demanda por áreas<br />
de pesca e mergulho.<br />
Os primeiros trabalhos mais elaborados e detalhados que cornegaram a ser<br />
publicados nos Estados Unidos, incluíam além das sucatas de veículos e de estmtmas de<br />
plataforma de petróleo, os primeiros módulos de concreto (Figura 6) inspirados nos<br />
modelos dos japoneses (CARLISLE et a!., 1964). Posteriormente, foi publicada a<br />
somplementagão mais detalhada sobre a ecologia dos recifes artificiais, incluindo a<br />
relação de ocorrência das espécies nos diferentes níveis tróficos (TURNER et al., 1969).<br />
Passado meio skculo, esses materiais sucateados pneus e concreto continuam tendo a<br />
preferência dos pesquisadores para os primeiros estudos experimentais e funcionais de<br />
reciks arii5ciais.<br />
I I<br />
figura ó: Primeiros módulos de concreto e o nome cio locid de in~tdi~qão<br />
O projeto piloto no extremo norte da Região Sudeste (ZAMON et al., 1999),<br />
também foi consiruído com o emprego de pneus e módulos de concreio. Além da<br />
contribuição que o experimento representou para a ecologia de recifes ai-tificiais, ainda<br />
pouco conhecida no Brasil, pode-se também observar o aumento da produtividade para<br />
os pescadores locais. Fator importante para estabilização de espécies nobres que<br />
procuram abrigo, numa área desértica de fundo de sedimentos sem formações naturais.<br />
Experimentos recentes em outros locais também empregaram pneus usados, como o
conduzido na baia de Poole, na costa central sul da Inglaterra (COLLTNS et al., 1999) e<br />
no litoral dos estados do Ceará e Pernambuco (CONCEIÇÃO e MONTEIR0 NETO,<br />
1999). Outros experimentos estão empregando módulos de comreto com pequenas<br />
dimensões, como o da empresa norte-americana ReefiaZZ, instalado pelo projeto RAM<br />
no litoral do Paraná, seguindo a metodologia também empregada no Caribe e Ásia. Em<br />
Bertioga no litoral paulista, o projeto PROMAR lançou os módulos de moldura cúbica<br />
de concreto, similares aos japoneses de Kanagawa da década de 1950.<br />
2.1.3. Grandes Estruturas de Pesca<br />
Até o início da instalação das plataformas de petróleo em águas rasas, as grandes<br />
estruturas subrnersas na costa brasileiras eram decorrentes dos naufrágios através dos<br />
séctilos, e exploradas para fins de salvatagem, de resgate das riquezas arqueológicas, ou<br />
para caça submarina e pesca de linha embarcada. Só recentemente começou-se a<br />
afundar embarcações para fins de pesca ou de mergulho recreativo, que em termos de<br />
tecnologia, ainda está muito distante da necessária para alcançar os níveis demandados<br />
nas exigências de empreendimentos, como os de descomissionamento definidos para<br />
transformações de instalações de petróleo em recifes artificiais.<br />
No estado da Califórnia, com base em quatro décadas de experiência e pesquisas de<br />
bioprodução pesqueira em plataformas, passou-se a implementar programas específicos<br />
para transformação de esti-uturas desativadas em recifes artificiais (HARVILLE, 1983).<br />
Outros estados produtores de petróleo do golfo do Mkico também desenvolveram seus<br />
programas. O estado da Florida foi contemplado com uma plataforma desativada da<br />
Tenneco e o da Lousiana se voltou a organização da pesca esportiva no entorno das<br />
instalações de produção de hidrocarbonetos (DUGAS et al., 1979), que já vinham<br />
atraindo pescadores comerciais.<br />
Na Comunidade Européia, os estudos e pesquisas estavam voltados i avaliaqão da<br />
proposta de transformação das plataformas em pesq~~eiros. Quanto a eficiência<br />
ecológica para bioprodução, na Suécia as pesquisas de transformação de estmturas em<br />
pesqueiros, incluíram critérios de avaliação de estoques com o método de quantifmção<br />
bioachtica em torno das plataformas (SOLDAL et al., 1999). Na Nomega foram<br />
dirigidos a população residente de peixes no entorno de plataforma desativada.<br />
(JOKGENSEN et al., 1999), com sistema codificado de transmissores de ultra-som<br />
implantados em peixes e a variaçiío sazonal das taxas de captura com redes de espera
(LOKKEBORG et al., 1999). No norte do mar Adriático, o enfoque foi sobre a<br />
evolução da composição da ictiofauna em tomo de uma plataforma de gás (FABI et al.,<br />
1999). Também foi realizado um estudo preliminar sobre a formação bentônica em<br />
estruturas desativadas (PONTT, et al., 1999). No Reino Unido a discussão foi sobre a<br />
validade da proposta de uso das instalações desativas em pesqueiros (BAINE, 1999)<br />
para as plataformas no Mar do Norte, devido a predominância da pesca de arrasto.<br />
As grandes estruturas de concreto começaram a ser instaladas no Japão na década de<br />
1970, com vários modelos de diferentes formatos (HARGREAVES, 1998) para<br />
profundidades na faixa dos 100 metros (Figura 7). Os módulos foram empregados como<br />
componentes de fazendas marinhas extensivas e semi-intensivas, que eram repovoadas<br />
com as espécies mais valorizadas produzidas em laboratórios, e auxiliadas com<br />
equipamentos para administração de ração (Figura 8), provocando o condicionamento<br />
de reunião do cardume para pesca quando atingem o tamanho comercial.<br />
Fish Yaradise reet-<br />
Figura 7: Megaestrutura de Concreto - Modelos Sumitomo e FP-reef
A França começou a construir recifes de concreto na década de 1970 e grandes<br />
estruturas no início da década de 1980, também através da adaptação da tecnologia<br />
japonesa (CEIUB, 1982). Em pesquisa mais recente no litoral de Portugal, também<br />
foram instalados módulos japoneses de megaestruturas de concreto (SANTOS e<br />
MONTELRO, 1999) para estudos da distribuição espacial de peixes em torno dos<br />
recifes.<br />
A principal característica que difere a aplicação de recifes em outros países,<br />
comparando com os sistemas de japoneses são as instalações complementares, que<br />
incluem os laboratórios de reprodução das principais espécies com alto valor comercial.<br />
Depois da fase de alevinagem, os peixes em crescimento são aclimatados em meio<br />
natural e liberados para engorda nas áreas das grandes estruturas, onde se mantêm<br />
condicionados pela alimentação artificial. Esse método pode ser considerado como de<br />
fazenda marinha intensiva, e o semi intensivo quando não há a reprodução em cativeiro,<br />
formando um ciclo completo entre as gerações de reprodutores.<br />
Fipra 8: Torres de Sistemas Remotos para Administração de Ração<br />
As características e fimções das estruturas artificiais de proteção e bioprodução são<br />
apresentadas com mais detalhes no ANEXO CAPITULO H.
2.2- ConstruçGo Teáiriça do Planejamento de Sistemas Oceânicos<br />
2.2.1. Condições Econ6micns e Planejamento de Gestão de Recursos<br />
A possibilidade de elaborar formas para o melhor aproveitamento de recursos<br />
naturais, precisa encontrar bases que possa estabelecer parâmetros de lógica ambienta1<br />
de uso sustentável. Assim como condições que sirvam para compreender os processos<br />
naturais do espaço tridimensional oceânico, a dinâmica de seus componentes, e os seus<br />
aspectos sócio-econômicos. De forma que apresentem condições de participaqão dos<br />
usuários do espaço costeiro e oceânico nos processos de gestão.<br />
Até a década de 1950 as atividades costeiras estavam restritas a pesca em seu<br />
pleno uso de forma artesanal, atividades de cabotagem pela superfície em rotas de<br />
navegaqão, e algumas atividades esportivas como o remo, vela e eventuais provas de<br />
travessias de natagão. Neste período a Gaga submarina surgiu como esporte e a<br />
modalidade de pesca submarina comercial, promovendo a instalação de fitbricas de<br />
equipamentos e acessórios para essa atividade diferenciada e desconhecida na época.<br />
A partir da década de 1960 a pratica do surfe antes restritas a t has de um<br />
metro, foram sendo substituídas por compensados de dois metros de comprimento e<br />
posteriormente as pranchas de espuma sintética e cobertura de fibra de vidro,<br />
rapidamente formando uma rede de pequenas empresas produzindo pranchas e<br />
vendendo em diversos países como Estados Unidos, Havaí, Japão, Austrália e França. A<br />
escala comercial do mercado interno brasileiro atende a um grande número de<br />
consuíriidores, que ditam a moda de pelo menos 113 da população de adolescentes,<br />
incluindo outros produtos de vestuário e acessórios de consumo popular.<br />
A industria do mergulho recreativo foi a que mais se desenvolveu nas últimas<br />
décadas. Nos Estados Unidos, a atividade no final da década de 1970 passou a<br />
cowesponder a demanda de 1,9 milhões de usuários, respondendo por aproximadamente<br />
85% das viagens de recreação e turismo submarino em iodo mundo. Segundo esses<br />
estudos, somente no Havaí em 1982 as 23 operadoras de mergulho faturaram na faixa<br />
de U5$7 milhões, com uma participação de 20% proveniente do Japão (TABATA, 89).<br />
Na costa do Estado do Rio de Janeiro ocorreu, ao longo da década de 1990, um<br />
c;onsiderável aumento no número de operadoras de porte independentes e associadas a<br />
cursos e passeios oferecidos por pousadas especializadas, um total que pode chegar a<br />
50, considerando-se uma rotatividade de dez mil mergulhares ao ano distribuídos nos<br />
centros de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios e Angra dos Reis
No caso de indústrias tradicionais, observou-se a queda dos setores naval e<br />
pesqueiro, com a ascensão da indústria do petróleo, influindo diretamente nas<br />
possibilidades de trabalho e na distribuição da renda proveniente do aproveitamento dos<br />
recursos do mar. Identificou-se também o agravamento de problema setorial, decorrente<br />
de atividades predadoras de pesca em áreas sensíveis criadoras, plincipalmente com<br />
barcos de arrasto.<br />
A divisão de grandes áreas oceânicas em blocos para exploração de óleo e gás<br />
surgiu para agravar o quadro, já tumultuado pelo conflito entre as diferentes<br />
modalidades de pesca operando na mesma área, que vinha sendo acrescentado com os<br />
outros usuários, praticantes de surfe e mergulho recreativo. A situação sugere uma<br />
análise desses fatores envolvendo a distribuição espacial de zonas de uso restrito e de<br />
uso comum. O espaço da pesca costeira e artesana1 IOi mais uma vez desmembrado,<br />
neste caso perdendo o direito de uso de um espaço que vinha sendo utilizado por mitas<br />
gerações, e afetando a produtividade com a degradação ambienta1 e derrames de<br />
poluentes fora de controle.<br />
Esses problemas reportam as recomendações apresentadas nas propostas de<br />
governo, P SM e PNGC e da FAO no iimbito internacional, que sugerem programas de<br />
planejamentos integrados de múltiplo uso em escala regional, com projetos de<br />
zonearnento, manejo e gestão. Devem ser observadas propostas com bases s6!idas e<br />
viáveis, procurando identificar problemas imediatos de manutenção e geração de novos<br />
empregos, buscando contomar os processos de favelização e degradação ambiental.<br />
Com os centros tradicionais de pesca do Rio de Janeiro desativados, como o<br />
mercado da Praça XV, associada a faltas de escolas especializadas, cursos técnicos e<br />
universidades, foram-se gerando alternativas como o mercado do CEASA que vêm<br />
prejudicando a recuperação do setor. Nesse processo de desgaste, aumenta o risco de<br />
quebra da cadeia familiar de conhecimentos das artes de pesca, que em muito se deve a<br />
queda dos meios naturais de produçtio, levando os filhos de pescadores a busca de<br />
outras profissões.<br />
O levantamento do patrimhio histórico cultural através de estudos e pesquisas,<br />
visando obter mais conhecimento do potencial regional e formas para sua man~ltenção,<br />
podem ser patrocinadas por operadores e empresas envolvidas em atividades turisticas e<br />
recreação. As Colônias de Pesca organizadas no início do Século XX, foram<br />
desestruturadas durante as últimas décadas por intervenções autoritárias, prejudicando o<br />
aperfeiçoamento do seu processo evolutivo para pesca industrial costeira de pequena
escala, e no seu processo de aperfeiçoamento do sistema de zoneamento zoogeográfico<br />
criadas, No Brasil, como em outras regiões do mundo a pesca costeira artesanal<br />
corresponde a cerca de 80% da produção nacional. Emprega contingentes heterogêneos<br />
de profissionais competentes, pescadores periódicos para obtenção de renda extra e<br />
demais cidadãos marginalizados pelo desemprego e pressões sociais, buscando a<br />
alternativa nos mares.<br />
Esses fatores sócio-econômicos têm prejudicado o desenvolvimento da pesca<br />
artesanal, muito em knção da crescente queda da produtividade na faixa costeira,<br />
decon-ente da degradação de uso inadequado, contaminação de esgotos e pesca<br />
predatória. Em todo mundo a pesca artesanal emprega aproximadamente 12 milhões de<br />
pessoas, enquanto a industrial emprega somente 4,2 % desse total, sendo que a produção<br />
total desta modalidade está na faixa de 24 milhões de toneladas por ano, cinco milhões<br />
a menos que a produção industrial. Entretanto, 22 milhões de toneladas da pesca<br />
industrial são aproveitadas para produção de rações, enquanto na da pesca artesanal esse<br />
destino secundário de aproveitamento é muito pequeno.<br />
-<br />
Capapitat nctessSskt para<br />
cadaposto de tmklho<br />
cmbnrçade 19 US)<br />
Cem de 2@ milRGas Cerca de 24 mkliiüiaes<br />
Figura 9: Comparativos da produtividade da pesca artesana1 e industrial<br />
Como pode ser observado no quadro elaborado pela FAO na Figura 9, algumas<br />
vantagens sócio-econômicas da pesca artesanal em relação a industrial são significativas
e que devem ser levadas em consideração. Isto se deve ao setor pesqueiro brasileiro ser<br />
pouco capitalizado, sem perspectivas de investimentos e de incentivos governamentais<br />
de c~irto prazo e na escala adequada. Os dados comparativos são expressivos, o<br />
consumo de combustível da indústria varia entre 14 e 19 milhões de tonelada por ano,<br />
enq~tanto o do setor artesanal não ultrapassa as 2,5 milhões. A produtividade é muito<br />
superior de 10 a 20 ton, de peixe por ton. de combiistível, enquanto a da indústria não<br />
ultrapassa 5 toneladas.<br />
O mais importante para o caso brasileiro é também a relação de número de<br />
empregos por milhão de dólares investidos, que no caso da artesanal chega a 4.000<br />
vagas, enquanto para a frota industrial e de 30 empregados.<br />
O problema enfocado é como equacionar as possibilidades de utilização dos<br />
recursos oceânicos, em íiinção da localização e instrumentagão disponíveis de avaliagão<br />
espacial, visando a distribuição de atividades entre o maior nílmero de us~iários.<br />
2.2.2. Estrrbilidade BioeconQaica e Srastentabilidade<br />
No estudo das relagões culturais das atividades no mar com o processo de<br />
desenvolvimento econômico, obseiva-se novas tendencias no quadro de usuários com o<br />
crescimento das atividades de esporte e lazer na faixa costeira. Incluindo mergulho<br />
recreativo, surfe, caiaque, jetski, nas sem que tenha havido uma prévia avaliar,ão de<br />
contingências, causas e efeitos desse crescimento nas zonas costeiras.<br />
Essas atividades podem ser melhor pesquisadas quanto as suas origens no Brasil,<br />
resgatando relatos do Séc~ilo XVI, sobre a destreza dos nativos brasileiros na arte da<br />
canoagem, mergulho e pesca. Através desse quadro podem compor outros temas de<br />
pesquisa, que podem levar a novas descobertas e o resgate aiitropotecnológico,<br />
propiciando uma mentalidade consistente em relação as capacidades e vocações nesse<br />
setor de produqão. Assim como interpretações que permitam a estabilidade das relações<br />
de prodtqão e trabalho durante as variações de estações, para uma sustentabilid-tde de<br />
longo prazo.<br />
O conhecimento sobre o que pode ser encontrado no mar tem sido pontual e<br />
altamente especializado, como no caso do petróleo em grande escala ou como a<br />
descoberta de sítios arqueológicos ou de atrativos turísticos, como navios afirndados e<br />
recifes de corais. Na pesca, o sonar ainda é o principal instmrnento de localização dos<br />
pesqueiros, disponibilizando informações pouco precisas das características de relevo e<br />
ocorrência de espécies que são capturadas, não havendo interesse na troca ou
divulgação dessas informações. Entre esses usuários de recursos ambientais, os<br />
interesses visam as informações das singularidades do espaço oceânico e níveis de<br />
acesso aos recursos, determinantes de componentes operacionais para o seu<br />
aproveitamento. Dados que devem ser trabalhados no campo do gerenciamenio costeiro<br />
e oceânico voltados a estabilidade ambiental, considerando seus agregados de interação<br />
com recursos bioeconôrnicos, como as atividades de ecoturismo e lazer na natureza, que<br />
são no caso brasileiro e de forma mais complexa no caso do Estado do Rio de Jmeiro,<br />
um tema de pesquisa qualificada e consideravelmente interdisciplinar.<br />
Os conceitos de manejo da bioprodução oceânica para regulamentação interna e<br />
da atividade entre países, começaram a surgir em decorrência dos grandes períodos de<br />
instabilidade da indiistria pesqueira desde o inicio desse século, ocasionado pela<br />
sobrepesca que provocou o colapso da produgão natural no Atlântico Norte. Desde essa<br />
época estudos biológicos e econômicos passaram a ser desenvolvidos para compreender<br />
as constantes fiutuações dos estoques naturais, servindo de base para as primeiras<br />
definições econômicas de funções de produção e custos (GORDON, I%?), como a do<br />
máximo nível sustentável de pesca.<br />
Até o início deste século muitos consideravam os recursos do mas inesgotáveis,<br />
apesar da contestação de biólogos da kpoca. O conceito de bionomia ou bioeconomia<br />
surgiu dos estudos desenvolvidos por BARANOFF (19 18, l9Z), sem explicitas<br />
referências aos fatores biológicos relacionados aos econômicos. Posteriormente, outros<br />
estudos sobre os efeitos da sobrepesca de barcos de arrasto, como de SETTE (1943)<br />
foram avaliados por GORDON (1954), servindo de base para estudos mais específicos<br />
sobre a regulamentação, com a formulação de teorias econômicas relacionando o efeito<br />
do livre acesso aos recursos pesqueiros na indústria de processamento de pescado.<br />
A questão do livre acesso associada ao problema da sobrepesca e ao<br />
esgotamento dos estoques pôde ser observada em seus estudos, quando comparou os<br />
níveis de produtividade nas diferentes áreas de pesca (Figura, 10), as relações de custo<br />
e produção. Enquanto na Zona No. I, a produção média AP1 atinge seu nível máximo<br />
em relação aos seus custos marginal (MC) e médio (AC), que permanecem constantes<br />
para as três zonas, diminuem pela metade na Zona No.2, e somente cobre os custos do<br />
esforço de pesca na Zo~a No. 3.
A produtividade é um fenômeno natural, cujo dimensionamento tem sido<br />
discutido e abordado em diferentes aspectos. O que se tem de estatística são tendências<br />
de determinadas regiões e zonas, a serem mais produtivas que outras no decorrer dos<br />
anos, embora ocorra flutuações sazonais. Assim, as áreas mais produtivas tendem a<br />
sofrer maior pressão de esforço de pesca até atingirem o seu máximo nível sustentável,<br />
quando a produção começa a diminuir devido a falta de recrutamento de novos<br />
estoques.<br />
MC,AC<br />
# ZONA ZONA<br />
NO. I<br />
O a E O' X' E<br />
Figura 10: Relações de custo e produção em três zonas diferenciadas (Gordon, 1953)<br />
Dentre as principais contribuições de Scott Gordon neste contexto destaca-se a<br />
definição cie uma função de produção baseada na curva de retorno decrescente<br />
(Diminishing Retum Lmv) da economia, equivalente a curva de mortalidade da biologia<br />
pesqueira, estabelecendo o "nível mcíximo strstentcível". Foram definidos assim os<br />
primeiros parâmetros de equilíbrio econômico - biológico dos impactos na exp!oração<br />
de bens públicos de uso comum. A segunda grande contribuição foi o reconhecimento<br />
da base econômica dos diferentes níveis de produtividade de cada área ou região<br />
pesqueira, que contribuem para o acúmulo de embarcações nas zonas mais piscosas em<br />
busca de maior rentabilidade, levando a exaustão dos estoques. A partir dessa teoria, o<br />
livre acesso aos recursos naturais passou a ser mais controlado, levando as nações<br />
pesqueiras aos primeiros critérios de avaliação econômica dos métodos de<br />
regulamentação da pesca costeira e oceanica.<br />
Devido as experiências anteriores no JapZio, nesse período da década de 1950<br />
começaram os primeiros projetos governamentais de estabilização e indu~ão da<br />
produtividade em zonas de pesca tradicionais, através do fechamento de áreas de arrasto<br />
e seletividade cie equipamentos, com a alternativa de implantação de recifes artificiais.<br />
As teorias economicas de GORDON (1954) sobre o aproveitamento racional de<br />
recursos públicos, foram citadas em outras interpretações de curvas de retorno<br />
AS
decrescente como as de CRUTCHFIELD (1965), no estudo dos objetivos econ6micos<br />
do gerenciamento pesqueiro para regulamentação, seguidas por CHRISTY e SCOTT<br />
(1965), também sobre questões envolvendo a propriedade comum dos rewrsos<br />
pesqueiros, que estabeleceram dois patamares de avaliagão, o de nível máximo de lucro<br />
líquido e o máximo sustentável de produção, como pode ser observado na Figura 11.<br />
Máxima<br />
Máximo renda<br />
retomo sustentável<br />
econômico Curva da<br />
Esforço de Pesca Inúmero de pescadores)<br />
figura 11: Ci11-v~~ de produção e ciisto (após CHRTSTY e SCOTT 1965)<br />
Neste caso, observa-se que para cada área de pesca se apresenta uma curva de<br />
produtividade natural, associada a uma função de i;ro&tçiio em seus nível de<br />
produtividade sustentável (SzmtainaBle yiekd) e receita total (Totd Revenue) que<br />
correspondem a um custo total para cada nível de esforço de pesca A, iL/i e B. No<br />
primeiro ponto de equilíbrio considerado 'E' de produção, o nível de esforço de pesca<br />
'A' com custo total (Toid Coso em 'F' proporciona maior lucro sem por em risco a<br />
produtividade (derivada de paralelas), enquanto em 'P' a curva de produtividade se<br />
encontra no limite máximo, a partir do qual a íuçraiividade começa a diminuir<br />
acompanhando o declínio dos estoque natural, até atingir o ponto 'G', onde os custos se<br />
igualam aos retornos de produção. Na realidade, ocorrem outros fatores que podem<br />
alterar esse quadro simplificado, como variações de preço do produto no mercado,<br />
sazonalidade do volume de produção, opções de consumo ou aumento de preços de<br />
insumos.<br />
No estudo de GORDON (1953) em relação a Figura 11, a renda econômica<br />
líquida da pesca é representada pela relação da curva do total de desembarque (total<br />
Revenwe) aqui denominada R e da função de custo (Total cosf) aqui denominada C,<br />
dimensionada pela distancia entre as duas. Tendo como referencial o eixo do esforqo de<br />
pesca (Nmzber oJTShermen) aqui representado por X. Essa distância atinge seu máximo<br />
no ponto E, onde a curva da firnqão de produqão é igual a da hnção de custos, ou seja:
Onde o ponto E paralelo a F, se pode definir como o de maior retomo financeiro ou o<br />
mais econômico.<br />
A discussão que se estende ao longo de décadas é sobre o ponto ideal de<br />
66saisientabilidade dos estoques naturais" a partir de E, que segundo GORDON<br />
(1953) é o que apresenta maior lucratividade para empresa sem riscos para recuperação<br />
dos estoques, ou até o limite em P que segundo CHRISTY e SCOTT (1965) seria o<br />
máximo nível sustentável tanto para os rendimentos financeiros como os estoques, e em<br />
trabalho mais recente CLARK e MITNRO (1994) propõem que o "equilíbrio<br />
bionômico" está em G quando as relaqão de custo do esforço de pesca com a<br />
rentabilidade se equiparam ( B, ). No caso deste trabalho voltado a pesca artesanal,<br />
considera-se o ponto E como o mais indicado padrão de sustentabilidade dos estoques,<br />
principalmente por se tratar de país tropical com grande diversidade biológica e<br />
estoques mais sensíveis.<br />
Os primeiros casos estudados do pós-guerra estavam voltados principalmente<br />
aos diversos problemas de competição entre as frotas européias, noite-americanas e<br />
asiáticas, com grandes embarcações de arrasto e cerco operando no Atlântico Norte e<br />
Pacífico Norte, demandando medidas regulatórias para contornar os condlitos e<br />
diminuição dos estoques. O objetivo desses estu$os sobre regulamentação foi resultante<br />
do consiberhvel efeito da evolução das frotas pesqueiras a partir do início do século,<br />
com alto nível de mecanização e poder de captura. Entretanto esses estudos se<br />
limitaram a pesca industrial, com pouca associação direta desses efeitos relacionados a<br />
pesca ariesanal, como ocorreu com os estudos e pesquisas dos japoneses (OKA et al.<br />
1962).<br />
Durante a conferência sobre os efeitos econômicos da regulamentagão pesqueira<br />
(FAO, 1962), o tema foi amplamente abordado e discutido em todos os seus aspectos,<br />
incluindo os sociais, culturais e antropológicos, decorrentes da capacidade de captura<br />
dos grandes barcos e navios, que começavam a interferir na produtividade dos métodos<br />
mais tradicionais nas mesmas áreas e zonas de pesca, inclusive em outros países. Esse<br />
tema ainda gera mirita especulação, principalmente quando os conflitos envolvem vhrios<br />
países com disparidades econômicas, dikrentes interesses e propostas divergentes de<br />
desenvolvimento setorial.
No contexto de múltiplo uso, composto de fotmas independentes de produc,ão e<br />
serviços, a milenar atividade de pesca costeira, que efetivamente se empenha no<br />
aproveitamento da bioprodução natural, está desestmturada. Atualmente, em suposto<br />
regime de autogestão, outras atividades complementares de uso de bens públicos, como<br />
mergulho recreativo, pesca esportiva, culturais, sut-fe, caíque e de lazer, que emergem<br />
em busca de novas áreas antes exclusivas da pesca. Essas atividades tem em comum a<br />
necessidade de preservação ambiental, fator condicionante para realização dessas<br />
ocupações profissionais e de entretenimento, interagindo socialmente e comercialmente<br />
no mesmo espaço costeiro e oceânico. A procura por áreas difere de acordo com os<br />
interesses de cada atividade, tornando-se necessásio um mapeamento de valoração<br />
econômica ambiental dos recursos geográficos espaciais e a sua cobertura de interação<br />
ecológica, formando o quadro geral de recursos.<br />
Observou-se que os recursos biológicos são sazon-sis e limitados pelo<br />
recrutamento afetado pela pesca excessiva de reprodutores, afetando o ciclo<br />
bioecouômico de produção. No estudo desse fenômeno natural, que assim como outros<br />
podem se enquadrar na lógica Fuzzy, as questões de Ílutuação de produção geram riscos<br />
pouco previsíveis, exigindo da atividade uma grande disponibilidade de capital de giro<br />
para cobrir custos de ociosidade e manutenção de equipamentos mesmo após uma saída<br />
de pesca improdutiva.<br />
A interpretação econômica sobre a disponibilidade de estoques e meios de<br />
produc,ão (esforço de pesca) demonstra que os limites da pesca são deteminados por<br />
çondicionantes biológicas e ambientais, e que o poder de captura da fsota industrial e<br />
pesca costeira ilimitada põem em risco a sustentabilidade dos sistemas naturais, com<br />
efeitos sócio-econômicos. Entretanto, na exposição de CTLRISTY e SCOTT (1965), a<br />
fiinção de custo total poderia apresentar duas opções, como foi sugerido por O U et al.<br />
(1962) na exposição sobre os efeitos econômicos da regulamentação da pesca de assasto<br />
do Japão, que incluía os efeitos da restrição do uso de keas e zonas de pesca, com seus<br />
objetivos de proteção da pesca costeira e a manutenção do equilíbrio entre os diferentes<br />
interesses da pesca de airasto. Foram apresentados tambem o estudos dos efeitos de<br />
resisições tecnológicas e seus efeitos.<br />
Segundo esses especialistas em economia pesqueira e oceânica, a pesca costeira<br />
astesanal tem uma instrumentação embarcada financeiramente limitada a capacidade de<br />
captura e a-mazenamento; em tamanhos proporcionais as diversas modalidades, as<br />
práticas artesanais e outras limitagões da pesca costeira. O estudo levou a comparação
de curvas de custo total, no sentido de 'O' à 'P' (Figura 9) como representativo da<br />
pesca costeira devido a suas limitações operacionais e financeiras, que são compensadas<br />
com produtos de maior valor comercial. O posicionarnento desta curva em 'P' pode ser<br />
atribuído ao condicionante de produtividade mínima que possa cobrir os custos por<br />
viagem, levando a uma acomodação no esforço de pesca, estabelecendo-se em teoria<br />
um máximo nível sustentável. O ponto de equilíbrio da pesca costeira de maior<br />
eficiência financeira, se encontra em ponto de tangência anterior a 'E', paralelo ao de<br />
custo total. Somente as médias e grandes empresas atuando na pesca costeira, com<br />
contratos e melhores preços no mercado internacional, estão dispostos a investir mais<br />
em equipamentos e viagens de risco, podendo levar a produtividade além do máximo<br />
nível sustentável.<br />
Estudos posteriores desenvolveram outras formas mais complexas de<br />
equacionamento do problema, como de Ar\TT)ERSON (1977) cobrindo os aspectos<br />
teóricos e práticos da economia pesqueira. Entretanto com o colapso da pesca oceânica,<br />
esse enfoque tradicional de regulamentação precisa ser revisto em suas diversas<br />
particularidades para cada critério, comparados as características oceânicas regionais.<br />
Essas informações sugerem que relações de espaço e produtividade devem ser<br />
bem analisados, como vem sendo ressaltado em estudos sobre as interações da pesca<br />
com os habitats marinhos (LANGTON, AUSTER, 1999) e incentivados pela FAOIUN,<br />
para que sirvam de base na avaliações de oferta e demanda dos usuários, em relação aos<br />
recursos naturais. No caso do múltiplo uso, a definição dos níveis de limitaqão se<br />
estendem a todas as atividades que interagem com os diferentes habitats.<br />
As definição de zonas e áreas devem seguir critérios que identifiquem os recursos de<br />
modo que possam ser qualificados e quantiflcados e compreendidos por equipes<br />
interdisciplinares, formando a massa crítica necessária ao desenvolvimento de planos de<br />
gestão e empreendimentos.<br />
No caso da Regi50 Sudeste do estado do Rio de Janeiro, caracterizada pelo mtiltiplo<br />
uso com predominância das atividades de pesca, lazer e produqão de petróleo, a<br />
atividade no mar é intensa, principalmente na faixa costeira, sendo por isso necessário<br />
estudos mais abrangentes no contorno de atividades e divisão espacial de uso. Com o<br />
crescimento da produção do petróleo a estabilidade bioeconômica e a sustentabilidade<br />
dos sistemas naturais e de outras atividades dependerá de programas de gestão e<br />
planejamento integrados em função dessa nova realidade.
No golfo do México há completa integração entre a produção de hidrocarbonetos e<br />
as atividades de pesca comercial, esportiva e recreativa, nas modalidades de linha e<br />
mergulho, com programas de pesquisas ambientais integrados e utilização de insta!ação<br />
de equipamentos descomissionados após o esgoiamento cios poços, para construção de<br />
recifes artificiais e fazendas marinhas. A pesca predatória de arrasto de porta ou<br />
pareihas também deve ser banida, podendo com recursos do pagamento de royalties do<br />
petróleo financiar fazendas de camarão, promovendo um uso adequado as salinas<br />
desativadas como alternativa de melbor uso do solo e geração de empregos,<br />
2.2.3. Condicioaiantes Sócio-Tecnológicas de Viabilidade e Sustentação de Sistemas<br />
A questão mais complexa para o equacionamento do processo de riivelamento<br />
tecnológico dos meios de produção continua sendo as condições de trabalho. Desde o<br />
início da década de 1990, levantamentos e estudos mais aprofundados vêm<br />
apresentando um quadro de bastante precariedade e falta de segurança nas atividades<br />
marítimas, apontando a necessidade de um programa nacional de prevenção de<br />
acidentes (NEVES, 1991). Muitos são os fatores que de forma direta e indireta<br />
influenciam na incidência de problemas operacionais que acarretam em vítimas, perdas<br />
materiais e efeitos ambientais. A falta de treinamento, experiência e aptidões para o<br />
trabalho marítimo (aquacidade) podem ser apontadas em função da precariedade das<br />
embarcações e equipamentos. Entretanto, atualmente ocorre outro fator, a queda de<br />
produção nas áreas tradicionais, que leva o pescador para áreas mais distantes,<br />
implicando-o em maiores riscos.<br />
Na exploração de petróleo o número de acidentes chegou a níveis preocupantes,<br />
provocmdo a instalação de uma CPI, na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de<br />
Janeiro em 1998, onde foram identificados níveis gerenciais de responsabiliciade desde a<br />
concepção dos projetos a sua execução (MARGREAVES et al. 1998). A exemplo do<br />
que ocorre como na atividade pesqueira, os fatores treinamento, capacitação e qualidade<br />
dos equipamentos também foram apontadas como causas de acidentes, entretanto neste<br />
caso envolvendo riscos de maiores proporção, como ocorreu nas plataformas de Piper<br />
Alfa e Enchova.<br />
Somente nos últimos dois anos os aspectos ergonômicos e estudos de segurança<br />
e saúde passaram a ser tema de seminário e de estudos específicos para a atividade<br />
pesqueira (CA[PNETRO, 2000), sugerindo novos campos de pesquisa e interações para<br />
mudanças de perspectivas nessa área de trabalho.
O trabalho no meio oceânico é diferenciado e demanda uma nova concepqão<br />
organizacional. Os altos índices de acidentes sugerem que os sistemas operacionais<br />
atuais precisam ser revistos, assim como se torna necessário a criação de programas de<br />
formação e qualificação profissional envolvendo o miíltiplo uso.<br />
SELEÇÃO CAPACXDA<strong>DE</strong> SEGWÇA PRODUTOS<br />
Recrutamento<br />
Credenciamento<br />
Gmhos Esperados Presinmkeis<br />
(nargreaves, 1999)<br />
Figura 12: Base socioiécnica para compreensão da comuiexidacie da atividade de trabalho oceânica<br />
A contribuição no contexto desta tese é apresentar uma visão interdisciplinar do<br />
que poderia ser uma forma de abordagem de equacionamento, para avaliação de fatores<br />
sócio-tecnológicos que viabilizem a sustentabilidade dos meios de produção e dos<br />
sistemas naturais (Figura 12).<br />
Qualificação<br />
Desenvolvimento<br />
Segurança<br />
Qualidade<br />
Benefícios<br />
IinpactaçBes
Neste esquema, parte-se da premissa de que para qualquer trabalho no mar<br />
ocorra um tratamento diferenciado, considerando-se as condições adversas e pouco<br />
previsíveis no local de trabalho e uma aptidão natural de cada indivíduo em relaçãn<br />
essas circunstâncias. Muitos profissionais consideram a "aquacidade" (do italiano<br />
acquaccita), que compreende a vocação, adaptação e facilidade de se integrar com O<br />
meio aquático, como fator fbndamental para qualquer pessoa ingressar na atividade,<br />
inclusive no processo de aprendizado. A aquacidade pode ser um tema polêmico, mas a<br />
experiência tem demonstrado que a adaptação humana ao ambiente submarino de<br />
trabalho ou lazer decorre de vocação, independente do nível de aprendizado e<br />
qualificação.<br />
Seleção, Formaçlo, Qrralificaçh e Srrstentabilidade<br />
O cenário pode ser visto como a evolu@o dos sistemas operacionais pela<br />
interpretação ergonômica, com uma visão em diferentes escalas da influência da ação<br />
do trabalho na eficiência, produtividade e segurança. Essa visão orgânica dos sistemas<br />
de produção permite uma melhor avaliação da realidade organizacional e da situação<br />
dos executores durante o trabalho. O conhecimento desses aspectos podem ser<br />
amplamente empregados para análise de riscos em sistemas como aeroportos e<br />
hospitais, que por sua vez são de grande valia para estudos em situações ainda mais<br />
complexas como submarinas e pesqueiras.<br />
Outras propostas para discussão também se incluem neste quadro, como as<br />
relações ambientais do trabalho isolado no mar e suas interações com esses sistemas<br />
naturais, dependentes da produção e equipamentos. A partir desses parâmetros, podem-<br />
se definir critérios e &todos de medição, correspondendo aos níveis de trabalho e<br />
dificuldades em relação ao conjunto de componentes operacionais e parâmetros de<br />
eficiência nos contextos diferenciados.<br />
Tanto no caso da produção de hidrocarbonetos como na pesca e no mergulho, as<br />
operações oceânicas envolvem pelo menos três etapas: a logística do embarque, o meio<br />
de transporte e a plataforma de trabalho. No caso da pesca, esta última é a própria<br />
embarcação. No caso do mergulho além do meio de locomoção, da eficiência de<br />
localização e da plataforma de trabalho, se acrescentaria mais uma ou duas operações, a<br />
de descida até o local de trabalho e a de intervenção.<br />
Dessa forma, os parâmetros de sustentabilidade incluem não só os componentes<br />
ambientais dispostos nas recomendações da Agenda 21, mas todos esses aspectos em
elação ao trabalho. Como pode ser visto na proposta da Figura 10, a sustentabilidade<br />
dependeria do equilíbrio em três níveis: o das relações de produção e sócio-econômicas,<br />
baseado em sistemas de formação adequados; os de relações de trabalho e coletivas no<br />
ambiente profissionaí, baseados na adequação do trabalho e experiência; e os da<br />
relações globais, envolvendo planos de gestão adequados e uma política naciona! para<br />
enquadramento de empresas e relações de trabalho mais participativas.<br />
0rganizaç;io e Gestão de Sistemas Compiexns<br />
Com a declaração da zona econômica exclusiva (ZEE) de 200 milhas, início da<br />
década de 1970, o governo brasileiro com pouca experiência no setor pescpejro,<br />
assumiu compromissos internacionais para exploragão sustentável dos seus recursos<br />
oceânicos. Posteriormente, se estendeu sobre toda faixa costeira terrestre e marítima,<br />
com as determinações propostas na AGENDA 21, no Rio de Janeiro em 1992.<br />
Nesse período, medidas têm sido tomadas para o levantamento e reconhecimento dos<br />
recursos existentes na piataforma continental e de definição de políticas à serem<br />
adotadas para exploração econômica dos mares de forma sustentada. Entretanto, para o<br />
caso de gestão de múltiplo incluindo as atividades sii'lmarinos, as pesquisas devem ser<br />
direcionadas para o fundo do mar, o que ainda não vem sendo observado de forma<br />
direta, mas sim como componente de apoio para produção de petróleo.<br />
A gestão de sistemas integrados através de estudos interdisciplinares, busca<br />
encontrar uma coerência metodoiógica para a avaliação de fatores de produção. Em se<br />
tratando do múltiplo uso de recursos naturais, esses estudos integrados devem cobrir<br />
complexas relações econômicas e técnicas de viabilidade, compreendendo as<br />
características fisicas, químicas e biológicas dos sistemas naturais, que são os primipais<br />
instrumentos de avaliação dos impactos de obras e instaiações, que implicam na<br />
bioprodução, condições de uso e suas formas operacionais diversas.<br />
Para se trabalhar na integração de conhecimentos, com uma determinada<br />
finalidade e através de diferentes ciências, técnicas e processos de avaliação, os dados<br />
devem ser tratados de forma diferenciada em gnipos de conhecimento. Essa gestão<br />
técnica para se trabalhar as informações, devem biiscar a homogenização de dados e<br />
níveis realistas de interdisciplinaridade. Esse ajuste a grupos homogêneos de<br />
conhecimento servem como base para a organização dos estudos das relações de oferta<br />
e demanda de produtos e serviços de forma localizada, de acordo com a realidade dos<br />
fatores de produção de cada área e com os recursos de uma determinada região.
No caso de atividades submarinas de pesquisa ou trabalho comercial, tem como<br />
objetivo trazer a superficie a realidade das interações dos sistemas operacionais com o<br />
solo e espaqo tridimensional, o que é uma tarefa bem mais complexa que qualquer<br />
trabalho na superfície. A começar pela forma de definir as funções do cientista,<br />
reforçando assim as características do mergulho de pesquisa, o que exigiria em principio<br />
o que foi mencionado anteriormente a "aquacidade", que neste caso se refere a uma<br />
aptidão ou vocação extra, além da harmonia com o ambiente aquático, e a da vontade de<br />
conhecer e desvendar os mecanismos do mundo submerso.<br />
Em se considerando a importiincia da pesquisa submarina, essa abordagem pode<br />
ser considerada de fundamental importância para definição de prioridades de pesquisa<br />
oceanográfica, biológica e ecológica a nível nacional. O que realmente interessa para a<br />
nação e o povo brasileiro? Que tipo de conhecimento científico precisa ser gerado? E<br />
para que serve esse conhecimento gerado? Dessa geração de oceanógrafos e biólogos<br />
formados nas universidades brasileiras, quantos conhecem e hram preparados para<br />
reconhecer a importância do dese_nvolvimento das pesquisas submarinas, e partirem<br />
para pesquisas mais objetivas de resultados?<br />
Essa disc~issão parte para outros campos, até que ponto servem as pesquisa e<br />
trabalhos em laboratórios como os de identificação e classificação de espécies, quando<br />
tudo está ocorrendo no fundo do mar? Seria esta atividade uma aventura? Ou a própria<br />
realidade? O que é mais importante para o Brasil na situação atual, soluções para<br />
aumento da qualidade e consumo de proteínas, geração de empregos e renda, que<br />
tambem geram publicações em revistas internacionais, ou as atividades meramente<br />
científicas sem aplicações diretas? Programas específicos poderiam ser direcionados<br />
dando mais chance para quem tem aquacidade e quer realmente uma maior inieração de<br />
trabalho no mar. Esta forma atual tem dificultado um desenvolvimento equilibrado em<br />
diversos níveis tecnológicos com o resto do mundo e um conseqüente baixo<br />
desempenho das atividades de bioprodução, deixando-se de se aproveitar uma das<br />
maiores plataformas continentais do planeta.<br />
Este fato pode ser relevante para economia costeira do Brasil, onde a pesca<br />
submarina é um esporte popular. Vários campeões mundiais de caça submarina e<br />
recordistas saíram do Rio de Janeiro nas decadas de 1950 até os anos 1970, quando a<br />
atividade se proliferava sem organização. O problema talvez tenha sido a falta de<br />
interesse em se canalizar esse potencial para o desenvolvimento de pesquisas e trabalho<br />
especializado.
As principais propostas atuais de gestão costeira e oceânica são extremamente<br />
pontuais, tratando apenas de problemas ambientais crônicos, que continuam ocorrendo,<br />
como o recente derrame de óleo na Baia de Guanabara, a mortandade de peixes na<br />
Lagoa Kodrigo de Freitas e as constantes discussões, que duram décadas, sobre o<br />
encolhimento das praias de Copacabana, Aqoador e Leblon, na zona sul da cidade do<br />
Rio de Janeiro e mais recente o emissário da Barra da Tijuca. Se não há pesquisas<br />
submasinas diretas, como são coletadas informações que servem como base de dados<br />
para elaboração dos modelos matemáticos e fórmulas para resolução desse problemas?<br />
A gestão desses sistemas é ainda mais complexa partindo da faixa costeira<br />
terrestre, onde as redes de esgoto se confundem com as pluviais. Esses são problemas<br />
dos sistemas costeiros de interferência altamente negativa, afetando diretamente as<br />
zonas de mares e estuários, onde ocorrem iníimeras interações primárias da bioprodução<br />
provocando a quebra da cadeia reprodutiva com grandes perdas econômicas.<br />
Nas décadas anteriores os problemas eram localizados e menos questionados<br />
pela opinião pública. Antes também haviam outras opções de praias. Atualmente nos<br />
defrontamos com uma grande população que tem poucas alternativas - uma legião de<br />
praticantes de diferentes esportes e centenas de surfistas disputando os melhores picos<br />
de ondas. Nos mares a situação é inversa. As ilhas e arquipélagos são subaproveitados e<br />
pouco se conhece dos seus potenciais.<br />
Esses fatores demandam da engenharia oceânica, bases de avaliação para<br />
viabilização de uso econômico ambiental. A principal discussão atual começa com a<br />
atribuição de valores a esses bens, variando na óticas da economia financeira e da<br />
economla ecológica. Essa discussiio se estende a engenharia oceânica, em relação a<br />
valoração de fatores ambientais e biológicos, que definem o tipo de intervenção,<br />
processos e métodos diferenciados de projetos e obras, baseadas em objetivos definidos<br />
pela opinião publica, a do quadro de usuários.<br />
Cabe uma nova leitura de interpretação dos fatores de avaliação sbcio-<br />
econômica dos efeitos dos impactos ambientais no contexto de Í'ormatação de projetos<br />
de engenharia, considerando os interesses da comunidade para atribuição de prioridades<br />
e critérios de medições adequações ao uso segundo vocação e sustentabilidade. Deve-se<br />
buscar objetivos claros na organização dos planos de gestão, para que sua concepção<br />
percorra além de soluções aparentes de baixo custo como tem sido priorizado, outros<br />
fatores devem ser agregados na busca de soluções de consenso, e atendam a demanda de<br />
um maior número de usuários e que permitam mais sustentabilidade.
Ii Siastentabilidade dos Recursos de Produçiio<br />
É necessário que se criem mecanismos para verincar premissas de controle<br />
ecológico, de modo que o enfoque esteja mais relacionado com as ações humanas,<br />
levando-se em conta que estão sujeitas falhas que provocam acidentes. Desse modo,<br />
talvez se possa compreender o conceito de sustentabilidade, gerando mecanismos a<br />
partir das ações de controle e monitoramento constante. Também ocorrem muitas<br />
catástrofes provocadas por forças naturais, na conjugação de fatores como ondas e<br />
ventos , etc.. que podem ser monitorados. Nesse sentido, a ação do monitoramento pode<br />
ser bem mais abrangente, incorporando todos os fatores de demanda englobando<br />
informações também sobre s ocorrência de cardumes, sob quais condições climáticas o<br />
pescador vai trabalhar ou a operadora vai programar os seus mergulhos.<br />
A disc~issão sobre sustentabilidade após a leitura ecológica do início da década<br />
de 1992, passou a preconizar a importância econômica dos sistemas naturais de forma<br />
integral, não somente em relação as florestas e rios em situação de risco em diversas<br />
partes do mundo, mas abrindo grande discussão sobre o uso do espaço oceânico.<br />
O conceito de sustentabilidade ganhou outra conotação e conclusões, resultantes<br />
de estudos de causas de efeitos dos acidentes como os das plataformas de Piper Alfa,<br />
Enchova e do petroleiro Exxon Valdez por exemplo. Neste campo, que envolve uma<br />
estreita relação com máquinas, equipamentos e riscos, a sustentabilidade é muito difícil<br />
de ser definida, reportando mais uma vez para questão da vocação, formação e<br />
qualificação diferenciada em relação ao trabalho no mar, e mais especificamente em se<br />
tratando de mergulhadores e equipamentos de operações submarinas.<br />
O uso e ocupação sustentável do espaço tridimensional oceânico, atrav6s de<br />
sistemas operacionais com emprego de tecnologias apropriadas, para serem<br />
desenvolvidos, dependem de treinamento para competência, eficiência e seguranqa do<br />
trabalho e ambiente, que efetivamente promovam a smi-entabilidade.<br />
Os espaços oceiinicos são vastos sem referências de superfície, para localização de<br />
pesqueiros, pontos turísticos ou sítios arqueológicos, em estruturas naturais ou artificiais,<br />
o que demanda tecnologia sofisticada e equipamentos de alto custo, que só podem ser<br />
viabilizados através do planejamento e gestão adequada desses sistemas complexos.<br />
2.2.4. Fatores de Ocorrência da Bioprodução<br />
O espaço oceânico ocupa mais que 70% da superfície do planeta e somente nas<br />
últimas décadas através da pesquisa submarina foi possível visualizar as correntes<br />
o~eânicas e em mar aberto e zonas mais prohndas dos oceanos (Anexo Ii Parte I),
constatando-se, por exemplo, que havia formas planctônicas desconhecidas e processos<br />
de quimiossíntese sustentando cadeias alimentares, mantidos por gazes emanados da<br />
crosta submersa. A bioprodução aquática se mostra cada vez mais complexa e somente<br />
nas décadas de 1980 e 1990 foi possível interpretar esses sistemas, através de imagens,<br />
para melhor compreender suas interações ecológicas.<br />
figura 13: Representação da ressurgêneia no formato i leste costa (após Moreira da Silva 1978)<br />
A parte central da Região Sudeste objeto desse estudo é muito peculiar em filnqão<br />
da produtividade na área do cabo Frio. A ressurgência, como pode ser observado na<br />
Figura 13, é uma ocorrência resultante da ação dos ventos sobre a camada superficial<br />
dos oceanos, empurrando as águas mornas para fora da costa e provocando a subida das<br />
águas ft-ias. No caso do cabo Frio, segundo MOREIRA DA SILVA (1972), na encosta<br />
externa da ilha que atinge 50 metros de profundidade, durante a maior parte do ano<br />
(80%) mantém águas de baixa temperatura (15" ou menos), originaria das profundezas<br />
do oceano e muito mais ricas em sais nutrientes que as águas superficiais. Quando essa<br />
massa de água aflora na zona eufótica de superficie, induz a produção de fitoplancton,<br />
que é a base da cadeia alimentar de espécies comerciais de peixes. Outro fato foi a<br />
descoberta, durante a instalação de dutos submarinos, de bancos de corais em<br />
profbndidades superiores a mil metros na bacia de Campos, em 1998, por exemplo,<br />
deveria ser melhor estudado e discutido com a comunidade científica.<br />
Os espaços oceânicos são vasiíssimos, com poucos referencias visíveis como ilhas<br />
ou rochedos, os únicos identificadores são as modificações no relevo submarino e as<br />
formas de vida encontradas em cada ecossistema. Enquanto o referencial submarino
permanece estável, a interação de formas de vida, depende de condições ambientais, que<br />
podem ser propícias ou hostis, para cada espécie ou cadeia alimentar. A produção<br />
biológica, ou bioprodução aquática é uma decorrência de fatores e fenômenos naturais,<br />
que interagem de forma favorável a formação de cadeias alimentares primárias e<br />
superiores, de espécies com as mais variadas dimensões, formas e comportamentos, da<br />
qual muito pouco se conhece.<br />
Sabe-se entretanto, que as formações submarinas de elevaçiio do relevo, fendas e<br />
cavernas são mais propícias a concentração de biomassa, e dependendo de outros<br />
fatores como correntes e componentes físico-químicos, contribuem para uma<br />
bioprodução abundante de plancton, a base da cadeia alimentar de espécies adultas que<br />
servem para consumo. O conhecimento dessas interações do relevo submarino na<br />
produção planctônica, como na observação de ressurgência em recifes naturais<br />
(UEMITA, et al., 1984) e o modelo hidráulico experimental de recife artificial para<br />
provocar ressurgência (MATSUMOTO, et al., 1981) entre outros, têm sido o principal<br />
instrumento de cientistas e técnicos japoneses para o estabelecimento das bases de<br />
desenvolvimento de fazendas marinhas som recifes artificiais e flutuantes atratores.<br />
Essas cadeias e níveis de interação biológica de produção, dimensionando a<br />
bioprodução, ocorrem em águas interiores e oceânicas; na coluna de água, sobre o<br />
fundo, fixas ou incrustadas sobre superfícies de estruturas naturais ou artificiais,<br />
formando a Comunidade Bentônica. Os sistemas de coloniza@o bentônica dependem<br />
de caracteilsticas do substrato, suas dimensões e da abundância de ocorrência de<br />
espécies na massa de água, para que se fixem (no substrato) ou permaneçam em torno<br />
das estruturas. Essas formas de vida podem ser microscópicas, como fitoplâncton,<br />
zooplancton e larvas de rnoluscos, crustáceos, peixes, corais ou equinodermos; ou<br />
espécies maiores na fase adulta, peixes e moluscos. Nesse estudo o conceito de<br />
bioprodução abrange todas as condições de sua ocorrência natural ou induzida,<br />
incluindo os novos campos da biotecnologia.<br />
Aplicaçiio de Métodos de Pesquisa de Recursos Submarinos<br />
A investigação do processo de desenvolvimento do conhecimento sobre os<br />
oceanos demostrou que, a evolução da pesquisa submarina e transmissão de<br />
conhecimentos, ocorreu de forma expontânea passando entre gerações, que por sua vez<br />
propiciaram a introdução de novas tecnologias, métodos e equipamentos diferenciados,<br />
para várias formas de exploração submarina.
Nessa cadeia de conhecimento, observou-se na América do Norte, que o<br />
mergulho autônomo ganhou prestígio entre os ictiólogos, inclusive veteranos<br />
escafandristas como Vermon Brock e Carl Hubbs, incentivados por Limbaugh, que foi o<br />
pioneiro no uso do aqualung na região do Scripps. Hubbs foi um pioneiro no<br />
reconhecimento da importância dos recifes artificias para atividade pesqueira (HUBBS<br />
e ESCHMEYER 1938). Limbaugh foi citado por CARLISLE et al. (1964) pela sua<br />
importante colaboração e conhecimentos, durante os primeiros trabalhos científicos de<br />
implantação de recifes artificiais na Califórnia, que empregaram os métodos de BROCK<br />
(1954) para estimativa populacional de peixes.<br />
O objetivo direto dessas pesquisas consistiam na avaliação do comportamento de<br />
diferentes tipos de estrutura, incluindo plataformas de prospecção e exploração de<br />
petróleo, visando melhorar as condições de pesca recreativa, competitiva e comercial.<br />
No caso do Brasil como foi observado a pesca sempre foi proibida nas plataformas e<br />
instalações de produção de óleo e gás, provocando conflito. O conhecimento dos<br />
mergulhadores de pesca deixou de ser repassado para técnicos e pesquisadores Ia 6rea<br />
de biologia pesqueira, abrindo um grande espaço vazio em relação ao que foi<br />
investigado e levantado em outros países, e um processo de livre gestão para exploração<br />
da pesca submarina e de superficie, dividindo espaços com outras atividades<br />
complementares e antagônicas.<br />
No Japão, as pesquisas submarinas se intensificaram com os processos de<br />
desenvolvimento de estsuturas de recifes artificiais, que partiram da iniciativa de<br />
pescadores profissionais junto as prefeituras locais, viabilizando a criação de programas<br />
nacionais. Neste caso as observações submarinas passaram ao experimento científico<br />
em centros de pesquisa regional, levando a elaboração de projetos mais específicos e<br />
detalhados, que incluíram oito experimentos em tanques abertos e laboratório.<br />
No primeiro experimento em tanque aberto, para observação preliminar do<br />
comportamento de algumas espécies em relação as estruturas, OGAWA e TkKEMURA<br />
(1966) concluíram que a eficiencia do modelo de recife para atrair peixes variava<br />
dependendo do modelo e do tamanho do recife, mas essas variações eram irregulares e<br />
coditantes. No segundo o experimento em tanque fechado foi acompanhado com<br />
equipamento fotográfico, sem a interferência humana (TAXEh4üRA e OGAWA,<br />
1966); que foi seguido por uma série dirigida a cada espécie selecionada, e as condições<br />
específicas de ambiente bentônico. O oitavo experimento foi direcionado a uma espécie<br />
pelágisa que percorre distancias na cosia japonesa, similar ao olhete (seriola sp)
encontrado no litoral brasileiro da Região Sudeste, com o emprego de recifes no &ndo e<br />
atratores flutuantes (OGAWA, 1968). Essas pesquisas serviram para orientação do<br />
pescador em relação a construção dos recifes e ao comportamento e posir,ionamento de<br />
cada espécie comercial analisada, em relação aos tipos de estrutura.<br />
As pesquisas submarinas mais detalhadas da bioprodução evoluíram a partir da<br />
dhda de 1960, diferenciadas de acordo com os seus objetivos. Com o direcionamento<br />
as pesquisas da biomassa na coluna de água ou bentônica, as avaliações de<br />
equipamentos e aos efeitos de cada modalidade de pesca comercial; ou especificamente<br />
de recifes e flutuantes atratores. O volume de informações e referências de pesquisas<br />
com emprego de mergulho autônomo, aumentou com o grau de especialização<br />
decorrente das condições de cada região e objetivos da pesquisa, que cada vez mais se<br />
estendiam para áreas onde os métodos convencionais não conseguiam alcanqar.<br />
O levantamento do volume de ocorrência de algas em uma grande faixa sub-<br />
litoral da Ilha de Man na Inglaterra, foi facilitado com o emprego de um coletor manual<br />
com 24 cm para raspagem de algas, desenhado especialmente para esta pesquisa (KAIN,<br />
1960) de mergulho autônomo. Com o coletor manual foi possível escolher os locais em<br />
diferentes profundidades, facilitado pela observação direta das zonas e limites de<br />
ocorrência de cada espécie, levantando grandes áreas em menos tempo e de forma mais<br />
qualitativa. Em pesquisa dos efeitos da formação de tubos depoliquetas na baia de La<br />
Jolla na Califórnia, FAGER (1964) empregou um coletor vertical com 35 cm 2 de boca<br />
quadrada aberto nas extremidades, com altura de acordo tipo de amostra ou fimdo. O<br />
aparelho era enfiado no fundo arenoso, retirando o espécime no seu tubo e a amostra do<br />
fundo no entorno, permitindo melhor avaliação do micro-sistema. Nessa mesma época,<br />
iniciou levantamento e amostragem de comunidades em fundos rasos de areia, com o<br />
emprego de um aro metálico de 1,O m2 /4 de diâmetro (FAGER, 1968).<br />
No Havaí, as pesquisas sobre a ecologia do coral negro incluíram transplante de<br />
em vários estágios de crescimento, para áreas mais rasas. Com o aqualung foi possível<br />
encontrar e verificar as diferentes condições de temperatura, salinidade, luminosidade e<br />
outros fatores fisico-químicos dos transplantes, em condições climáticas adw-sas<br />
(GRIGG, 1965). Na Noruega o declínio da pesca comercial de lagostas levou a pesquisa<br />
do hábito da espécie local de se enterrar @UBERI\J, HOISAETER, 1965), que só foi<br />
possível com o emprego do aqualung.<br />
O mapeamento dos ambientes marinhos de São João nas Uhas Virgens, foi<br />
conduzido complementando fotografias aéreas e de observações diretas com trenó
submarino rebocado por uma embarcação de rumo. Esse planador foi considerado por<br />
KUR.IPF e RANDSAL (1961) como uma operação prática e detalhada cobrindo grande<br />
área, em tempo de conveniência de detalhes. A organização dessas informações tornou<br />
possível a melhor compreensão dos mecanismos dos sistemas marinhos do Parque<br />
Nacional das Ilhas Virgens na costa dos Estados Unidos.<br />
Por toda dkada de 1970, as pesquisas submarinas se intensificaram em duas<br />
formas, principalmente após o início da prospecção e instalar,ão de sistemas oceânicos<br />
em águas mais pronindas, nos meados da decada de 1980.<br />
a) Métodos diretos 024 métodos de observap30 direta, quando o operador está<br />
presente no local, seja através do mergulho livre em apngia, ou embarcado num<br />
submarino de pesquisa nos 3 mil metros de proflindidade.<br />
b) Métodos indiretos ou sensoriamenfo remoto, quando o operador envia algum<br />
equipamento monitorado, obtendo imagens e através de aparelhos e sensores.<br />
O processo de robotização começou a se intensificar com o início das operações<br />
a partir dos 500 metros, onde o mergulhador com os métodos convencionais correm<br />
riscos desconhecidos. k objetividade de se obter uma informaqão direta e indireta, foi<br />
analisada por HERRNKH\SD (1974), relevando a contribuição da pesquisa submarina<br />
direta do Scientists-in-the-Sea, dispondo as possibilidades de pesquisas com<br />
equipamentos básicos de apnéa, e scuba, e os indiretos com vídeos, sensores, telemetriz,<br />
monitores acústicos, muitos instrumentos que evoluíram. Nesse período as pesquisas<br />
através de habitações submarinas traziam resultados de quase uma década de cientistas<br />
residindo no fundo dos oceanos conduzindo planos de pesquisas integradas;<br />
equipamentos e as câmaras de vídeo podiam ser fixadas no fundo, em grandes<br />
profundidades, trazendo iriTormações e imagens em tempo real, por um longo tempo.<br />
Nos Estados Unidos as pesquisa de recifes artificias, seguiram a tendência do<br />
mergulho recreativo, com anindamentos de navios e ouiros tipos de atrativos, como<br />
aviões e automóveis, assim como a intensificação de explorações submarinas em busca<br />
de nauságios perto da costa e nas proÍbndezas. Na pesca de mergulho, esportiva e<br />
comercia! além dos naufrágios, os governos estaduais atuaram regulamentando as<br />
atividades nas plataformas de petróleo e incentivando a utilização das plataformas<br />
desativadas como recifes artificiais.<br />
No Japão os projetos de promoção da pesca foram de longo prazo. Tiveram<br />
início na década de 1970, e incluíam a recuperação de áreas e a construção de fundos<br />
artificiais, com 50% de subsídios governamentais. No segundo plano de 1971-82, os
projetos continuaram subsidiados, e as estrutmras de tamanho médio foram incorporados<br />
ao plano de manutenção das áreas de pesca. Durante o período de 1976-82, a<br />
programação foi dividida em dois projetos, foi mantido o plano de manutenção, e<br />
criado o plano de desenvolvimento de fundos de pesca, ambos com os recifes médios<br />
s~ibsidiados em 50% e recifes grandes em 60%. Os Projetos na escala de sistemas<br />
regionais foram subsidiados na ordem de 70%, e os recifes eram considerados como<br />
bens públicos de produção. Em 1984 mudou-se a concepção de projetos de obras e<br />
benfeitorias, com o desenvolvido o plano Murinovnfion, com uma concepção integrada<br />
de múltiplo uso e oc~rpação do espaço tridimensional submarino.<br />
2.3. Situação da Inovação Tecnoiógica no Uso do Espaço Oceânico<br />
O uso do espaço oceiinico, como no design da proposta do Marinovation (Fig. 3) em<br />
seu estado-da-arte para bioprodugão e atividades complementares, implica na formação<br />
de redes de conhecimento, a base interdisciplinar do planejamento e da organização de<br />
sistemas integrados voltados ao miáltiplo uso. Esforços neste sentido poderem ser<br />
direcionados através da formação de centro de excelência (Figura, 14) onde se pode<br />
concentrar o conhecimento especializado de cada instituição e de pesquisadores<br />
interessados, possibilitando o desenvolvimento e aplicação de novas técnicas.<br />
Entretanto, no estágio atual de conhecimentos sobre fazendas marinhas 6 necessário<br />
inicialmente o equacionamento de problemas crônicos como os da degradação da faixa<br />
costeira e das atividades predatórias, incluindo a pesca como a de arrasto.<br />
A contribuição desta tese para esses novos estudos de sistemas de produção, se<br />
baseia na apresentação dos componentes básicos de planejamento que propõe a<br />
instalação de estruturas que servem para o melhor aproveitamento do potencial natural<br />
dos mares. Cabe ressaltar que a viabilizagão desses empreendimentos depende de<br />
vontade política e outros diversos fatores, que incluem os sócio-econômicos e<br />
tecnológicos. Por estes aspectos torna-se necessário a adoção de planos de gestão da<br />
faixa costeira, observando-se o inter-relacionamento das atividades no múltiplo uso e<br />
buscando a identificação de fatores complementares e antagônicos<br />
No caso da proteção de praias, como do Leblon na zona sul da cidade do Rio de<br />
Janeiro optou-se pela engorda com dragagem de areia que foi naturalmente esvaziada,<br />
com a aplicação recifes de proteção a areia pode ser contida ( RWTA et al. 2001).<br />
Posteriormente outra dragagem não se repetiu na praia do Arpoador devido ao<br />
questionamento da eficiência por parte da Surf Rider Fozrndation, sendo seguida pela<br />
recuperação natural da faixa de areia.
Figura 13 : Proposta de rede de tecnologia interdisciplinar (CENTEXICOPPE)<br />
Apesar de algumas iniciativas para construção de recifes artificiais e flutuantes<br />
atratores de peixe, como da FIPERJ - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de<br />
Janeiro e da Prefeitura de Angra dos Reis, (HARGREAVES, 1994~) a falta de recursos,<br />
inviabilizou a sua execução em grande escala. No caso da pesquisa com estruturas de<br />
produção de petróleo após o descomissionamento, visando a construção de pesqueiros,<br />
no Brasil, poucos estudos abordaram esse tema (RODRIGUEZ, 1997) e mais recente<br />
RUIVO e MSJRIOKA (200 1) apresentaram um resumo de critérios internacionais.<br />
No cenário internacional, as pesquisas de transformação de estruturas de produção<br />
de petróleo e gás em pesqueiros então em andamento. No México, com o crescimento<br />
da exploração de petróleo nos últimos 40 anos, a atividade pesqueira de arrasto perdeu<br />
áreas de pesca, que parece ter influenciado na recuperação de estoques. Também de<br />
alguma forma pode ter precipitado a decadência dessa atividade predatória, levando ao<br />
ahndamento de embarcações de arrasto para formação de recifes (CAR<strong>DE</strong>NAS et al.,<br />
1999). No Reino Unido, onde há o predomínio da pesca de arrasto e pressões de grupos<br />
ambientalistas, os governantes estão diante de interesses antagônicos de pescadores,<br />
ecologistas e setores de produção (BAINE, 1999).<br />
O contexto da tese, como alternativa de se atingir um novo patamar tecnológico<br />
para Sistemas de Bioprodução e Serviços Sustentáveis, sugere a apropriação da<br />
tecnologia desenvolvida na prospecção e exploração de hidrocarbonetos, para outras<br />
finalidades, o que demandaria adaptações e a incorporação de outras ciências, formando<br />
um quadro interdisciplinar com segmentos de grupos de pesquisas complementares.
Devido a complexidade de organização desses conhecimentos, a contribuição da<br />
tese busca demonstrar que a distribuição dos recursos do espaço oceânico 6<br />
economicamente viável e sustentivel, mediante a aplicação dessas tecnologias<br />
disponíveis, que possam ser adequadas à viabilizagão de sistemas produtivos.<br />
Mesmo que a questão da complexidade envolva o equacionamento de virios<br />
fatores integrados, o estudo do problema de viabilidade pode ser organizado com mais<br />
objetividade. Nesse sentido, os aspectos políticos e institucionais relativos as propostas<br />
de planejamento e gestão tornam-se secundários, quando o tema é dirigido<br />
especificamente para as causas e efeitos de instalações de estruturas, na recuperação de<br />
sistemas e aumento da bioprodução.<br />
No iimbito do planejamento dos métodos de construção de estruturas para proteção<br />
da faixa costeira e do litoral submerso, ou seu emprego para indução do aumento da<br />
biomassa de consumo no espaço oceânico, a questão é como se apropriar dessa contínua<br />
inovação tecnológica da prospecção e exploração do petróleo, visando a sua aplicação<br />
em sistemas de bioprodução e serviços. Nesse cenário, as diversas atividades para serem<br />
sustentáveis dependem de outros fatores, que são decorrentes de um conjunto de ações<br />
resultantes do amplo quadro de usuários.<br />
No cenário atual, com a inclusão da divisão do espaço oceânico em blocos para<br />
concessão de exploração de petróleo, cada vez em iguas mais profirndas, a situação se<br />
tornou ainda mais direcionada a esses produtos, com conseqüências desconhecidas para<br />
pesca e outras atividades nesses espaços. Assim sendo, tomam-se necessárias novas<br />
propostas e métodos para a escolha de critérios de divisão do espaço costeiro e<br />
oceânico. Nos quais se possam compreender os mecanismos naturais e as medidas que<br />
podem ser adotadas para um melhor aproveitamento dos recursos, com o maior número<br />
de usuários. Planos de Gestão e formas de gerenciamento podem evitar conflitos dos<br />
diferentes grupos de interesse para cada tipo de recurso, sem comprometer a<br />
sustentabilidade, buscando agregar informações sobre os efeitos do múltiplo uso.<br />
Principalmente levando-se em consideração que pouco se conhece sobre o espaqo<br />
tridimensional submarino.<br />
2.4. Organizaçiio de Sistemas Sustentáveis de Múltiplo Uso<br />
O planejamento de sistemas integrados de produção e serviços, visando o múltiplo<br />
uso dos recursos costeiros e oceânicos de forma sustentável, envolve formas de<br />
eq~mionamento complexas que dependem de estudos interdisciplinares para cada<br />
tópico de pesquisa, assim como de métodos avançados de levantamento e
dimensionamento de recursos (HARGREAYES, ESTEFEN, 1999). A proposta deste<br />
item visa apresentar modelo de planejamento que possa contemplar os principais<br />
tópicos necessários de avaliação dos recursos do espaço tridimensional marinho e as<br />
possibilidades de atender a demanda de diferentes usuários.<br />
O planejamento dos sistemas deve ser visto de forma dinâmica e pontual, no sentido<br />
de objetividade compatível com a realidade da situação, relativa as características<br />
naturais e nível tecnológico dos meios de produção de cada região.No modelo de<br />
planejamento proposto na Figura lSa, a metodologia busca a organização do<br />
conhecimento em três componentes:<br />
a) Neste componente são pesquisadas e avaliadas as Formas Mais Avançadas De<br />
Utilização Do Espaço Oceânico, buscando a sua adequação a realidade brasileira,<br />
para se desenvolver os conceitos de gestão dos recursos para o múltiplo uso. O<br />
embasamento técnico e científico deve ser equacionado de forma que possa servir de<br />
subsídio para estudos de regulamentação do uso e preservação dos recursos. A<br />
conciliação desses fatores servem de base para formulação dos planos integrados de<br />
gestão participativa, geradores dos sistemas sustentáveis de múltiplo uso.<br />
b) O do Domínio Da Dinâmica Ambienial com objetivo de encontrar subsídios que<br />
permitam uma coerência na divisão espacial em fbnção da avaliação dos recursos.<br />
Este componente depende de pesquisas sobre a possibilidades do espaço oceânico<br />
que se pretende utilizar, formando o quadro interdiscipfinar que facilite o<br />
dimensionamento dos recursos e sua importância econômica. Nesta etapa se busca<br />
uma visão realista das características e potencialidades do espaço tridimensional<br />
submarino, com conhecimentos específicos direcionados a avaliação da<br />
complexidade das atividades de uso e formas de utilização dos recursos naturais.<br />
Através do conhecimento dos recursos disponíveis e suas possibilidades de<br />
aproveitamento, se pode avaliar os efeitos sócio-econômicos regionais dos bens e<br />
serviços disponibilizados.<br />
C) O da Inovação Nos Meios De Produção compatíveis como novas formas de gestão<br />
dos recursos, através da aplicação de tecnologias avançadas desenvolvidas na<br />
produção de petróleo e formas gerenciais mais modernas. Neste componente são<br />
analisados os diversos problemas encontrados atualmente nos meios de produqão da<br />
atividade pesqueira e suas interações com outras atividades; observando-se as<br />
externalidades, relações de c~istos, condições dos equipamentos e das formas de<br />
trabalho, assim como os impactos ambientais. Através desse diagnóstico, se pode
avaliar as possibilidades de aplicação de novas tecnologias e formas operacionais,<br />
seguindo parâmetros de eficiência, segurança e sustentabilidade.<br />
A estsutura complexa apresentada na Figura 14 pode ser interpretada de forma<br />
simplificada, considerando-se os conjuntos de conhecimenios e níveis tecnoiógicos a<br />
serem pesquisados e disponibilizados, como pode se observado na Figura 15b.<br />
TECNOLOGIA Conhecimento do espaço oceiinico ao alcance<br />
<strong>DE</strong> COIVSWO 4 dos usurírios com limitag4es tecnológicas<br />
f<br />
TECNOLOGIG Conhecimento de técnicas aperacionais, manejo<br />
<strong>DE</strong> PRODUÇÃO de recursos, anrílise de riscos, sustentabilidade<br />
-i-<br />
TECNOLOGIA Projetos tecnológicos, geraçffo e transferência<br />
ESTRATEGICA de teenologias oceiinicas avanpdes<br />
3.<br />
PLANEJAMENTO Plano integrado de ativid~des, ações<br />
INTEGRADO 4 participativas pública, privada e tecnológiea<br />
f<br />
AVALIAÇÃO Anllise crítica de ações, regras e procedimentos<br />
-<br />
EFEITO SETORIAL Aumento de emprego e renda dos usuirios<br />
EFEITO REGIONAL melhoria das condiqles de vida da popula@o<br />
Rgura 15b - Organização do conhecimento oceânico para o múltiplo uso sustentável<br />
Dessa forma a tecnologia de consumo pode ser interpretada como informação básica<br />
neçessária que pode ser disponibiiizada para o grande püliico de usuários, como<br />
informações de condições climáticas e da hgua do mar, facilitando a programação de<br />
atividades e evitando condições de risco. A tecnologia de produção se rekre as técnicas<br />
de pesca, maricultura, fazendas marinhas ou as de ocupação do solo submarino com<br />
atrativos de mergulho recreativo, envolvendo níveis de pesquisa mais elaborados<br />
voltados ao aumento da produtividade ou sistemas operacionais. O campo da tecnologia<br />
estratégica neste caso se refere aos estudos e pesquisas avanças, fora do escopo<br />
operacional, destacando-se para programas específicos decorrentes de demandas de<br />
forte impacto sócio-econômico, como no caso da situação atual referente ao<br />
considerável desnível tecnológico entre o setor pesqueiro e o de produqão de petróleo.<br />
Obs.: Infoimações complementares ANEXO H
3.1. Metodologia de Planejamento de Sistemas de Múltiplo Uso<br />
A partir do quadro geral de planejamento de sistemas integrados de produção e<br />
serviços (FiguralSc), visando o múltiplo uso sustentável dos recursos costeiros e<br />
oceânicos, foi estruturada a forma de conduzir os processos de organização de cada<br />
componente com: métodos de levantamento e dimensionamento de recursos; planos de<br />
ações institucionais e organizacionais; e os sistemas de produção e serviços<br />
(HARGREAVES, ESTEFEN 19993. Neste item são apresentados os modelos de<br />
execução dos principais tópicos necessários de avaliação dos recursos do espaço<br />
tridimensional marinho e as possibilidades de atender a demanda de diferentes usuários<br />
com sistemas de produção e serviços eficientes e sustentáveis.<br />
As pesquisas oceânicas necessárias a organização de sistemas operacionais de<br />
produção e serviços, tem sido direcionadas a solução de problemas em diferentes áreas,<br />
como navegaçgo de íxansporte, produção de petróleo e outras atividades como pesca,<br />
turismo e lazer, entretanto com níveis de aprofundamento distintos, sem que sejam<br />
tratados de forma interdisciplinar para esse objetivo. No caso da região sudeste a<br />
tecnologia de exploração do petróleo atingiu alto padrão internacional em diversos<br />
segmentos de prospecção e produção, enquanto na atividade pesqueira somente o<br />
processamento para exportação atingiu patamares adequados. A realidade da situação,<br />
considerando as condições precárias atividade pesqueira, da capacitação em atividades<br />
oceânicas e a necessidade de organização de sistemas complexos, para implantação de<br />
sistemas de produção como foi observado (Figura 12), neste caso a maior prioridade<br />
considerada foi o conhecimento dos recursos naturais e suas possibilidades de indução,<br />
visando maior capacidade de sustentação da produção da atividade pesqueira.<br />
As novas descobertas no solo submarino são decorrentes das pesquisas de<br />
exploração de petróleo, que apontam grande diversidade de ecossistemas, mudando<br />
paracligmas sobre a suposta homogeneidade de grandes áreas oceânicas. Entretanto,<br />
essas informações estão restritas ao campo visual de imagens obtidas através de ROV e<br />
aos relatos de mergulhadores, necessitando serem analisadas para a interpretação de<br />
limites espaciais que possam caracterizar a bioprodução em torno das estruturas.<br />
Em cenário mais abrangente, propostas aparentemente utópicas de, custos<br />
elevados, como os levantamentos do relevo submarino, da biomassa bentônica e<br />
nectônica ou dos demais fatores oceanográficos, que possam servir na avaliação de
potencialidade da biopiodução e sua localização, devem ser priorizados com<br />
alternativas de menor custo, ou através de acordos com empresas especializadas de<br />
prospecção contratadas por produtoras de petróleo. Esse aspecto é fundamental para a<br />
descoberta de novas áreas de pesca e maior controle sobre os locais mais disputados,<br />
com informações mais precisas possibilitando a organização de novas formas de gestão<br />
e manejo, adequadas quanto a eficiência e sustentabilidade.<br />
3.2. Configuração do Método de Planejamento de Sistemas Operacionais<br />
O planejamento de sistemas deve ser visto de forma ao mesmo tempo, dinâmica<br />
e pontual, no sentido da objetividade compatível com a realidade da situação, as<br />
características naturais e ao nível tecnológico dos meios de produqão de cada região. No<br />
modelo de plano proposto na Figura 15c, a metodologia de organização dos fatores de<br />
equacionamento (HARGREAVES, ESTEFEN 19993. se baseia nas relações de três<br />
conjuntos com três componentes:<br />
a) Os Cenários compreendem o âmbito das interações sócio-econômicas, das<br />
informações abrangentes sobre regiões, zonas e áreas específicas, visando sua<br />
caracterização através das condições de uso do espaço tridimensional submarino; das<br />
formas dc gestão do trabalho e de meio-ambiente; e de diferentes modalidades de<br />
produção ou formas de utilização dos recursos naturais. Esses dados servem para<br />
definição dos componentes de projetos integrados em função das características gerais e<br />
específicas de cada local.<br />
b) Os Planejamentos Integrados incluem métodos de levantamentos e<br />
pesquisas direcionadas, que possibilitem a configuração do zoneamento de sistemas<br />
naturais para interação com os de produção e serviços adequadamente dimensionados,<br />
através de planos de manejo e gestão dos recursos e de organização operacional das<br />
atividades.<br />
c) Os Componentes de Projetos e Sistemas executam as intervenções<br />
necessárias, definidas através das demandas identificadas no equacionamento dos<br />
planos de execugão dos projetos, em cada um dos seus componentes que precisa ser<br />
atendido para construção dos sistemas de produção e múltiplo uso.
PUNEJAMEIYTO <strong>DE</strong> <strong>SISTEMAS</strong> INTEGRADOS<br />
Planos de Manejo e Ckxtâo de<br />
1<br />
I
3.3. Descrição dos Componentes de Planejamento de Sistemas<br />
Zoneamento dos Sistemas<br />
6s componentes de zoneamento devem ser definidos com o objetivo de<br />
promover um aproveitamento integral do espaço tridimensional submarino para o<br />
múltiplo uso. Para atender essa demanda se torna necessário a condução de<br />
levantamentos dos espaços regionais, especificando os níveis de detalhamento para cada<br />
local, levando-se também em consideração as divisões estaduais e municipais.<br />
O levantamento dos componentes tridimensionais incluem as formas possíveis<br />
de obtenção de dados como imagens de satélite, pesquisas submarinas de biomassa,<br />
mapas de bordo de pesca, relevo submarino com eco-sondas e varredura lateral (side-<br />
scan), e demais informações oceanográficas de correntes, fatores e componentes fisicos<br />
e químicos da água, e outras informações pertinentes a caracterização geral e sazonal<br />
de cada espaço estudado.<br />
A caraterização dos sistemas depende de interesse de interpretação, o que pode<br />
gerar discussões. No caso desse estudo as referências básicas são sistemas naturais que<br />
ocorrem espontaneamente das relações ecológicas, e os de produção que atuam sobre<br />
eles. Quanto a caraterização dos sistemas naturais, podem ser os de relação biológica<br />
especificamente tratando de uma identificação decorrente da ocorrência biológica ou<br />
predominância de uma determinada espécie, ou os de caracterização geomorfalógica<br />
como um determinado conjunto de ilhas, costões, praias que podem cofigurar um<br />
sistema. Não há intenção em se definir ou caracterizar um sistema que seja limitado a<br />
uma determinada definição, mais sim a um espaço natural de interações ecológicas e<br />
biológicas, onde se pretende interagir com sistemas de produção e serviços. Através da<br />
organização locacional desses componentes se pretende dividir, qualificar e quantificar<br />
os sistemas, como poderá ser observado posteriormente na aplicação deste conceito,<br />
baseado principalmente na vocação de seus recursos, quando se estabelece as relações<br />
espaciais de múltiplo uso.<br />
Planos de Manejo e Gestão de Recursos<br />
Qualquer atividade humana, como a pesca e produção de petróleo, ou ocorrências<br />
naturais simples como a ação de uma brisa no mar, exercem níveis de interferência nos<br />
sistemas naturais, com conseqüências complexas em cadeias praticamente impossiveis<br />
de serem determinadas com a tecnologia disponível atualmente. As bases de avaliação<br />
de impacto ambienta1 aceitas na concepção desse estudo são as obtidas através dos<br />
métodos diretos submarinos, que são os principais instrumentos de definição e
planejamento dos sistemas integrados de produção e serviços para o múltiplo uso de<br />
forma sustentável. E como foi observado no item 2.3.2. Condicionantes Sócio-<br />
Tecnológicos de Viabilidade e Sustentação de Sistemas envolvem outros fatores e<br />
estudos organizacionais de trabalho interagindo com sistemas naturais.<br />
Neste caso, as referências quanto a organização das atividades tratam de<br />
bioproduqão e complementares, como turismo e recreação, que em hção das<br />
características naturais dos sistemas, determinam os processos de decisão e geram os<br />
subsídios de definição das estratégias de produção, para composição de modus<br />
operandis da sistemática de uso integrado e participativo, supondo acordos entre as<br />
partes interessadas.<br />
Sistemas de Produção e Serviqos<br />
O planejamento de uso e aproveitamento dos recursos do espago tridimensionai são<br />
decorrentes de estratégias e políticas definidas pelos planos de desenvolvimento<br />
regional integrado, que neste caso procuram acompanhar os diversos fatores<br />
apresentados no Capítulo I, relacionados aos acordos da FAOAJN e considerações<br />
sobre o uso apropiado do solo submarino, manutenção e indução de produtividade em<br />
habitats naturais.<br />
Esse planejamento tem como tinalidade a definição das formas como os espaqos<br />
levantados, que permitiram o zoneamento dos sistemas. Podem ser utilizados mediante<br />
a aplicação das tecnologias disponíveis e aplicáveis em planos de gestão, formando os<br />
sistemas integrados de múltiplo uso, voltados a bioprodução e atividades<br />
complementares.<br />
3.4. Avaliação da Compatibilidade por Atividade e Níveis de Interação<br />
3.4.1. Processo de Estruturação de Matriz Gerencial<br />
No contexto das formas aplicadas eni planos de manejo de uso dos espagos costeiros e<br />
oceânicos, os conceitos de equilíbrio de sistemas naturais (ou ecológicos) podem variar<br />
de acordo com as tendências e bases econômicas de avaliação. Nesse processo são<br />
considerados os valores de atuação que se revertem em melhor aproveitamento de<br />
múltiplo uso, sem afetar a sustentabilidade do sistema.<br />
A importância do equilíbrio ambienta1 quando avaliado em relação a cada item de uma<br />
matriz de usuários, abre um leque de variáveis que se tornam o principal instrumento de<br />
gestão das zonas costeiras e oceânicas. Na Figura 16 está representado o conceito geral<br />
da atividades em relação aos recursos de uso e consumo, de um lado os setores
potencialmente degradadores e do outro as atividades que interagem dependendo da<br />
potencialidade dos recursos naturais .<br />
Wgira 16: Tip~s de relação por atividades com os recursos naturais<br />
No contexto se deve ressaltar a problemática envolvendo a questão ambienta1<br />
decorrente do crescimento da indústria do petróleo, de importância fundamental para o<br />
desenvohimente da nação. Para encontrar instrumentos de eqilaciomnento desses<br />
problemas se toma importante voltar a estudos anteriores de amplitudes proporcionais,<br />
como no caso da Califórnia, principalmente porque como foi observado no Capítulo I,<br />
os processos de gestão governamental no Brasil ainda se encontram em fase de<br />
definição sobre essa questão de múltiplo uso.<br />
No estado da Califórnia, a maior parte do controle estatal sobre as atividades de<br />
maior impacto como a mineração oceânica, foram conduzidas pela State Land<br />
Commission composta pelo governador, o agente controlador regulador e o ordenador<br />
de finanqas. Cabe salientar que já nos meados da década de 1960 todas as operações de<br />
minerapão e extração de petróleo eram controladas para serem conduzidas em equilíbrio<br />
com os outros grupos de usuários com requerimentos para o mesmo ambiente. Esses<br />
grupos eram relacionados nesta época pela ESSA Environmental Science Sewices<br />
Administration do US Deparment of Commerce em função de normas estabelecidas<br />
pela NOAA - National Oceanic and Ahnosfereric Administration envolvendo os<br />
seguintes componentes:<br />
Mineração e petróleo<br />
Engenharia marinha<br />
Recreação<br />
Saúde e qualidade de vida<br />
Transporte
Alimentação e Apicultura<br />
Defesa e espaço<br />
Pesquisa (acadêmica e industrial) e desenvolvimento<br />
Outras indústrias<br />
Agências locais e estaduais<br />
A faixa oceânica estava dividida em duas zonas de jurisdição, com o mar<br />
territorial de propriedade do estado de 3 MM (milhas marítimas), que incluíam 3 MM<br />
também para faixa de contorno de ilhas; e a plataforma continental externa, fora da<br />
faixa de propriedade do Estado sob jurisdição federal apenas para os recursos do solo.<br />
Segundo convenção internacional de 1958 relativa a exploração mineral nessas áreas, a<br />
soberania era exercida sobre a plataforma de 200 metros de profundidade, ou até onde a<br />
tecnologia de exploração permitia. Segundo HORTIG (1972) pelo menos trinta e dois<br />
tipos de recursos minerais, petróleo e gás encontrados nos limites e inte&aces da faixa<br />
costeira poderiam ser encontrados na plataforma continental, que assim como outros<br />
recursos de energia geotérmica, deveriam ser planejados em conjunto de maneira que<br />
pudessem assegurar mínimos efeitos sobre os recwsos vivos dos mares.<br />
Nas primeiras recomendações ao serviço público sobre conservação de recursos<br />
biológicos da zona costeira SCHAEFER (1972), referindo a região de interface entre a<br />
atmosfera, mar e terra, considerou esse espaço como um dos mais valiosos devido a sua<br />
disponibilidade e concentração humana para diferentes atividades. Em suas discussões<br />
sobre "estado de conservaqão" dos recursos naturais, considerou a categoria dos<br />
continuamente renováveis como as que não são afetadas pela atividade humana, como a<br />
energia solar, mares, ventos; os outros fluxos de recursos o uso pode afetar em<br />
diferentes níveis o equilíbrio dos estoques e sua renovação, o que pode levar a zona<br />
costeira a um ponto crítico, quando a recuperação se torna fisicamente, economicamente<br />
ou socialmente impossível.<br />
Nesse contexto, conservação compreende a manutenção dos recursos vivos em<br />
estado bem acima da zona crítica, evitando estágios de irreversíveis e estabelecendo-se<br />
níveis aceitáveis de preservação dos ecossistemas, cada componente vivo dentro de<br />
limites de condições de uso. Entretanto, considerando-se aspectos sócio-econômicos,<br />
muitos usos de recursos MVOS dos mares envolvem critérios de avaliação de beneficios<br />
sociais e econômicos que são ilificeis de quantificar, devido a sua aquisição livre no<br />
oceano não envolver diretamente a economia de mercado convencional. Sendo esses<br />
recursos de uso comum sem proprietários, estão sujeitos a situações inadequadas e<br />
conflitos, levantados causas mais diretas do setor público que privado.
Em decorrência dessas circunstâncias, se torna necessário a classiíicação de<br />
formas de uso da zona costeira, visando formas de gestão e manejo adequada:<br />
Usos diretos dos recursos vivos:<br />
Uso extrativo de recursos para produção ( ex. pesca e aquacultura)<br />
Uso extrativo de recreação (ex. pesca de linha e caça submarina)<br />
Uso não extrativo (mergulho recreativo, atividades culturais e educacionais)<br />
Outros usos da zona asteira que dependem da biota.<br />
Depósito de dejetos biodegradáveis<br />
Extração biológica de material inorgânico<br />
Atividades humanas que incidentemente afeta ou é afetada pela biota<br />
Uso de terras das faixa de orla e áreas de constrnçóes<br />
Depósito de lixo sólido e esgotamento sanitário @iodegradáveís oucontaminates)<br />
Construção de portos e aeroportos, navegação e outros transportes (dutos, etc.)<br />
Modüicação da faixa costeira para construções de lazer e recreação<br />
Erosão de praias e manutenção, devido a ações naturais e usos ( surfe, futebol, volei, festas,<br />
quiosques, etc.)<br />
Atividades de alto impacto, geração de energia, mineração, produção de petróleo, operações<br />
militares, etc.<br />
Voltando a questão da bacia de Campos e ao quadro de enfoque da metodologia<br />
de avaliação de impacto, foram selecionados grupos de atividades principais, como<br />
componentes de matrizes de interação, para que possa ser aplicada no complexo da<br />
Região Sudeste com a produção de petróleo e gás, bioprodução, reservas, parques e<br />
múltiplos usos, a partir de seus centros urbanos e sub-regiões periféricas. Os dois<br />
grupos de atividades separadas em relação a sua interferência, devem ser controlados<br />
por uma regulamentação, avaliados e analisados para formação de um quadro de gestão.<br />
Relação de Interferência de Uso na Bioprodução<br />
Os processos de utilização de corpos aquáticos nas três últimas décadas como foi<br />
observado, provocou a conscientização popular, incluindo populagões ribeirinhas e de<br />
palafitas em parte pescadores, sobre falhas operacionais em sistemas de produção<br />
industrial, que vêm provocado acidentes ambientais de diferentes proporções. Setores de<br />
produção com a petroquímica, ao mesmo tempo em que criavam uma base de insumos e<br />
geravam emprego e renda, também deram início a rápido processo de deterioração do<br />
espaço costeiro-oceânico, em parte decorrente da falta de contrapartida de recursos para<br />
tratamento de dejetos industriais e de i&a-estrutura, ou para atender necessidades<br />
básicas de habitação popular e saneamento.
A atuação do governo através da regulamentação e infia-estrutura, pode<br />
representar o equilíbrio entre as atividades de forte impacto e as de interação com os<br />
sistemas naturais, entretanto isso não vem ocorrendo com a distribuição dos royalties do<br />
petróleo. Para avaliação dessa interação três grupos podem ser definidos com a seguir.<br />
Grupo 1: Regulamentação e Infra-estrutura<br />
Essa situação evidencia a determinação do grau de interferência das atividades<br />
humanas na capacidade regenerativa e de crescimento da biomassa de consumo, através<br />
de medidas regulatórias e sistemas aparelhados de controle com infra-estrutura<br />
adequada. As instituições públicas e privadas no desenvolvimento dos processos<br />
gerenciais, podem criar redes tecnológicas de informação, organizando programas de<br />
manejo abrangendo regiões, proporcionais a espaços costeiros e oceânicos definidos.<br />
Eigura 17 : Ação da regnlamentação e controle na sustentabilidade<br />
O postulado apresentado na Figura 17 busca o equilíbrio das atividades humanas<br />
através da manutenção da capacidade regenerativa natural da biomassa, decorrente de<br />
uma correta administmgão, regulamentação e controle.<br />
Grupo 2: Atividades de Grande Impacto em Recursos Naturais<br />
A existência de complexos industriais e urbanos ocupando grandes espaços da<br />
faixa litorânea provocam constante interferência em diferentes níveis e formas de<br />
dejetos. A príncipal característica dos grandes empreendimentos compreende a sua<br />
desvinculação com o processo bioeconômico, restringindo-se apenas aos interesses de<br />
uso dos recursos aquáticos para navegagão comercial através da superIície, ou<br />
refrigeração de equipamentos. Tradicionalmente, a zona litorânea vem sendo<br />
considerada como área de dejetos, em diferentes níveis e dimensões, sem avaliagão dos<br />
seus efeitos sobre os recursos naturais ou estudos de projetos e obras de recuperação.<br />
Esse processo dinâmico pode ser controlado e reestmiurado para poder interagir com<br />
outras atividades dependentes da potencialidade dos recursos naturais, o que
demandaria o interesse de centros especializados, conhecimentos giobais de interações<br />
setoriais e institucionais, além dos estudos das relações bioeconômicas.<br />
No nível de matriz gerencial, as avaliações de impacto são dimensionadas de<br />
acordo com a densidade dos efeitos degenerativos e possibilidade de regeneração de<br />
sistemas, em contextos regionais ou localizados.<br />
Figura 18: Postitla6o do controle degenerativo para aumento da oferta de biomassa<br />
A proposta da Figura 18 visa a deteminação do grau de interferência das<br />
indústrias nos níveis de deterioração e contaminação, na capacidade regenerativa e de<br />
crescimento da biomassa de consumo, visando o equacionamento de medidas para<br />
recuperação de ambientes degradados, criando condições para manutenção de recursos<br />
paisagísticos da orla e aumento do potencial biológico de produção.<br />
Grupo 3: Atividades Competitivas Interagindo com Sistemas Naturais<br />
Grande parte das atividades de uso da faixa litorânea dependem da qualidade e<br />
volume de recursos. De várias formas envolvem os fatores de produção pesqueira e dos<br />
seguimentos de turismo, esporte e lazer. Apesar desses setores de produção e serviço<br />
dependerem da qualidade ambiental, ainda prevalecem ações antagônicas na relação de<br />
uso dos sistemas. Mesmo a indústria pesqueira e o setor náutico e turístico que<br />
dependem da qualidade ambiental, vêm sendo denunciados por danos aos ecossistemas<br />
devido a falta de critérios definidos, regulamentação adequada e de controle ineficiente,<br />
assim como métodos e técnicas de constmção ultrapassados, dírecionados ao baixo<br />
custo e pouca eficiência.<br />
A proposta na matriz gerencial compreende todas as atividades como funções de<br />
utilização, e a importância das reservas biológicas como base de sustentação de recursos<br />
de uso e paisagísticos. Na representação da Figura 19, cada atividade tem sua avaliaç50,<br />
envolvendo volumes de recursos demandados, custos sociais, de oportunidade e<br />
externalidades, cabendo ao gerenciamento determinar os níveis e meios de utilização
dos recursos naturais, que permitam a manutenção de um nível de recursos proporcional<br />
ao quadro de usuários.<br />
Figura 19: Relaçgo do volume de atividades e níveis de recursos disponíveis<br />
Essa questão inclui estudos específicos, como o máximo nível sustentável da<br />
pesca, o dimensionamento de entrepostos, marinas e empreendimentos hoteleiros, assim<br />
como o grau de interferência de atividades turísticas e de lazer sobre os recursos<br />
biológicos de consumo e paisagísticos e na sua capacidade regenerativa, proporcional ao<br />
aumento da demanda e número de usuários.<br />
3.4.2. Relação de Atividades dos Grupos de Interferência<br />
A relação de usuários a seguir tem com objetivo apresentar diferentes formas de uso<br />
e aproveitamento de recursos, que podem ser encontrados ao longo da faixa costeira.<br />
Essa relação de usuários serve como guia para selecionar os "Tipos de Utilização'' de<br />
aproveitamento de recursos para se formar as "Matrizes de Múltiplo Uso" (componente<br />
Figura 20). Tem como base os tópicos apresentados na "Compatibility Matrix" de<br />
Gordon Lill na época vice-presidente da Califamia Advisory Commission on Mdne<br />
and Coasfal Resources (HORTIG, 1972), para avaliação da compatibilidade de<br />
atividades na costa do Estado da Califórnia nos Estados Unidos durante a expansão da<br />
indústria do petróleo e mineração, como vem ocorrendo no Brasil atualmente.<br />
A proposta visa sua utilização no desenvolvimento de exercícios de formatação e<br />
equacionamento de problemas circunstanciais típicos decorrentes de múltiplo uso,<br />
segundo lógica ambienta1 e caso específico de cada situagão. Esta Matriz de<br />
Compatibilidade da Califórnia (Figura 20) pode ser caracterizada como técnica de<br />
análise gráfica unidimensional de inter-relação e conflitos de área de múltiplo uso. O<br />
quadro de usuários apresentado foi listado com algumas atividades principais típicas da<br />
região, como a colheita de algas laminárias que também ocorrem na Região sudeste mas<br />
em águas profundas, as outras muito de assemelham com as locais, embora as escalas de
algumas delas também sejam distintas. O mais importante no caso é a forma como as<br />
relações entre as atividades foram analisadas, na época em que se decretava nos Estados<br />
Unidos o U.S. Costa1 Management Act, constituindo-se um imporiante referencial para<br />
estudo do tema, assim como apontar a necessidade de intensificação desses estudos no<br />
Brasil. A matriz de compatibilidade pode ser lida da esquerda para direita ou de cima<br />
para baixo, sendo apresentada com as seguintes atividades:<br />
Policiamento, controle, inspeção, regulamentação<br />
Construções de quebra-mar, dragagem e manutenção da costa<br />
Direito de passagem facilitado e acesso a rodovias<br />
Portos e terminais comerciais<br />
Transporte, marinha de guerra e mercante<br />
Pesca comercial<br />
Colheita de algas<br />
Fazendas de moluscos<br />
Produção de conchas calcárem e areia<br />
Produção de petróleo<br />
Produção de outros minerais<br />
Plantas nucleares e de dessaunização<br />
Plataformas oceânicas e outras construções não petrolíferas<br />
Reservas do governo federal<br />
Parques * - públicos costeiros<br />
Parques públicos submarinos<br />
Parques de pesquisa submarina<br />
Refúgios e recantos turísticos<br />
Moradias e desenvolvimento de condomínios<br />
Balneários, surfe, esqui aquático<br />
Pesca de praia<br />
Pesca de unha embarcada<br />
Marinas e passeios de barco<br />
Depósitos de lixo<br />
Os termos de compatibilidade utilizados para usos descritos nesta matriz são<br />
definidos da seguinte forma:<br />
a) Esseitcial: usos da costa ou atividades que são exeenciais ao ordenamento costeiro e<br />
desenvolvimento fora da costa;<br />
b) Suphentar: usos da costa que eventualmente tendem a suplementar um outro economicamente<br />
sem conflitos;<br />
c) Mulrralnmte exclusivo: uso costeiro único que pode ser conduzido com a exclusão de todos os<br />
outros;<br />
d) Coitpetiíivo: atividades de podem ser conduzidas simultaneamente, mas entre as quais haverá<br />
sempre questões discutidas de prioridades, favorecimento ou posicionamento político, pendências<br />
legais e outras;<br />
e) Indeternunado: relações não discenúveis; pelo menos nenhuma com alguma conseqüência.
11 I Pmdueo de outros minerais 1<br />
12 Ptanias nucleares e de d e s s ~ ~ o<br />
iJ Plataformas &cas e ouhas<br />
wnsknciks não pekolíferas<br />
14 Reservas do governo federal<br />
15 Parques públiws deiros<br />
16 Parques públicos submarinos<br />
17 Parques de pesquisa submarina<br />
20 Baineários, surie, esquiaquático<br />
21 Pesca depraia<br />
E - Essencial, S- Suplementar, X- Mutnamente exclusivo, C- Competitivo, Z - Indeteminado<br />
Figura 20: Matriz de Compatibilidade (Fonte: Gorhn L@<br />
Observa-se na matriz que a lista de usuários com maior potencial de conflito<br />
está agrupada, e pode ser observada na área contínua central de 14 a 17 referentes a<br />
parques e reservas, identificadas como requerendo um uso exclusivo. Entretanto essas<br />
áreas podem não estar precisamente relacionadas em todas as suas instâncias ao grau de<br />
dificuldade na alocapão efetiva de recursos minerais, aos quais a matriz estava<br />
direcionada.<br />
Em vista das complicações para se chegar a uma solução discreta preferida para<br />
o desenvolvimento ótimo desses recursos, sugeriu-se o emprego de técnicas de pesquisa<br />
operacional, programagão linear e de simulação matemática ou analógica. Na época,<br />
esses exemplos no estado-da-arte, reportaram a descrição de modelos matemáticos de<br />
simulaçiio tridimensional de fluxos, referentes as três fases de Buido em reservatorios de<br />
petróleo, em programa de computagão para previsão de fluxo de óleo, água e gás na
forma bidimensional. Esses dados plotados em carta permitiam o dimensionamento das<br />
áreas de instalação, podendo assim buscar formas de interação com outras atividades<br />
para avaliação de impactos.<br />
Entretanto, embora as atividades de produção de petróleo e bioprodu@io fossem<br />
consideradas competitivas, no caso da pesca comercial e esportiva passaram a ocupar o<br />
mesmo espaço de forma suplementar, com as estruturas servindo como concentradores<br />
de cardumes. Outros problemas foram previstos em relação a extração mineral e de<br />
calcários, devido aos efeitos de matérias em suspensão, afetando diretamente as<br />
atividades submarinas de pesca e recreação.<br />
No contexto dessa tese, a metodologia da matriz de compatibilidade apresentada<br />
serviu também como referencial adequado a busca de equacionamento do que foi<br />
considerado indeterminado, e quais parâmetros devem ser considerados para avaliação<br />
das atividades competitivas e seus efeitos sócio-econômicos e ambientais, dentro dos<br />
paradigmas de eficiência e sustentabilidade.<br />
Como contribuição para melhona do método de avaliação de compatibilidade foi<br />
elaborado o esquema abaixo, incluindo o maior número de atividades que se pôde<br />
identificar, buscando um novo enquadramento em três cenários, pertinentes a atualidade<br />
e realidade da Região Sudeste, em conformidade com os grupos de relações de<br />
interferência de uso apresentados.<br />
A) Atividades Eiandamentais de Regulamentação e Ma-estrutura Púiblica<br />
Essa suposição ilusimtiva tem como proposta a inclusão dos itens de processos<br />
tradicionais de uso do espaço costeiro-oceânico, relacionados ao ordenamento e<br />
estruturação básica voltada a planos de gerenciamento costeiro e oceânico, questões de<br />
direito de uso, regulamentação e viabilização ou manutenção de atividades.<br />
A.l) Direito de navegação, vias de acesso, canais e áreas de manobras de atPaca@o<br />
- Rotas de navios cargueiros<br />
- Canais principais e áreas de manobra de navios<br />
- Rotas das embarcações de pesca, fundeio e manobra<br />
- Rotas de cruzeiro e raias de regata<br />
- Estradas e vias de acesso a faixa litorânea<br />
-Atracação de emergência, apoio e socorro de acordos internacionais<br />
A.2) Regulamentação, controle, inspepio, fmcaliza@o e policiamento<br />
- Navegação e transporte comercial<br />
- Pesca e Maricuitiara<br />
- Empreendimentos e construções<br />
- Turismo, recreação e Iazer<br />
- Esportes, jogos e eventos públicos
- Fiscalização alfandegária e inspeção animal<br />
- Patrulhamento costeiro<br />
A.3) lzfia-estm&aa, dragagem, quebra-mar, encostas, sa~zeamettto<br />
- Obras públicas de saneamento básico<br />
- Recuperação de áreas degradadas<br />
- Dragagem de rios e canais de navegação<br />
- Interceptores na orla e emissários submarinos<br />
- Quebra-mar de proteção, portos e praias<br />
- Contenção de encostas, rios, canais litorâneos<br />
- Dragagem e drenagem de canais, abertura de lagoas, troca de águas<br />
- Praias e fundos artificiais para maricultura e lazer<br />
B) Atividades Urbanas, Industrias e Comerciais de Impacto Ambienta1<br />
Os fatores que determinam a dimensão do impacto ambienta1 de cada atividade vêm<br />
sendo avaliados por comissões multídisciplinares que geralmente deparam com fortes<br />
posições políticas, geralmente associadas a problemas estratégicos. Neste caso, foram<br />
considerados os usos que podem apresentar problemas potenciais em pequena escala<br />
residual, como lixo na praia, pequenos danos na fauna e flora da orla, ou de grande<br />
impacto, como os decorrentes do grande tráfego de navios e movimento de<br />
embarcações transportando agentes poluidores, os possíveis acidentes industriais com<br />
derrames ocasionais de óleo, resíduos, lixo e outros problemas ambientais fora de<br />
controle. Consideram-se também os possíveis impactos decorrentes das concentrações<br />
urbanas e ações nas zonas costeiras, que podem envolver deterioração de recursos<br />
hídricos e águas fluviais com iniluência direta na qualidade do mar.<br />
B.1) Áreus urbanas, consfru~úes e instalagões costeiras<br />
- Urbanização da orla marítima e praias<br />
- Construções marítimas de uso público<br />
- terminais hídroviários e transportes urbanos<br />
- locais de pesca recreativa<br />
- atividades subaquáticas<br />
- promoção de surfe profissional e amador<br />
- infra-estruturas de servips e venda de produtos<br />
- Obras de proteção de zonas urbanas costeiras<br />
BZ) C u ~ l portudrws, ~ s terminais e estaleiros<br />
- Gestão e planejamento de complexos portuários<br />
- Obras dos portos de atracação<br />
- Definição de áreas de transbordo<br />
- Granel<br />
- Produtos mdustriatizados<br />
- Contamers<br />
- Perecíveis e alimentícios processados<br />
- Estalehs de construção e reparo naval<br />
- Terminais urbanos polarizadores da pesca<br />
- Complexos militares<br />
- Complexos de combustiveis e energéticos
B.3) Armazenagem, transbordo e nwinkos degrãos e alimentos<br />
- Planos de transpo te e transbordo<br />
- Silagem e armazenamento de grãos<br />
- Estocagem e prowsamento de alimentos<br />
- Vias de desembarque e distribuição de produtos<br />
B.4) Ejcplora@o de areia, sal e calcários<br />
- Gestão e planejamento da exploração<br />
- Critérios de avalação dos estoques naturais<br />
- Estudos de impacto na biomassa e deplqão da exploração<br />
- Zoneamento das áreas de exploração e estocagem<br />
- Estruturas de transporte e escoamento<br />
- Avaliação de impactos<br />
B.5), Estocagem e transporte de produgão mineral<br />
- Plano estratégico costeiro<br />
-Vias de escoamento e transbordo<br />
- Areas de estocagem - e impacto na biomassa<br />
- Sistemas de piem de atracação e embarque da produção<br />
- Avaliações de alto impacto na qualidade ambienta1<br />
- Sistemas de controle de poluidores do ar, terra e mar.<br />
- Planos de prospecção e exploração<br />
- Avaliações sócio-econômicas regionais<br />
- Impactos na biomassa e atividade pesqueira<br />
- Complexos de exploração oceânicas<br />
- Plataformas de operação<br />
- Monoboias, equipamentos submarinos de bombeamento e dutos<br />
- Complexos de armazenamento e distribuição bruta<br />
- Complexos de reho e estocagem<br />
- Avaliações qualitativa de impacto e propagação nos sistemas<br />
B. 9 Projetos Qutmicos e Nucleares<br />
- Planos estratégicos de localização<br />
- Avaliações politicas de impacto social e bioeeonômico<br />
- Avaliações de impacto e propagação nos sistemas<br />
- zoneamento espacial de impacto e influência<br />
- ~imensionameko do com~lexo industrial<br />
- Sistemas de controle e avaliação dos efeitos na biomassa<br />
- Planos de emergências de evacuação e propagação<br />
B. 8) Depósito de LUco e Aterros Sanitários<br />
- Problemática polica-social e estratégica<br />
- Fatores geradores locacionais<br />
- zoneamento das áreas de impacto<br />
- Avaliação de impacto e propagação do chorume e dejetos<br />
- Impactos e efeitos na saúde pública e meio-ambiente<br />
C) Atividades Competitivas Interagindo no Sistema<br />
Nesta forma de apresentagão de equacionarnento incluem as atividades que<br />
disputam os mesmos espaços e componentes dos sistemas naturais costeiros e<br />
oceânicos. Todas necessitam de inila-estrutura ou bases de apoio com componentes
diferenciados ou compartilhados, para cada tipo de usuário. Cada atividade pode<br />
demandar um tipo de intervenção especíilco, que deve ser analisado por parte do setor<br />
público e privado, buscando ações participativas de consenso.<br />
C.1) Ancoradouros naturais, piers, marinas e abrlgos deficndew<br />
Públicos<br />
- Planos e projetos de desenvolvimento e impacto<br />
- ~ mbar~ie &desembarque de passageiros é volumes<br />
- Marinas controladas de esporte e lazer<br />
- Entrepostos de pesca e mercadorias<br />
- Piers públicos de pesca recreativa, mergulho, surfe, etc ...<br />
- Piers e anmradouros naturais em praias distantes e enseadas<br />
Semi-Públicos<br />
- Planos de controle de impactos<br />
- Marinas municipais arrendadas<br />
- Entrepostos arrendados a pesca (cooperativas e empresas)<br />
- Concessões a clubes e associações culturais ou esportivas<br />
Privados<br />
- Sistemas de controle e fiscalização<br />
- Mariuas e clubes<br />
- Condomínios com marmas<br />
- Clubes e associações culturais e esportivas<br />
- Cooperativas e empresas de pesca<br />
C.2) Plataformas e Consá.ugões Marinhas Abertas<br />
- Planos de desenvolvimento da biomassa<br />
- Programas de engenharia oceânica<br />
- Plataformas de arodução marícola<br />
- Atratores de pesca mtegrados de bioprodução<br />
- Plataformas e sistemas de parceis artificias de bioprodução<br />
- Sistemas artificiais de bioprodução e indução<br />
C.3) Pesca industria& Entrepostos e Cooperativas<br />
- Programas tecnológicos<br />
- terminais centralizados de empresas de pesca<br />
- Entrepostos de pregões centralizados<br />
- Complexos industriais de cooperativas e fwmas<br />
- Complexos industriais de pesca integrados com bioprodução<br />
- tanques em baixadas e estuários<br />
- tanques e cercados em gamboas e mangues<br />
- Cercados e gaiolas em zonas de marés<br />
- Lajeados artincias de propagação e engorda<br />
- Balsas, gaiolas e espinheis em enseadas protegidas<br />
- Estruturas e gaiolas de cultivo submarino<br />
C. 5) Pesca Costeira e Coleta<br />
- zonas de praias e costões<br />
- zonas de enseadas, baias e águas protegidas<br />
- zonas do espaço costeiro marinho<br />
C. 6) Pesca Recreativa e Esportiva
- Piers, praias e costões<br />
- Pequenas embarcações costeiras<br />
- Pesca de linha<br />
- Caça Submarina<br />
- Iates de pesca oceânica<br />
- produtores de equipamentos<br />
- Clubes e associacões<br />
- Associações de construtores de marinas<br />
C. 7) Esportes Litorâneos<br />
- Avaliações de contribuição socio-cultural<br />
- Praias<br />
- Enseadas<br />
- Lagoas<br />
- Usuários<br />
- Caiaque<br />
- Surfe<br />
- Windsurfe<br />
- Veleiros<br />
- Jetsky<br />
- Esqui aquático<br />
- Parasail<br />
C.8) Refúgios e Praias Isoladas<br />
- Turismo diiecionado<br />
- Lazer e esportes<br />
- Estudos e pesquisas sobre impacto<br />
C.9) Turismo, recreação e lazm<br />
- Complexos hoteleiros litorâneos<br />
- Marinas públicas<br />
- Parques públicos e privados<br />
- Reservas biológicas<br />
- Mergulho especializado<br />
- Esportes náuticos<br />
- Pesca recreativa e desportiva<br />
- Hotéis e pousadas<br />
- Serviços de reparo e lojas<br />
C.19 Parques costeiros municipais e estaduais<br />
- Patrimônio natural biológico<br />
- Patrimônio cultural e paisagístico<br />
- Pousadas e abrigos - controlados<br />
- Pesquisas integradas de sustentação econômica<br />
- Programas culturais<br />
- Gerenciamento de pesquisas, turismo e lazer<br />
- Operações submarinas de controle de uso<br />
C.11) Parques integrados costeipos e submarinos<br />
- Zonas de preservação e pesquisas de sustentação<br />
- Programas de educação e cultura<br />
- Parques submarinos integrados<br />
- Pesquisas de reprodução e preservação<br />
- Turismo cultura1 especialzado<br />
- Maricultura e propagação<br />
- Sítios arqueológicos<br />
C.12) Reservas biológicas dopatri&ízw natural
- Santuários ecológicos<br />
- Programas de pesquisa e produção<br />
- Programas socioculturais<br />
- Turismo especializado<br />
- Exploraçõ& submarinas<br />
- Maricultura especializada<br />
C.13) Construgões de fiotepio e Enriquecimento<br />
- Prospeções e pesquisas<br />
- Obras sociais públicas<br />
- Obras de saneamento e recuperação<br />
- Obras de regeneração dos eco-sistemas<br />
- Obras de proteção, contenção e abrigo<br />
- Novas técnicas de instalações portuárias<br />
- Estruturas de propagação e maricultura<br />
- Estruturas de regeneração e proteção da biomassa<br />
C.14) Pesca Oceânica e litratores Pelágicos<br />
- Zoneamento oceânico<br />
- Distribuição das frotas<br />
- Contratos de arrendamento<br />
- Definição de cotas de captura<br />
- Pesquisas e estudos estatísticos<br />
- Zonas regulamentadas<br />
- Dhensionamento dos estoques e frotas<br />
- Estruturas Flutuantes Atratoras de Cardumes<br />
- Centros de pesquisa e desenvolvimento<br />
3.4.3. Possibilidades Técnicas de Previsão das loterações<br />
O desenvolvimento nas últimas décadas vem apresentando soluções de problemas de<br />
planejamento e gestão com a aplicação de novos métodos de engenharia costeira e<br />
oceânica, principalmente provenientes da transferência de tecnologia da exploração de<br />
hidrocarbonetos e medidas de controle ambiental. Ambas motivadas por consideráveis<br />
volumes de recursos e pela criação de centros de excelência para atividades especíkas<br />
neste campo. Nesse exercício metodológico para equacionamento e resolução de<br />
problemas de múltiplo uso dos espaços costeiros, considerou-se seis condições<br />
possíveis:<br />
1) Fatores essenciais básicos e estruturais;<br />
2) Atividades regulamentadas<br />
3) Atividades complementares ou suplementares;<br />
4) Atividades competitivas;<br />
5) Atividades antagônicas;<br />
6) Atividades exclusivas con0-oladas<br />
A inclusão de itens diferenciais em relação a matriz apresentada anteriormente<br />
se deve a tentativa de apresentar um quadro de usuários mais detalhado, que possa ser<br />
adaptado em diferentes escalas, para determinada área, região ou estado. Devido a falta
de estudos mais aprofundado sobre legislação e regulamentação de uso do espaço<br />
costeiro e oceânico, que permitam a análise objetiva de aspecto que envolvam a<br />
regulamentação e controle (HARGREAVES e PIMENTA, 1999), optou-se por formas<br />
baseadas na realidade de convivência de padrões atuais, considerando a possibilidade de<br />
confíitos e ajustes inadequados, ou referenciais alternativos que possam apontar formas<br />
gerenciais adequadas.<br />
Neste cenário, os impactos sobre os ecossistemas exercem um maior peso nos<br />
critérios de avaliagão dos fatores. Dessa forma todas as atividades compreendidas no<br />
grupo 2 de grande impacto na biomassa, tornam-se mutualmente exclusivas em relação<br />
aos do grupo 3 que por sua vez intemgem com o ecossistema num determinado nível de<br />
possível impacto, ou com atividades competitivas disputando um mesmo espaço de<br />
interação com o sistema natural. Por se tratar de uma avaliação multidisciplinar,<br />
envolvendo diferentes interesses, as conclusões podem ser tendenciosas passando ao<br />
campo da política gerencial segundo cada grupo de usuários, automaticamente gerando<br />
a formação de sub-matrizes com outras escalas de valores e funções, os subsídios para<br />
tomada de decisões.<br />
O objetivo dessa proposta de avaliação é contribuir com instrumento, ainda que<br />
de certa forma superficial, para a integração de atividades costeiras e oceânicas, visando<br />
a previsão de possível composição de múltiplo uso de sistemas litorâneos. Nessas<br />
matrizes são relacionadas formas de usos que podem ser encontrados em determinada<br />
área, na qual se pretende avaliar as circunstâncias de uso atual, com possíveis expansões<br />
ou a intmdução de outras atividades. Supondo-se que da relação de formas de uso<br />
escolhidas, queira-se avaiiar o nível de compatibilidade entre elas, usando como critério<br />
de avaliação por exemplo as seguintes condições de uso: C - complementar, A -<br />
antagônico e X - competitivo; outros fatores restritivos podem ser considerandos, como<br />
os espaços para todas as atividades serem limitados, poucas vias de acesso ou falta de<br />
infra-estrutura.<br />
Na matiz da Figura 21, foram selecionadas 26 atividades que se pretende avaliar<br />
o nível de compatibilidade com 11 atividades escolhidas segundo as três condições de<br />
uso citadas acima, tendo como objetivo a implantação, exclusão ou transferência de<br />
atividade. Dessa forma as previsões de interação entre os usuários podem ser avaliadas<br />
em conjunto, quantificando os níveis de relações.
Matriz de Im~actos<br />
m<br />
C A C A A A<br />
X C X A A A<br />
Rela~ão de Uso de Recursos Costeiros I Nível de Compatibilidade<br />
TIPO<strong>DE</strong>USO I 1112 Rotas de navegação e manobra I - I C<br />
Instalações portuárias -<br />
Entreuosto de pesca<br />
Armazenagem, transbordo (Óleo)<br />
Armazen., transb. (SaUCalciieo)<br />
I I<br />
Marinas. oier. ancoradouro<br />
Recifes de protwão (quebra-mar)<br />
Canal de navegação (dragagem)<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
I<br />
1<br />
Salinas I I<br />
Depósito de lixo I I<br />
Tratamento de eseoto I I<br />
0 I I<br />
ICmissário submarino<br />
Dntos de transporte de óleo e gás I I<br />
Cabo telefonico submarino<br />
Recife artificial de nesca I I<br />
Pesca protksional artezanal I I<br />
Pesca esportiva & lazer<br />
Maricultura<br />
Pesca submarina I I<br />
Mergulho recreativo<br />
Turismo ecolórrico<br />
Pesquisa científica I I<br />
Surfe, windsnrfe<br />
Caíaue. windsurfe I I<br />
Relações de Atividade: C = Complementar A = Antagônica X = Competitiva<br />
Figura 21: Quadro de Avaliação de Compatibiiidade de Uso<br />
O nível de relação entre essas atividades apresenta o total de complementares<br />
@C = 17) decorrente da necessidade de vias de acesso e recifes de proteqão, no mesmo<br />
patamar das antagônicas @A = 16), devido as necessidades do tratamento de esgoto e<br />
aos riscos de transporte de petróleo em dutos, embora a principal relação entre elas foi a<br />
de competitividade (ZX = 21), com exceção das principais complementares e da<br />
necessidade de instalações portuárias.<br />
3.5. Descrição do Método Matricial de Locação de Usuários e Recursos<br />
3.5.1. Origem do Modelo Locacionai
A metodologia proposta de equacionamento de problema de distibuição de<br />
componentes naturais entre um grupo de usuários, se baseia na lógica comparativa entre<br />
a demanda e oferta de recursos disponíveis. O modelo adotado para ser adaptado as<br />
condições costeiras e oceânicas teve sua origem no Ceutro degli Studi della<br />
Confederazione Generale dellílndusíria Italiana, onde se iniciou em 1971 o Projeto<br />
MASTERLI (Modelo di Assento Territoriale e di Localizzazione Inclusíriale). A<br />
coordenação foi do consórcio ítalo-francês, composto pelas instituições SOMEA<br />
italiana e SEMA francesa, que teve continuidade ao longo da década. Durante a<br />
discussão desse processo foi levantada a questão de sua adaptaqão em zonas de menor<br />
escala (COSENZA, 1981) com as seguintes caracte&icas diferenciadas:<br />
Detalhamento das características da oferta e demanda agrupados em dois níveis na operação<br />
matilcial, passaram a incluir situações intermediárias.<br />
Modificação de critérios de valoração da oferta de recursos em excesso e redefinição de<br />
penalização de escassos para cada área ou zona elementar.<br />
No Brasil essa metodologia foi pela primeim vez aplicada para localização<br />
industrial na região metropolitana do Rio de Janeiro (COSENZA, et al., 1977) em<br />
projeto desenvolvido pela COPPE para a FUNDREM (Fundação para o<br />
Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas). Com a evolugão da estruturação e<br />
operação desse processo de avaliação locacional em suas diferentes aplicações, passou a<br />
ser denominado Modelo COSENZA, que nesta tese se aplica de forma inédita as zonas<br />
costeiras e oceânicas.<br />
3.5.2. Descrição Resumida do Modelo COSENZA<br />
Para se operar com o modelo é necessário a definiqão de fatores locacionais que sejam<br />
comuns a todos os tipos de atividades consideradas para um quadro definido de usuários<br />
do espaço costeiro. Na sua forma original, o modelo foi dirigido a fatores locacionais<br />
comuns às tipologias industriais escolhidas para avaliação. No estudo elaborado para a<br />
FUNDREM foram considerados 25 fatores locacionais e 45 zonas elementares, para<br />
uma quantificação de demanda em 4 níveis e de oferta em 3 níveis,<br />
O algorítimo constitui na comparação de duas matizes, da demanda A (~afiiz A) e da<br />
oferta (MatrizB), conforme a esquematização a seguir:
MatPiz B<br />
Fatores<br />
Locacionak<br />
IOferta Espacial Costeira<br />
Zonas Ekmiztam<br />
Valores possíveis do item<br />
bi1,:0,1 ou2<br />
A comparação seguia a lógica de um produto maticial, entretanto a efetuação<br />
regular de cada produto a i x b i correspondia a valores definidos em uma tabela de<br />
cotejo, para se determinar parcelas de somatório do elemento c , r , obtendo-se dessa<br />
forma os valores a serem aplicados na montagem da matriz de possibilidades C:<br />
Matpiz C Possibilidade Locacional<br />
Zonas Elenu&arts<br />
Tipologias Valores possíveis do item<br />
Iizdccsfriak C%, : Matriz de Cofejo<br />
TABELA <strong>DE</strong> COTEJO: A 8 B = C<br />
* Zona elementar a ser eliminada do estfcdo<br />
Na etapa seguinte do modelo, a matriz de possibilidades C deve ser multiplicada<br />
pela matriz diagonal E, de tamanho h x h. Para esta matriz E, os elementos da diagonal<br />
assumem o valor lh, para n =número de tipologias industriais.<br />
Matriz E<br />
hxh<br />
i linhas<br />
Matriz Diagonal<br />
1 cohinas<br />
Valores possíveis e :<br />
O :sei#Z; l/nsei=I
Para se chegar aos índices de localização, efetua-se o produto ordinário das<br />
matrizes C e E, obtendo-se assim o resultado na forma de matriz de índices locacionais<br />
D, no tamanho h x m de relação locacional, uma vez que {dtk) = {e ii) hxh x {C k)hxrn<br />
g<br />
Matriz Diagonal<br />
Através dos valores dik se conduz a avaliagão dos níveis de potenciais das<br />
possibilidades de aproveitamento de cada zona elementar, acompanhando os seguintes<br />
parâmetros :<br />
d ik > 1 : a oferia de fatores (recursos) na zona ou área elementar k supera a demanda<br />
requerida pela tipologia empresarial i. Seu valor é proporcionalmente elevado quanto<br />
maior for a ocorrência de fatores existentes com nível maior de oferta em k, e não foram<br />
demandados por i.<br />
d ik < 1 : a oferta de fatores (recursos), na zona ou área elementar k não atende a pelo<br />
menos um item de demanda requerida pela tipologia empresarial i. Seu valor é<br />
proporcionalmente reduzido quanto maior for o número de fatores existentes com nível<br />
__r-.<br />
memx de oferta em k, e foram mais demandados por 4 _____._________<br />
_______-<br />
Pesquisas complementares sobre as áreas e zonas separadamente, podem ser<br />
conduzidas a partir de matriz D, como elas (Z k ) se correspondem ao conjunto de<br />
tipologias incluídas na análise; efetuando o somatório das colunas da matriz D e o<br />
resultado dividindo pelo número h de tipologias, coaforme a formula:<br />
Assim, pode-se investigar como as tipologias são correspondidas ( T i ) pela<br />
zona ou área pesquisada, através do somatório das linhas da matriz D, áividido pelo<br />
número m de zonas ou áreas elementares, conforme a fórmula:
No caso apresentado, a formulação demonstrada do Modelo COSENZA foi<br />
empregada na resolução de problema em macro-regiões heterogêneas terrestres. Para<br />
atender aos objetivos de pesquisa voltada a áreas costeiras, novos parâmetros devem<br />
ser definidos e redefinidos. Na COPPE outros trabalhos com estudos e pesquisas<br />
locacionais, inclusive na faixa costeira terrestre como o de LIMA (1993), empregaram<br />
o modelo, o que facilitou a sua adaptação para pesquisa de avaliação da viabilidade de<br />
sistemas de múltiplo uso da faixa litorânea e oceânica.<br />
Um dos aspectos a ser observado é o da conceitua@o de como as áreas costeiras<br />
e oceânicas podem ser compreendidas, considerando-se o fator diferencial espacial de<br />
tridimensionalidade, o aproveitamento integral de todo espaço da massa de água, que<br />
varia de acordo com distância da superilcie ao solo submarino. As relações espaciais de<br />
uso e aproveitamento de recursos são decorrentes de opções vocacionais de cada<br />
espaço, que podem ser definidos através de critérios de zoneamento, onde se pode<br />
identificar os fatores de oferta e demanda locacional.<br />
Esses fatores podem ser avaliados, quantificados e qualificados, em função de<br />
dimensões e características do solo submarino como, costas rochosas, paredões,<br />
cavernas, fendas e lajes, ou estruturas artificiais como navios afundados, plataformas de<br />
petróleo e recifes artificiais, encontradas em cada sistema e suas dimensões disponíveis<br />
para uso. No cenário do quadro de usuários, as disponibilidades de recursos são<br />
avaliadas segundo essas características naturais de seu interesse, encontrados em cada<br />
sistema. O modelo serve para equacionar essa necessidade, definindo os itens de<br />
demanda de recursos em relagão aos recursos disponíveis nos sistemas.<br />
A forma de avaliação desses dois fatores tem como componente mais importante<br />
o da disponibilidade locacional em relação ao múltiplo uso, considerando-se sempre o<br />
fator de imponderabilidade do espaço tridimensional submarino, que motivou a<br />
apresentação do componente de estudo da importância da pesquisa submarina para<br />
compreensão da complexidade da dinâmica ecológica dos oceanos.<br />
3.6. Critérios de Divisão do Espaço Costeiro e Oceânico<br />
3.6.1. Divisão do Espaço Costeiro e Oceânico<br />
De acordo com as recomendações da FAO/UN (1998), os planos de gerenciamento<br />
costeiro devem propor uma ação integrada de planejamento para melhor aproveitamento<br />
e controle das águas incluindo as atividades florestais, agrícolas e pesqueiras. A<br />
proposta dessa interpretação diferenciada a partir do espaço oceânico é apresentada na
Figura 22, incluindo os componentes terrestres, onde se localizam as nascentes, sistemas<br />
capilares, rios e lagoas.<br />
Para o espaço tridimensional oceânico foram incorporadas propostas de divisão do<br />
litoral submerso apresentadas nos resultados de pesquisas submarinas de levantamento,<br />
que indicam diferentes características ecológicas e geogkiicas, de acordo com a<br />
profundidade e complexidade das formações de fundo. Além desses fatores foram<br />
consideradas as divisões teoricamente políticas e econômicas, discutidas no âmbito<br />
internacional, definindo as faixas de mar territorial e zona econômica exclusiva. Para<br />
efeito de construção diferenciada, essa divisão político-econômica foi acrescentada<br />
entre parênteses, considerando-se o contexto institucional de Plano de Gestão.<br />
Faixa Oceíiriica Ew~Iomíca ( zonas de 3 até as 200 mimas )<br />
8 F& Ocerinira Territopia1 ( zona fora da costa até 12 mimas)<br />
Faixa Costeira Marirrlra ( Praias eEncostas e Sistemas Insulares )<br />
@ Faixa CosteiPBlirtegmda ( Baías, Baixadas, Lagoas e Estuários )<br />
0 Faixa Costeira Intepior ( Nascentes, sistemas capilares, lagos e rios )<br />
Figura 22: Divisão do Espaço Costeiro e Oceânico para o Planejamento de Uso Sustentável<br />
Os critérios de zoneamento no estudo do múltiplo uso nas zonas oceânicas<br />
considera que a organizapão de sistemas, a partir fundo do mar, encontra no espaço<br />
submarino diferentes formações naturais e estruturas instaladas no fundo do mar como<br />
para produpão do petróleo montadas a partir da localizapão dos poços, ou de uso sazonal<br />
espacial com locaíização definida, ou os equipamentos e aparelhos de pesca através de<br />
com localização transitória. Mais próximos da costa, encontram-se estruturas fixas<br />
submersas e flutuantes empregadas na aquacultura, além de outros usos.<br />
Com a queda da produção pesqueira e aumento da ocupação prolongada de<br />
grandes áreas para produção do petróleo, as formas de ocupação e uso, seus efeitos e<br />
impactos começaram a ser mais pesquisados em diferentes níveis de detalhamento.
No caso da bioprodução, as divisões oceânicas seguem critérios internacionais,<br />
dentro dos padrões da FAORJN para organização dos dados estatísticos de produção de<br />
todos os países. Dentro desses critérios, os estudos são direcionados a grandes regiões<br />
oceânicas, onde ocorrem os cardumes por espécie em grandes grupos, como atuns e<br />
sardinhas em todo mundo, ou bacalhau no Mar do Norte.<br />
Nessa divisão empregada internacionalmente, o objetivo do zoneamento abrange<br />
as grandes áreas oceânicas, a partir de quadras de 60 x 60 MM (Milhas Marítimas) ou<br />
111,6 x 111,6 Km (12.455 ISm2) com as sua identificação de latitude e longitude,<br />
formando a malha de localização da pesca. Cada quadra é subdividida em quatro blocos,<br />
numerados de 1 a 4 conforme Figura 23, que apresenta o exemplo de localização 39-21-<br />
4 referindo-se a 39' W e 21" S no Bloco 4, correspondendo a uma área de 30 x 30 MM.<br />
figura 23: Critério de Loealização de Pesca da Sardinha (Paiva e Moffa 2009<br />
Esse critério de zoneamento para as regiões mais próximas da costa se torna<br />
inadequado devido a pouca precisão de localização, ou se forem consideradas<br />
características específicas de cada área de ocorrência das diferentes espécies e formas de<br />
captura, além desses espaços serem de uso mais intenso ou exclusivos, como áreas de<br />
pesca artesanal, de maricultura, de exercícios navais, de produção de petróleo ou de<br />
reservas biológicas. Essa relação espacial de distâncias pode ser verificada na Figura 24,<br />
observando-se as dimensões da menor quadncula de 5 x 5 MM ou 9,25 x 9,25 h, que<br />
correspondem a uma área de 85,56 km2.
Em se tratando da O Faixa Oceânica Econômica, essas relações espaciais são<br />
aceitáveis, considerando-se a dinâmica de locomoção dos cardumes, que podem ser<br />
associadas a outros fatores ambientais. Atualmente existem diferentes tipos de aparelhos<br />
de medições oceanográficas de corrente, temperatura, salinidade e outros fatores 6sicos<br />
e químicos. Essas informações podem ser associados a medições superkiais avaliadas<br />
pelas imagens de satélite, onde se observa a movimentação das massas de água com as<br />
cores variando em tons diferenciados, após tratamento das imagens representando as<br />
águas frias e quentes.<br />
Devido a complexidade de avaliagão de espasos cobertos por corpos aquáticos, a<br />
dinâmica das águas e interdependência de rios e lagoas, as relações de conhecimentos<br />
podem conduzir a informações muito específicas ou formas empíricas de avaliação.<br />
Essa complexidade de interpretações e avaliações de circunstâncias da dinâmica dos<br />
oceanos, se constitui no principal problema para qualificação e quantificação de fatores<br />
de medição e estudos de viabilidade.<br />
A 8 Faixa Oceânica Temitoria1 proposta não se refere ao espaço convencional<br />
de 12 milhas resultante acordo político internacional, mas a extensão do litoral<br />
submerso correspondente a plataforma continental. O sistema de levantamento de dados<br />
é o mesmo da faixa econômica oceânica com o diferencial de acesso, facilitado até 50 m<br />
de profundidade com equipamentos convencionais de mergulho autônomo, viável até a<br />
faixa dos 100 metros de profundidade com misturas gasosas disponíveis atualmente nas
operadoras de mergulho; e até a faixa dos 200 metros de profundidade com sistemas<br />
operacionais mais sofisticados, disponíveis em empresas de mergulho comercial.<br />
A escala de localização de 114 da quadra proposta pela FAO se comparada a da Figura<br />
25, corresponde a 1/9 do seu tamanho (10 x 10 MM), e que cada quarto tem 5,O x 5,O<br />
MM (85,56 km2). A escala de quadrícula de menor dimensão tem 1 MM' (milha<br />
marítima quadrada), denominado Módulo Elementar da Faixa Costeira.<br />
Figura 25: Escala proposta dos sistemas costeiros<br />
As Faixas Costeiras a O Marinha podem ser compreendidas na faixa dos 50<br />
metros de profundidade, enquanto a 8 Integrada nos limites de 5 ou 10 metros<br />
dependendo da distância da orla; e a O Interior acima das cotas sobre intluência direta<br />
de marés. Nessas faixas as relações espaciais são mais complexas devido a maior<br />
intensidade de uso. O emprego da quadrícula de uma milha quadrada permite o<br />
enquadramento mais detalhado de dimensões de sistemas naturais e suas possibilidades<br />
de uso. Outros fatores relacionados as limitações humanas também devem ser<br />
considerados, como relapões ergonômicas de distância e campo visual, ou de<br />
pertinência com unidade de medida comum, podendo seu fiacionamento passar ao<br />
sistema métrico decimal. Seguindo essas relações de distância, a faixa costeira pode ser<br />
composta de sistemas e compartimentos, definidos em fUngão de caracteristicas<br />
naturais, entretanto os fatores de localização exigem escalas menores com maior<br />
precisão de localização.<br />
3.6.2. Aplicação de Critérios de Localização em Zoneamento Costeiro<br />
A marcasão de áreas em escala de módulo elementar de quadras de um grau<br />
pode ser vista de duas formas, dependendo da conveniência ao se referir a um<br />
determinado ponto ou setor. A visão de quadra compreendida entre um grau de latitude
por um grau de longitude é suficiente por exemplo, para identificar a FRENTE SUL, da<br />
ilha do Cabo Frio na linha dos 42" W ao final da praia de Itaipuaçú em 43" W, ou a<br />
FRENTE SU<strong>DE</strong>STE até o cabo de São Tomé 41°W-22"s.<br />
No caso de identificação de áreas específicas e complexas como o cabo Frio,<br />
sua localização é facilitada pela intercessão da linha longitudinal de 42" com a<br />
latitudinal de 23", assim como sua posição estratégica no contexto regional.<br />
$2" W 41"<br />
Figura 26: Locação de Área de Quadra 41"- 42" W 123" -24" S<br />
Essas relações de distância no espaço oceânico podem ser observadas nas figuras<br />
onde são apresentadas as duas formas de dimensionamento, o correspondente a uma<br />
zona de 1 grau ou 60 MM' (Figura 26) de mar e adjacências terrestres com o critério da<br />
FAO, e o direcionado a localização de pontos importantes no contexto do mneamento,<br />
como a localização centrada no cabo Frio (Figura 27).<br />
As medições de extensões e aferição de localização podem ser observadas por<br />
dois critérios: o de enquadramento regional, mais abrangente compreendendo o espaço<br />
das quadras ou quadrículas; e o de localização precisa, através do GPS. As medidas das<br />
quadras e quadrículas são em graus e minutos, identificando as principais áreas de um<br />
sistemas, enquanto a localização pontual permite medições em centésimo de minuto.
23" 30's<br />
Rgura 27: Locaçiio Pontual em quadra elementar de 1 d a 2 42' 00' W - 23" 00' S<br />
Nesse sistema proposto, essas escalas são necessárias para a visualização do<br />
cenário regional e dos locais específicos de interesse, no caso da ilha do Cabo Frio a<br />
localização pode ser representada na forma 4200-2300 ou 4200W-2300s. Para isso é<br />
necessário o auxílio de programas computacionais, que permitam a ampliação dessas<br />
áreas de interesse na escala desejada (zoom), com os níveis elementares de abrangência<br />
medidas em graus e minutos referentes às quadras e quadrículas, e o da localização<br />
exata, disposta na escala centesimal das cartas e conferida pela medição por GPS.<br />
Dessa forma, a ilha dos Papagaios tendo como referência o seu ponto mais alto,<br />
fica localizada no quadrante de 22'30's - 41°30'W (2230-4130), e o topo do morro em<br />
53.3209S e 58.925'W como é apresentado no GPS; ou de forma mais ogeracional<br />
53.32's e 58.93'W, com leitura completa de seis dígitos 22" 53.32' - 41' 58.93'. A<br />
inserção do terceiro dígito se justifica para locais específicos, com dimensões reduzidas<br />
a espaços da ordem de dois metros quadrados.<br />
A metodologia propõe que os critérios de zoneamento sejam direcionados às<br />
potencialidades para uso do espaço submarino e de pesca embarcada, acompanhado das
atividades complementares, em diferentes escalas para áreas de atuação. Para pesca<br />
oceânica, a partir da escala artesanal embarcada, as medições de distância e<br />
conhecimento dos pesqueiros englobam uma área de atuação mais ampla que os botes,<br />
demandando outras informações como mapa de relevo, ventos e ondas, ou temperatura<br />
para avaliação biológica.<br />
A composição destas iiiformações, para formatação das malhas de cartas<br />
temáticas, depende da possibilidade de padronização das informações geradas<br />
atualmente em diferentes tipos de programas. Neste caso, optou-se pelas formas mais<br />
convencionais de programas disponíveis no mercado e de computadores com<br />
capacidade para processamento de imagens em tempo real. Todos os insirumentos de<br />
levantamento e pesquisa que envolvem esses processos podem ser clisponibilizados no<br />
Brasil ou no exterior, possibilitando adaptações de conveniência a realidade do mercado<br />
nacional, cuja capacidade da demanda é de renda limitada.<br />
Os principais tópicos para aplicação de fatores de localização em critérios de<br />
zoneamento oceânico envolvem basicamente, o conhecimento da existência do recurso,<br />
sua sazonalidade, ou os períodos do ano que o usuário encontra a forma mais<br />
satisfatória. Para os pescadores, os períodos de maior abundância e melhores condições<br />
de mar, enquanto os sdstas as melhores ondas e os mergulhadores as águas mais<br />
claras e um relevo submarino acidentado.<br />
Os fatores de localização se distinguem na faixa costeira, principalmente pelo<br />
desgaste da orla em grande parte do Estado do Rio, ampliando a demanda pela<br />
recuperação e proteção da faixa a beira-mar, com medidas que possam contribuir para o<br />
aumento da bioprodução. No caso deste estudo, são avaliadas as formas de gestão com a<br />
aplicaqão de estruturas projetadas para proteção da faixa costeira, que possam além de<br />
estabilizar a orla, propiciar outras atividades, como a pesca, aquacultura, esporte,<br />
turismo e lazer.<br />
Na faixa costeira com menor profundidade, até os 20 metros, mais acessível a<br />
um número muito maior de usuários para prática do mergulho e pesca, já foi constatado<br />
um acúmulo de usuários em determinados pontos da costa mais conhecidos e<br />
divulgados. Esses locais mais procurados chegando até aos 50 metros de profundidade,<br />
são situados em rochas e lajes submersas, recifes de corais e navios afundados,<br />
amplamente utilizados por operadoras de mergulho e empresas de turismo e recreação.<br />
Os critérios de zoneamento baseados nestes fatores de localização, com o<br />
emprego de técnicas de posicionamento no espaço oceânico, procuram definir as
possibilidades de cada área para o desenvolvimento de sistemas produtivos. Nesse<br />
processo é incluída a aplicação de tecnologia de construção de recifes artificiais,<br />
baseada nos estudos desenvolvidos para plataformas de petróleo e outros anteriores, que<br />
permita o desenvolvimento de outras áreas oceânicas para o aproveitamento econômico<br />
de forma sustentável.<br />
3.6.3. Critérios de Medição de Recursos Costeiros para Zoneamento<br />
A medição da faixa costeira e espaço submarino proposta se baseia nas<br />
dimensões de características de recursos representados na carta náutica No. 1.500,<br />
referente a Região Sudeste. O nível de detalhamento nessa escala foi satisfatório para o<br />
estudo regional, entretanto não seria suficiente em detalbamento de manejo e gestão<br />
localizados em áreas de menor escala.<br />
No caso deste estudo o interesse está voltado a medição de praias, formações de<br />
costões, bancos, lajes, recifes e cascos encontrados na faixa da orla e espaço submerso<br />
de profundidade até 20 m, ou de maior profundidade quando próxima da linha de orla.<br />
As medições são calculadas em função do seu posicionamento e dimensões dentro de<br />
cada quadrícula, avaliando-se comprimentos e áreas de cada recurso diferenciado<br />
segundo sua característica.<br />
Na Figura 36 composta de 20 quadrículas observa-se que no cabo Frio, cada uma<br />
apresenta condições de contorno e características diferenciadas, considerando-se a linha<br />
da costa e espqo submerso adjacente. A faíxa azul clara compreende os limites dos 20<br />
metros de profundidade, no caso bem próximo da costa, e em ocre as faixas rochosas<br />
diferenciadas das linhas de praia com linha ponteada. A medição é feita pelo somatória<br />
das medições de ocorrência do recurso em cada quadrícula adicionada a extensão<br />
adjacente. Entretanto, devido a possibilidade de ocorrência de dois ou mais recursos<br />
com características diferentes, deve-se buscar aproximações e critérios coerentes para<br />
evitar grandes distorções entre a realidade e o projetado. Nas duas primeiras quadras na<br />
primeira coluna a esquerda na Figura 28 observa-se a predominância de praias<br />
protegidas, enquanto nas da coluna adjacente encontram-se costões.
c<br />
Figura 28: Malha de 20 milhasf do Sistema Ct 10 Frio<br />
As medições propostas tem critérios diferenciados em relação a cada recursos e<br />
em hção da localização. Como se pode observa na Figura 29 quadrícula 5, as praias<br />
dimensionadas em mais de 2,O milhas acompanhando a linha de contorno, encontram<br />
faixa rochosa de morro (estrela com seta lilás) formando o contorno do mar com o canal<br />
de entrada da lagoa, com uma extensão que pode ser aproximada de 1,O milha. Neste<br />
caso se considera nessa faixa 2,O milhas de praia aberta e 1,O milha de costão rochoso,<br />
ou a ocorrência de laje na quadrícula 6, no caso pode ser considerada dentro do padrão<br />
de 1,O MM. Essas aproximagões para o dimensão mínima de 1,O milha marítima são<br />
também para efeito de localização, a valoração é atribuída em hção do potencial de<br />
cada recurso encontrado na quadra. Neste caso a demanda do quadro de usuários está<br />
voltada ao potencial de recursos de bioprodução, paisagístico ou exóticos.<br />
Figura 29: Corte de linha pontiihada de praia com costão e lajes
Quadrículas definindo encostas rochosas, "costão", podem ser auxiliadas com<br />
curvímetro para medir a linha de costa de domínio, que no caso da Figura 30 se estende<br />
por mais de 2 milhas. A área da faixa de costão pode ser dimensionada calculando-se a<br />
extensão de profundidade das superfícies rochosas ao longo da linha de orla.<br />
Os recursos encontrados na faixa marítima como ilhas, nauí?ágios e lajeados,<br />
têm formas diferenciadas de medição. As quadrículas da Figura 3 1 definindo espaço de<br />
orla de ilha (a) é medida linear calculada como costão, no caso com mais de 2 milhas<br />
com suas diferenças e particularidades, e a coroa no centro da quadra (b) do relevo<br />
submarino, com a profundidade e local de apontamento da laje assinalado de 14 mebos.<br />
(a) Orla rochosa de ilha @) Revelo submarino rochoso<br />
Iiigura 31: Tipos de áreas costeira - ilhas e fundos rochosos<br />
A quadrícula definindo casco de navio afundado pode ser identificada pela<br />
presença do símbolo, como entre as duas quadras a esquerda na Figura 33, onde outros<br />
dois cascos são identificando pela denominação "casco" ao lado das profundidades (65<br />
e 3 m) formando uma zona de níiufkágios, cobrindo área de coroa com cerca de 4<br />
milhas 2 de espapo de uso com recursos diferenciado.<br />
Figura 33: Relevo submarino de banco de naufrágios
3.7. Configuração do Modelo Tridimensional do Espaço Oceânico<br />
3.7.1. Sistemas de Localização por Carta Náutica<br />
A carta náutica serve como instrumento de navegação contendo informações<br />
básicas sobre profundidades, distâncias, tipos de fundo, locais de atracação e áreas<br />
diferenciadas de navegação restrita. Na Figura 34 a carta náutica No.1.500 foi<br />
modificada com a introdução de malha de 1 x 1 milha sobre a plataforma continental até<br />
os limites com profundidades em torno de 200 metros, complementando a delimitação<br />
dos limites da zona de exclusividade para produção de hidrocarbonetos, dos limites de<br />
mar territorial(12 milhas) e limite de zona contígua (24 milhas) contidas na carta.<br />
A carta 1500 correspondente a Região Sudeste apresenta três quadrantes<br />
identificados como Frente Sul, Frente Sudeste e pequeno setor ao norte de Frente Leste.<br />
Na divisão proposta de malha de 1 x 1 milha, o quadrante de 1" está representada pela<br />
linha vermelha, a quadra de 30' em linha azul escuro; e as de 10' e 5' em linha azul<br />
clara; e a de 1' em linha preta. A carta digitalisada com escalas dimensionais podem ser<br />
utilizadas de diversas formas em planos de manejo e gestão, com relações mais precisas<br />
de distâncias, facilidades de recortes e ampliações de áreas específicas como foi<br />
observado nas figuras de 36 a 38. Com programas de imagem (no caso foi usado Adobe<br />
Photoshop) informações adicionais podem ser introduzidas na carta, como demarcações<br />
de reservas, parques, áreas de pesca ou símbolos e figuras representativas de fatores<br />
significativos no contexto de múltiplo uso.<br />
As cartas náuticas são práticas e de manipulação acessível, entretanto são pouco<br />
eficientes na visualização do relevo submarino associado ao espaço íridirnensional da<br />
massa de água, onde ocorrem as interações ecológicas e operações de produção. Na<br />
metodologia proposta a carta serve como instnimento básico de localização com a<br />
identificação de recursos naturais de características homogêneas, formando sistemas e<br />
compartimentos com distâncias proporcionais ao longo das frentes sul, sudeste e leste.<br />
Dessa forma se pretende dimensionar os recursos segundo características definidas pela<br />
demanda dos diversos usuários como praias, ilhas, costões, recifes, lajes e cascos de<br />
navios afundados, associando-se a outras informações disponíveis como de estatística<br />
pesqueira, correntes e temperaturas. A formata~ão desses dados permite a visualização<br />
do espaço tridimensional oceânico, necessitando para isso de outras fontes de imagem<br />
do relevo submarino e complementações adequadas, com informações oceanográficas<br />
digitalizadas.
(1) (2)<br />
(1) Limites da Zona de Exclusividade para produção de hidrocarbonetos<br />
- . - . -. - > (2) . . Limites de Mar Territorial(l2 milhas) e- imite de Zona Contígua (24 miihas)<br />
Figura 34: Carta da Região Sudeste correspondente as rente Sul e Frente sudeste. ~ k ãde o 2<br />
representada pela M a vermelha, 30' iinha anil escuro; 10' e 5' iinha azul clara; 1' iinha preta
3.7.2. Formatação de Modelo Tridimensional do Espaço Oceânico<br />
Fak Oceânica Econômica<br />
A faixa oceânica engloba grandes profundidades com a ocorrência de mudanças de<br />
águas superíkiais, que pode ser acompanhada por imagens de satélite (Figura 35) para<br />
busca de zonas mais férteis, onde as formações de águas em tons de cores até chegar ao<br />
branco indicam as águas fiias, efeito da ressurgência no cabo Frio.<br />
es: 43" Oeste 41"<br />
Latitude: 22' 40' Sul<br />
Latitude: 24' Sul<br />
Figura 35: imagens de satélite da temperatura na superficie em torno do cabo Fkio.<br />
Na imagem acima observamos predominância de tons amarelos e vermelhos de<br />
temperaturas mais quentes, acima dos 20" a partir das áreas de tons verdes. As<br />
quadrículas produzidas através da imagem de satélite podem ser trabalhadas, ajustando-
se as dimensões de cada zona avaliada pelas estatísticas pesqueiras. Com a imagem do<br />
relevo submarino se pode compor quadro mais expressivo de grandes áreas oceânicas.<br />
Faixa Oceanica Territoria1<br />
A base de avaliação de potencial da metodologia proposta está nas medições do espaço<br />
submarino e seus componentes, identificando fatores que possam caractesizar áreas,<br />
formando panorama tridimensional do solo submarino complementar do território<br />
nacional, para que se possa avaliar seus efeitos na bioprodução e potencial de melhor<br />
empregabilidade e desenvolvimento de recursos,<br />
A altura da queda do talude pode ser observada na Figura 36 e a estreita faixa de declive<br />
do talude contrasta com a extensão da planície de plataforma continental, como pode<br />
ser observado na Figura 37, produzidas no laboratório LAMCEICOPPE.<br />
Figura 36: Configuração do declive do talude da plataforma continental da baeia de Campos<br />
Essas configurações de relevo apresentam a forma com distâncias reduzidas,<br />
compactadas em níveis de proporção que possibilitam a avaliasão de grandes extensões<br />
oceânicas num mesmo campo. Através dessas imagens se pode identificar áreas<br />
diferenciadas, como a formação de fendas e penhascos em contraste com as planas de<br />
declive, até chegar as zonas de relevo abissal com mais de mil metros de profundidade.<br />
Nos espaços adjacentes onde as camadas oceânicas encontram a barreira do talude,<br />
ocorrem interações que favorecem a bioprodução em diferentes níveis das cadeias<br />
tróficas de cada ecossistema.<br />
A vasta extensão da plataforma continental pode ser avaliada através do recorte<br />
adjacente ao talude apresentado na Figura 37, com tendência de grandes planícies de<br />
acesso facilitado em profundidades decrescentes a partir da faixa dos 200 metros. Essa
característica permite o acesso de diferentes modalidades de pesca, algumas equipadas<br />
com processadores de imagem e marcadores GPS, possibilitando a visualização do<br />
pesqueiro e configuração de parâmetros que identifiquem alterações na produtividade.<br />
Figura 37: Vista de cima do talude e extensão da plataforma continental<br />
As áreas de planície vêm sendo exploradas através da pesca de arrasto, em<br />
diferentes níveis de profundidade provocando a desertificapão de grandes extensões.<br />
Modalidades mais recentes, como armadilhas atuando sobre bancos e parcéis mais<br />
conhecidos vêm provocando outros efeitos nos estoques naturais, o que demanda<br />
melhor conhecimento dessas zonas e a identificação de fatores de produqão na<br />
descoberta de novas áreas desconhecidas ou pouco exploradas.<br />
8 Faixa Costeira Marinha<br />
As possibilidades de aproveitamento dessa faixa podem ser separadas em dois<br />
grupos, o de atividades tradicionais como a pesca nas diferentes faixas de profundidade<br />
e tipos de embarcação, e as atividades emergentes mais capitalizadas como o mergulho.<br />
Apesar de mais afastada das grandes concentraqões da faixa costeira integrada, houve<br />
um aumento na intensidade de uso dos recursos nos limites de 50 meiros de<br />
profundidade, incluindo o emprego de mistms gasosas no mergulho recreativo.
Apesar do potencial decorrente do acesso facilitado e tecnologia disponível de<br />
levantamento, essa faixa marinha ainda é pouco pesquisada de forma sistemática,<br />
faltando informações sobre formas de vida, solo e relevo submarino. A identificação<br />
dos diferentes habitats submarinos, suas características e dimensões permitem a<br />
delimitação de áreas homogêneas e zonas caracterizadas por fatores definidos.<br />
Figura 38: Modelo japonês de sistema de licença de pesca<br />
Em decorrência da concentração do conhecimento mais aprofundado dos<br />
sistemas submarinos serem de domínio dos pescadores, optou-se por processos<br />
simplificados de zoneamento, baseado em áreas tradicionais como na Figura 38<br />
aplicado no Japão. Desse modo as áreas demarcadas são reconhecidas e<br />
regulamentadas de acordo com padrões de consenso regional, podendo ser melhor<br />
pesquisadas através de programa específico de desenvolvimento. A faixa costeira<br />
marinha por ser área de transição entre os sistemas terrestres e aquáticos são as de maior<br />
valor econômico-ambiental, com maior densidade de uso e mais sujeita a degradação,<br />
sendo por isso necessários critérios específicos de avaliação e possibilidades de uso.<br />
0 Faixa Costeira Integrada<br />
A faixa costeira integrada é a continuidade da faixa costeira marinha, só deve ser<br />
considerada em regiões onde a linha costeira é recortada por ambientes de transiçiio<br />
como lagunas, planícies de estuários, deltas, enseadas protegidas, restingas ou
manguezais. Esses sistemas são os mais complexos e sensíveis ao múltiplo uso,<br />
necessitando estudos mais detalhados sobre cada área homogênea, suas possibilidades e<br />
limites de aproveitamento sustentável.<br />
Sistema de zoneamento de áreas específicas pode ser observado no exemplo da<br />
Figura 39, com critérios que exigem maior nível de detalhmento nos levantamentos,<br />
facilitando a definição da vocação de cada local e utilização mais propícia.<br />
8 Faixa Costeira Interior<br />
A faixa costeira interior compreende as principais bacias em dimensões e<br />
estratégicas para regiões mais áridas. As zonas estuarinas são mais férteis e dependem<br />
da qualidade dessas águas, que sofiem diferentes tipos de degradação urbana, agrícola e<br />
industrial ao longo de seu percurso desde os sistemas capilares das nascentes. O<br />
mapeamento e comparíimentação desses espaços dependem de fotogametria<br />
especializada para cursos de rios, estradas e propriedades ribeirinhas de produção<br />
agrícola, industrial e lazer, definindo áreas propícias ao uso apropriado dos recursos<br />
hídricos em piscicultura, represas e sistemas de irrigação e drenagem controlada para<br />
riscos de contaminação. Critérios de levantamento e mapeamento de áreas terrestres
estão sendo desenvolvidos pelo Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente -<br />
LIMAICOPPE como pode ser observado em exemplos de cartas temáticas Figuras 40 e<br />
41, identificando características geológicas e da coberiura vegetal.<br />
Geologia<br />
LEGENDA:<br />
Seqüência Inferior- Fm. Cabo Frio<br />
Seqilência Supdor - Fm. Búzios<br />
Fm. Barreiras<br />
"",. - Sed. Recentes de Origem Marinha<br />
(Z1 Sed. Recentes Origem Fluvial<br />
n ~ ag=<br />
Figura 40: Carta Temática 1- Caracterização da formação geologica (Fonte: LWCOPPE)<br />
As cartas temática podem ser criadas de acordo com a necessidade de estudo<br />
específico, que no caso de direcionam as nascentes e demais corpos aquáticos.<br />
Vegetação e Uso do Solo<br />
Rgura 41: Carta Temática 2 Cobertura vegetd e uso do espaço costeiro terrestre (LIMAfCOPPE)<br />
*Pr
3.8. Tecnologia de Construção das Zonas de Pesca com Sistemas de Recifes<br />
O termo recife artificial pode ser abrangente quando se refere a qualquer estrutura<br />
afùndada do mar. Com o aprimoramento tecnológico cada unidade passou a ser tratada<br />
como um módulo de recifes que formam os grupos de recifes componentes dos<br />
sistemas. Os módulos, gnipos e sistemas variam muito em dimensões e<br />
proporcionalidade em hção de objetivos, localização, condições submarinas e limites<br />
de expansão. Nas últimas décadas a construção de estruturas ariificiais de proteção da<br />
zona costeira passou por grandes avanços tecnológicos, tenho suas h@es ecológicas e<br />
sociais discutidas em nível comunitário. Os projetos costeiros passaram a ser analisados<br />
pelas suas hções integradas de pesca, esporte, turismo e recreação, enquanto as<br />
atividades oceânicas de pesca comercial e esportiva dividem o espaço com embarcações<br />
na rota das plataformas e instalações de exploração de petróleo (Figura 42).<br />
Figura 42 : Estruturas componentes dos sistemas de fazendas marinhas<br />
No Capítulo II foram observados os diferentes tipos de estrutura e suas finalidades<br />
no campo da bioprodução comercial. Neste item são observados suas hções espaciais<br />
como métodos mais complexos de interação com os sistemas produtivos naturais.<br />
Apresentação de parâmetros básicos de características gerais de desenho de engenharia<br />
de estruturas submarinas voltadas a eficiência em proteção de sistemas naturais e<br />
bioprodução. A identificação do tipo e finalidade da estrutura é necessária para os<br />
estudos e pesquisas de suas finalidades de engenharia de construção e seus efeitos<br />
positivos para o múltiplo uso. Através desse método se torna possível determinar outros<br />
valores e externalidades nos projetos de gerenciamento costeiro, identificando
possibilidades mais consistentes de melhor aproveitamento da oferta de recursos, para<br />
geração trabalho, produtos e serviços regionais.<br />
- Eskuturas de Proteção e Propagação Costeira<br />
Na Faixa Costeira Integrada as estruturas de proteção da linha costeira e as de<br />
fundo de proteção e propagação da bioprodução (Anexo 11, Parte 3) são analisadas como<br />
componentes dos sistemas costeiros de proteção e indução da bioprodução. Funcionam<br />
implantados em faixas de praia deterioradas pela ação de ondas ou áreas sobre outras<br />
influências que precisem de proteção. No caso de fundos artificiais, não há bibliografia<br />
sobre a sua implantação fora do Japão, sugesttíes devem ser incluídas onde ocorra<br />
condições propícias para o desenvolvimento de pesquisas.<br />
- Estruturas de Indugão da Produção Primária<br />
Com a evolução dos estudo e modelos de medições de correntes, temperatura,<br />
salinidade e variação de massas de água, passou-se a desenvolver estruturas nas bordas<br />
da Faixa Oceânica Territoria1 denominadas recifes de ressurgência, com finalidades<br />
definidas nos processos de bioprodução controlada (HARGREAWS e GOMES, 1997).<br />
Estruturas complementares empregadas em sistemas de indução de produção primária,<br />
como os módulos M mEX S e L da Penta-Ocean Construction, formam paredes no<br />
fundo do mar provocando vórtices e mistura de águas que induzem a fertilização<br />
primária (Figura 43). Servem também como áreas de sombra e proteção para espécimes<br />
em fase de crescimento nas áreas próximas da costa.<br />
Figura 43: Módulos Maritex S e L de ação integrada de produção primária<br />
Outras formas como o modelo L da prefeitura de Shizuoka, tem com o objetivo<br />
de induzir turbulência usando as diferenpas estáticas e dinâmicas de pressão provocadas<br />
pela estrutura, gerando um fluxo direto de acesso as camadas do fundo para supedície,<br />
(Figuras 44). Essas estruturas precisam ser melhor estudadas quanto as suas aplicação
no estado do Rio de janeiro, devido ao seu potencial para mistura de águas e altos<br />
custos de projeto.<br />
Rgura 44: Móduio de mistura de águas<br />
Os recifes artificiais de pesca evoluíram após pesquisas submarinas com<br />
aqualung, que identificaram a formação de camadas e massas d'água no entorno de<br />
relevos e desníveis no solo submarino ( LIMBAUGH, RECHNITZER, 1955), e a<br />
influência da mistura de águas na formação de plancton (produção primária). As<br />
pesquisas começaram a identificar que a superposição de camadas, com suas densidades<br />
e direções de movimento, ocorre periodicamente com a ação de marés, correntes<br />
costeiras / oceânicas e ondas, podendo ser influenciadas pelos recifes artificiais na<br />
proporção do seu tamanho e formato.<br />
A pesquisa sobre a ocorrência de vórtices e camadas, que aparecem e mudam de<br />
movimento, direção e velocidade, devem ser continuas até que se possa definir os<br />
padrões de movimento e intensidade, mais eficientes para instalação dos recifes. Nos<br />
anos de 1960 as pesquisas sobre o assoreamento das estruturas fechadas resultaram nos<br />
primeiros módulos de moldura cúbicas, que passaram a ser conduzidas para estudos de<br />
formação de vórtices, variação de correntes e áreas de estagnação.<br />
Pigura 45: Açáo integrada de grupo de recifes de ressurgêicia Maritex L e S
Suas aplicações nos limites da faixa costeira territorial mais próximos da orla<br />
demandam estudos e pesquisas de funções e fatores de eficiência da estrutura, em<br />
relação a economia de aproveitamento de forças naturais de marés e correntes na<br />
indução de produtividade, em sistemas de grupos de recifes MARTTEX S e L (Figura<br />
45) induzindo a fertilização em área de 10 hectares. Esses métodos são utilizados para<br />
atragão de cardumes, fertilização de áreas de cultivo de moluscos e indução de mistura<br />
de águas com resíduos em fundo de baias e enseadas.<br />
-Modelo do Recife e Eftciência<br />
Estudos mais aprofundados do método de propagação de produção com recifes<br />
começaram a ser concluídos na década de 1960, quando os japoneses passaram a<br />
estudar a eficiência de cada modelo, dimensão dos módulos e sua capacidade de atração<br />
de peixes em áreas próximas da costa. Nesse início observou-se que os módulos<br />
isolados tinham pouca eficiência comparados aos grupos, levantando a questão de quais<br />
seriam as dimensões adequadas para cada recife, custos de construção e instalação de<br />
superestruturas.<br />
Quanto ao tipo de material, também nos Estados Unidos, os estudos<br />
comparativos que vinham sendo conduzidos sobre vários tipos de estruturas como,<br />
carrocerias, vagões e rochas, indicaram uma concentração bem maior nos módulos<br />
japoneses de concreto que em outros materiais (TURNER ET AL. 1969). O processo de<br />
lançamento dos blocos de baixo custo foi abolido pelas instalações, que exigiam estudos<br />
mais sofisticados do fundo, que também apontava a necessidade de prover os blocos de<br />
áreas internas para geração de vórtices. Segundo OGAWA (1967) as estruturas unitárias<br />
para serem eficientes devem ter no mínimo entre 20-100 m 3 , com 3 ou 5 metros de lado<br />
por exemplo, o que foi fator relevante considerando que os sistemas de recifes artificiais<br />
passaram a ser construídos com volumes 30 a 70 mil metros cúbicos e instalados em<br />
profundidades maiores entre 70 e 150 metros.<br />
No Golfo do México constatou-se que de 1940 a 1970 foram instaladas mais de<br />
2200 plataformas de petróleo com diferentes dimensões e que a produção de pescado<br />
nesse mesmo período passou de 113 mil para 630 mil toneladas, aumentando o número<br />
de embarcações e a eficiência da pesca, incentivando as pesquisas (HANSON, 1974).<br />
Diante desse cenário, os norte-americanos passaram a empregar como recifes as<br />
superestruturas sucateadas como cascos de navios, restos de construção nos estados do<br />
sul na costa do Atlântico e plataformas de petróleo e outras estruturas no Golfo do
México, formando seus sistemas em grande escala, para pesca comercial, recreativa e<br />
como atrativo para o turismo submarino.<br />
Esses estados do sul dos Estados Unidos, através de suas agencias<br />
governamentais e serviços, distribuem manuais e informações na Internef, sobre a<br />
descrição das zonas de pesca e mergulho e localização dos recifes artificiais, assim<br />
como os procedimentos de segurança na pesca e caça submarina em torno das<br />
plataformas de petróleo. Esses procedimentos indicam direcionamento de métodos a<br />
fatores de demanda de uso das faixas maritimas temtonais mais zfastadas, em casos<br />
como da pesca esportiva oceânica nos limites da faixa oceânica econômica.<br />
-Dimensões e Eftciência dos Grupos e Sistemas de Recifs<br />
No método proposto o conceito de dimensão espacial se baseia na quadrícula de<br />
1 milha 2 e em medidas infkriores podem ser em escalas métncas ou em polegadas. Os<br />
padrões de proporcionalidade atuam em três níveis, o dos módulos dos recifes, os<br />
grupos e os sistemas formados por grupos. Os módulos de recifes podem medir 500<br />
metros cúbicos, com 10 metros de altura e pesando mais de 80 toneladas. As molduras<br />
cúbicas totalmente vazadas foram substituídas por sofisticadas estruturas modulares que<br />
caracterizam os módulos dos fabricantes japoneses. Atingiu-se o estágio em que o<br />
aspecto mais importante é o desenho do interior dos recifes e sua disposição no fundo<br />
do mar, para um melhor aproveitamento das correntes. Os recifes deixaram de ser<br />
avaliados como um conjunto de módulos unitários, mas como zonas de propagação e<br />
pesca, através do levantamento das características submarinas, dimensões das áreas de<br />
implantação, possibilidades bioeconôrnicas de expansão (volume de peixes) e dos<br />
limites de esforço de pesca (número de barcos, pescadores, combustível, etc.).<br />
Entre os fatores mais importantes na construção dos grupos e sistemas de recifes<br />
são a distribuição dos volumes, o arranjo dos módulos, a seleção dos modelos mais<br />
adequados e principalmente como combinar os componentes na área escolhida. No<br />
sistema de Ojima (Figura: 46) com 3.600 metros de extensão foram empregados três<br />
módulos básicos combinados na composição dos grupos uniformes, com espaçamento<br />
de 850 e 900 metros alinhados acompanhando o fiuxo de marés e correntes.<br />
Pode-se observar que os grupos simples de recifes com menos de 400 m 3<br />
estariam fora das novas propostas e os mais adequados estão entre 800 e 1000 m 3 . Esses<br />
dados são relevantes se comparados a tecnologia empregada no período de instalação<br />
dos recifes em 1976, durante o 1" Plano de Desenvolvimento Integrado, visto que com
essas dimensões 10 grupos de recifes formam um volume de 8 a 10 mil m 3 , que são<br />
três ou quatro vezes maiores que os recifes regulares instalados na época. Observa-se<br />
também que uma superestrutura equivale a 500 módulos cúbicos dos primeiros projetos.<br />
Figura 46: Sistema de Recifes de OshimaIJapão (Oeean Age, 1981)<br />
Os grupos de recifes também podem ser organizados com 6 a 20 módulos, em<br />
propoqões relativas a profundidade e localização, formando sistemas de 5 a 20 mil m 3 .<br />
A técnica está relacionado ao espaçamento entre os recifes unitários, os grupos e a área<br />
de instalação e influência dos recifes. Essas distâncias são estabelecidas em função do<br />
volume de cada unidade, variando nos limites de 50 a 200 metros, em grupos<br />
proporcionalmente distribuídos, dependendo das relações de contorno e profundidade<br />
em distâncias de 300 a 600 metros, formando os sistemas de recifes.<br />
Pi'igura 47: Sistema de Recifes de ShimaneIJapão (Higo, 1981)
No sistema da Figura 47 o complexo de recifes adotou a forma linear de paredes,<br />
composto de quatro grupos ocupando extensa faixas costeiras com área de 4,36 km2,<br />
englobando inclusive os recifes naturais da área. Os limites latitudinais e longitudinais<br />
das instalações formando zona de infiuência, são estabelecidos por parâmetros de<br />
produgão condicionantes da viabilidade bioeconômica. As dimensões do conjunto<br />
devem ser proporcionais as formações naturais adjacentes de estuários, lagoas e<br />
manguezais, que são os elementos contribuintes do fluxo de nutrientes e áreas de<br />
desova, condicionantes da formação e agregação dos cardumes.<br />
A tendência de proporcionaíidade nas dimensões dos grupos de recifes foi<br />
também observada no sistema francês da região de Languedoc-Roussilion (Figura 48),<br />
com quatro grupos definidos de grandes estruturas e pequenos módulos dispostos de<br />
forma aleatória, principalmente no entorno esterno.<br />
Figura 48: Sistema de Recifes Artificiais de Languedoc-Roussiiion (Fonte: CEPRALMAR)<br />
Na proposta metodológica de avaliação de viabilidade de implantagão de<br />
sistemas de múltiplo uso outros fatores podem ser agregados, aos de fazendas marinhas<br />
abertas com grupos de recifes artificiais apresentados acima. A faixa marítima costeira<br />
até a profundidade máxima de 50 metros deve ser detalhada em escala operacional de<br />
mergulho, visando além da produtividade a sua utilização com atrativos de atividades<br />
submarinas recreativas ou competições esportivas de pesca em áreas específicas.<br />
Componentes do patrimônio cultural, arqueológico e arquitetônico histórico tem<br />
cotagão no mercado de turismo e recreação, atuando no lazer dirigido as atividades<br />
culturais ou recreativas de impacto, como o mergulho com atrativos arqueológicos,<br />
passeios históricos, ou belezas naturais. Esse conjunto de fatores deve ser considerado<br />
nas primeiras instâncias do levantamento, na ident&ca@o locacional que caracteriza
cada setor da faixa costeira. Através do conhecimento das possibilidades operacionais<br />
de cada local se pode avaliar as proporções de uso do espaço submarino com estnituras.<br />
Através do Modelo Cosenza se pretende identificar caracteristicas naturais de cada<br />
local, que são de interesse para um grupo de usuários, o que implica na necessidade de<br />
locais de atracação e bases terrestres. Algumas áreas são naturalmente privilegiada com<br />
muitos recursos e outras menos favorecidas podem desenvolver seus próprios recursos.<br />
No caso dessa metodologia, o enriquecimentos do espaço submariuo se processa com a<br />
instalação de estruturas, como os recifes ou cascos de navio, tornando o local<br />
conhecido com o novo atrativo.<br />
3.9. Avaliação de Recursos por Demanda de Usuário<br />
O volume de divulgação na mídia sobre esportes radicais na faixa costeira dão a<br />
dimensão do volume de recursos que envolvem essas atividades, principalmente o surfe<br />
e o mergulho. O crescimento dessas atividades começou a gerar conflitos com a pesca<br />
tradicional, provocando alternativas de política administrativa com poucos resultados<br />
práticos, como no caso da RESEXIAC avaliada nesse estudo. Na pesquisa do quadro de<br />
usuários observou-se que para as atividades de pesca e mergulho, as superfícies<br />
rochosas de costões e alterações no relevo submarino eram fatores essenciais, devido a<br />
maior produtividade natural, enquanto para os siufistas as formações submarinas eram<br />
importantes para formação de ondas.<br />
Na escala de usuários, a atividade mais constante e de importância sócio-<br />
econômica é a pesca artesanal costeira, cuja demanda por novas áreas foi observada em<br />
seus diferentes fatores de produção. Por este aspecto, segue-se as recomendações da<br />
FAO na elaboração de planos integrados de gerenciamento costeiro, assim como as<br />
considerações do Capítulo I visando o manejo adequado de habitats naturais.<br />
Como foi observado no item 3.5.3. Critérios de Medição de Recursos Costeiros para<br />
Zoneamento, a identificação da extensão de linha costa ou ocorrência do relevo<br />
submarino, se restringe as dimensões apresentando poucos detalhes específicos sobre os<br />
recursos. Nessa proposta, voltada a gestão de habitats submarinos para o múltiplo uso,<br />
o objetivo se concentra no dimensionamento dessas áreas em potencial mais procuradas<br />
e as possibilidades de expansão em outros locais, com a instalação de estrutums<br />
artificiais, que possam atender ao aumento da demanda e evitar grandes concentrações<br />
de usuários sobre os mesmos recursos.
CAPITULO IV:<br />
COMPARTIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO <strong>DE</strong> RECURSOS<br />
COSTEIROS E OCEÂNICOS DA REGIÃO SU<strong>DE</strong>STE - RJ<br />
4.1. Organização e Gestão de Sistemas Complexos<br />
A proposta de avaliação de eficiência de inetodologia identificou grande<br />
diversidade de usuários e de características iiaturais singulares na Região Sudeste do<br />
Estado do Rio de Janeiro, foi~nando u m quadro integrado de plano de gestão que<br />
deimilda pesquisa iilterdisciplina- e a definição de LI^ quadro de usuários (Figura 14).<br />
Métodos diferenciados de planejamento devem ser ajustados ao espaço costeiro e<br />
oceânico, superando a falta de iiifosinações, que dependem de equipainentos de alta<br />
tecnologia, custos elevados e sistemas orgaiizacionais e operacioliais coii~plexos<br />
(HARGREAVES, ESTEFEN, 1999a). As restrições 110 campo visual subinasiilo de<br />
forma crítica em ail~lplitude, notória em águas prof~mdas e ultra prof~~ildas, revelam<br />
pouco sobre o potencial bioeconôinico ou estudos específicos c01110 os efeitos da pesca<br />
de ai-rasto, emissão de esgoto, derraiile de óleo, dragagein e o~iti-os fatores que alteram a<br />
susteiitabilidade.<br />
Na avaliação de possibilidades de iiivestiineiitos esses fatores são relevantes, a falta<br />
de dados sobre compoilentes básicos conlpromete a confiabilidade de projetos e<br />
dificulta ações decisórias de planejaiilento e gestão. As dificuldades, riscos e custos para<br />
se atingir grandes profundidades nas condições atuais, exigem subsídios para que possa<br />
cleseiivolver o levantainento da plataforma continental na foi-ina tridimeiisional<br />
iiicluiiido esses coiliponentes bioecoilôiiiicos e ainbientais.<br />
Coilfoime proposta inetodológica (Figura 15) a Região Sudeste deve sei- dividida<br />
em sistemas nat~irais, com f~inções de identificas recursos de aplicação em planejameiito<br />
e gestão de inúltiplo uso (HARGR.EAVES, ESTEFEN, 19997, iiicluindo os seguintes<br />
aspectos:<br />
a) Cenários de interações sócio-ecoiiô~nicas da Região Sudeste que definem os fatores<br />
de demanda de recursos naturais com oferta limitada. Região coinposta de três<br />
frentes oceânicas foriiiando co~npartimentos e sistemas, identificados por<br />
características homogêneas.<br />
b) Planejamento integrado de projetos e métodos de levantamento direcioiiados a<br />
configuração de zoneaiilento de sistemas e compartime~itos do cabo Frio e
adjacêiicias. Bases estatísticas de pianos de gestão e manejo de atividades<br />
oceânicas e costeiras, visando a implantação de projetos de sistemas integrados de<br />
bioprodução e sustentabilidatle de recursos iiaturais.<br />
c) Coinponentes de projetos e sistemas definidos coni avaliações de demanda e oferta<br />
de recursos naturais eni locais identificados coni características requeridas e<br />
erico~itradas ao longo da costa sudeste e norte do Estado. Identificação e<br />
equacioria~ueiito do complexo aiiibiental identificantlo problemas e alternativas<br />
para deterioração e e~iriqueciiiiento da orla, ou ações como a pesca e atividades<br />
predatórias.<br />
Esses fatores e coiiipoiieiites podem ser coinpreeiididos taiilbéin coiiio forma de<br />
plaiiejaineiito regioiial integrado de ação goveiiiaiilental, serviiido de base para tomada<br />
de decisões.<br />
4.1.1. Coiistrução de Sistemas Operacionais<br />
A divisão de sistemas ilaturais da Região Sudeste tem c01110 base o zoiieaineiito do<br />
espaço tiidimensional segundo características de liomogeiieidade, desde os limites da<br />
platafor1iia coiitiiieiltal às faixas de marés. Organização e processameiito de<br />
iiifoimações locacioiiais caracterizaiido áreas seg~mdo relações ecológicas, geográficas<br />
e condicioiiaiites aiiibieiltais para defiiiição da oferta de recursos. Relações eleiiieiitares<br />
de inodelagein coiii características gerais de áreas e potencial de usuários para projetos<br />
locais de ii~ílltiplo uso.<br />
Os planos de inaiiejo e gestão depeiideiii de coizl?eciilieiltos dos recursos<br />
siibmersos localizados, ainda obtidos coiii meios precários de localização e avaliação<br />
de produtividade. Foimas difereiiciadas de estudos dos efeitos do múltiplo uso nos<br />
estoques e degradação, através de plailos de zoileaiiieiito adequado de caracterização da<br />
costa de acordo com referêiicias de demanda. Coiijugação de iiiiòr~iiações<br />
caracterizando planos de manejo dirigido ao espaço 3D subiilariiio, baseado eiii imagem<br />
de satélite e mapas de relevo subinariilo.<br />
Os sistemas de produção e serviços visão o aproveitainento do espaço<br />
tridiilieilsional definindo coiiio podem ser aproveitados para prod~ição e atividades<br />
coiiipleiiieiltares. Geração de sisteinas produtivos a partir de vocações e poteiicialidades<br />
iiat~ii.ais e coilsti-uídos com estr~~turas de proteção e iiidução de biomassa.
4.1.2. Iiistrumentos de Aplicação Metodológica<br />
A opção de orieiitação através de cai-tas iiáuticas e fotos de locais mais<br />
iiiiportaiites permitem o zoiieaineiito identificaiido características gerais de cada área.<br />
As atividades podeili ser separadas eiii gi-upos seguiido características coniuiis em<br />
relação a utilização dos recursos e coii~patibilidade, que pode ser verificado através de<br />
matrizes gereilciais de avaliação de iiií~ltiplo uso. As características orgaiiizacioiiais e<br />
são diferenciadas entre as atividades de pesca e merguho, assim como em relação aos<br />
outros gizipos de usuários, que iilcliieili a exploração de petróleo, eilipresas de<br />
prospecção, perfi~ração, iiistalação de poços e laiiçaineiito de linhas, ou operações de<br />
apoio, como em inoiiobóias e traiisporte. Neste caso, partiu-se do problema identificado<br />
lia matriz de coii~patibilidade de LILL (Figura 20) discutida i10 Capítulo 111, apontando a<br />
ilecessidade do equacioi~aiiiento de iiíveis de relações de uso iildeterniiiiado de<br />
atividades sobre recurso naturais como a pesca, iiiariculhira, turisi~io e lazer, c01110 vem<br />
ocoii-eiido priiicipalilieiite lia região do cabo Frio e adjacêiicias.<br />
Os coiiipoiieiites priiicipais da oferta têm suas características iiiedidas eiii milhas<br />
marítimas, ideiltiíícados em praia, costão, ilha, recifes, lajes e casco de navio afimdados.<br />
Os coii-ipoiieiltes de deiiiaiida de iiiúltiplo uso como iiistalações de atracação de<br />
embarcações, infia-estr~itura de serviços e específicas, são detei-miiiailtes do acesso aos<br />
recursos naturais disponíveis eiii cada local, coiiio praias, costões, recifes ou ilhas. Os<br />
sistemas são definidos para os locais de inaior deiiiaiida por atividade e possibilidades<br />
de ii~terveiição que possam inelliorai. a sit~iação existente e promover o aimeiito da<br />
produção e susteiitabilidade. As atividades foram escolliidas para equacioilainei~to de<br />
problema ideiitificado lia região do cabo Frio, coii~preendendo gmpos de atividades de<br />
mergulho, pesca e surfe com diièreiites objetivos de uso iilcliiindo coinercial,<br />
coiiipetições esportivas, recreação, hii-isiiio especializado e lazer.<br />
4.2. Medição Locacioiial de Recursos Oceânicos<br />
4.2.1. Coiifigiiração da Região de Estudo<br />
Ideiitificação de recursos ilati~rais por características lioinogêiieas, passa<br />
iilicialiiieiite pelo coi-te t~~nrzsect de identificação das faixas coil-espoiideiites as<br />
FRENTES oceâiiicas. As recoiiieiidações da FAOIUN de dezeinbi-o de 1998, propõeiii<br />
uma ação integrada de inaiiejo lia zona costeira, iiicluindo florestas, agricult~ii-a e pesca,<br />
buscaiido ~m inell-ior controle das águas eiii todos os níveis. A proposta de iiiterpi-etação<br />
difereilciada a partir do espaço oceânico é apresentada na Figura 22 , represeiltaiido iiin
corte (traiisect) da zona costeira terrestre e iiiariidia. Essa represeiitação serve coiiio<br />
referêiicia de parâiiietros espaciais para aiiálise das relações de prof~iiididade, distância<br />
da costa e condições operacioiiais, uma vez que as cartas náuticas são represei~tações<br />
planas coin indicações de faixas de profwididade.<br />
A organização dos sistemas lia foiliia tridiiiiensioilal depeiidein da associação<br />
dessas iiiforiiiações c0111 a inclusão da ocowêiicia de espécies que são capturadas em<br />
cada área diirante os diferentes períodos do alio.<br />
@ FAIXA OCEÂNICA TERRITORIAL (De 3 rnill~c~s até o Limite dn plntrtformr contilzelrtal)<br />
@ FAIXA COSTEIRA OCEÂNICA ( Lifoml nté 3 millrrrs orr 50 nletros rle profcaulirlrrrle)<br />
O FAIXA COSTEIRA INTEGRADA ( Baixarlm, Lr~goas e Estucírios )<br />
FAIXA COSTEIRA INTERIOR ( Nmcentes, sistemas cupilnres e rios)<br />
Figura 22: Divisão do Espaço Costeiro e Oceânico para o Pla~iejainento de Uso Susteiitável<br />
Características de Avaliação Costeira e Oceânica na Região Sudeste<br />
A Faixa Ocecinica Ecorzôr~zicc~ se refere ao espaço de ág~ias profundas e tem sido<br />
considerado como a extensão do mar tei~itorial de 12 milhas, até os dos liiiiites da Zona<br />
Ecoiiôiiiica Exclusiva (ZEE) de 200 inillias (Figura 34). Com a evolução das<br />
iiegociações iio início da década de 1980, as resoluções da ONü passaraili a coiisidei-ar<br />
outros liiiiites a partir do iiiício da elevação do talude da platafoiina coiitiiieiital,<br />
coiisideraiido sua coiitinuidade de planície de solo s~ibiiiariiio coiiio refereiicial da<br />
dei~iarcação territorial. As iiiforiiiações mais expressivas sobre atividades ecoiiômicas<br />
nessa área tem se coliceiitrado lia atividade de exploração de petróleo e alguiis dados<br />
sobre produção pesqueira de einbarcações de graiide porte ai-rendadas em diferentes<br />
países. As estatísticas de pesca são registradas nos difereiites portos de origem<br />
predoiiiiiiaiido a exportação de ahias e afim
A atividade pesqueira nesses grandes espaços abei-tos de grandes profimdidades teiii<br />
sido motivo de especulação devido a atuação de embarcações estrangeiras sem registro,<br />
tomando-se difícil identificar quais são arreiidadas ou operando ilegalmente. A situação<br />
se torna iiiais coiiiplexa com as recentes licitações de blocos para exploração de<br />
liidrocarboiletos, que ocupaili as áreas mais piscosas dos limites da platafoima<br />
coiitiiieiital e adjacências, coiiio pode ser observado na Figura 49, comparando coiii a<br />
carta de pesca esportiva de peixes de bico (Fig~~ra 50) e considerando as caractei-ísticas<br />
específicas da platafoima e talude na região do cabo Frio.<br />
Bacia de Santos Bacia de Caiiipos Bacia do Espirito Santo<br />
Figura 49: Carta de blocos de pesca cla FAO sobre os de Iiidrocarboiietos da ANP<br />
O contorno da costa subniersa da região associada a ocorrêiicia de coil-entes,<br />
marés e ventos, iiiflueiicia na mudanças da qualidade da água de cada local, de acordo<br />
coiii a sua procedência e íiidices de iiiist~iração. Na região a ocoi-i-êiicia de águas<br />
oceânicas prof~iiidas identificada por satélite na faixa próxima ao cabo Frio a~iiiieiitaiido<br />
a produtividade priiiiária, atrai barcos de pesca de outras regiões e estados. As<br />
coiiipetições esportivas eiivolvendo dezenas de embarcações auineiitaiido a cada ano,<br />
iiidicaiii que a região vem sendo utilizada pela frota de pesca esportiva do Estado do<br />
Rio, assiiii coin a coiiiercial que pesca e se abastece na região, mas geralineiite<br />
desembarca a produção nas iiidústria do Município de São Gonçalo, no extremo oeste.<br />
A pesca oceânica esportiva devido a aplicação de teciiologias mais avançadas e maior
disponibilidade de informações sobre pesqueiros, pode-se determinar com mais<br />
eficiência as áreas de maior ocorrência e produtividade.<br />
Como pode ser observado comparando-se a figura 51 com a 52, a maior<br />
ocorrência de pesca de marlins e afins (peixes de bico) está exatamente no quadrante<br />
41.23.3, na divisa da bacia de Campos com a de Santos no Bloco BS-2, que começa a<br />
ser explorado pela empresa Amerada Hess, demandando a fonnatação de planos de<br />
manejo e gestão. Neste caso o considerado se deve a ocorrência no bloco (de pesca e<br />
petróleo) de maior volume de pesca e avistamento, uma constante nos últimos cinco<br />
anos, em muitos casos com a identificação de mais de um exemplar por quadrícula de<br />
milha quadrada no decorrer dos anos ou no mesmo torneio.<br />
42' 41' 30'<br />
-m.?w.m--"--dw--<br />
2s 'I<br />
",' -<br />
m - - - - * ".wv"*-- , V1. 5í .r<br />
w- ---*mw".-am.-<br />
* x 9,<br />
-.,.A--r<br />
i.<br />
m---<br />
>. a<br />
Figura 50: Carta de pesca esportiva de peixes de bico durante o verão (Fonte ICRJ)<br />
(Algarismo representando último dígito do ano correspondente, 5=1995,6=1996, ... 0=2000)<br />
No caso da pesca comercial, segundo denúncia de armadores, há considerável<br />
ocorrência de grandes embarcações estrangeiras não licenciadas operando nessa faixa<br />
oceânica econômica exclusiva, enquanto as indústrias sediadas na Região dos Lagos<br />
operam na faixa econômica temtorial ou costeira marinha. A pesca de arrasto e de<br />
cerco, com frota de pequeno e médio porte ou de linha combinada com espinhel, em<br />
geral operam nas áreas da plataforma continental mais próximas da costa. Embarcações<br />
de outras regiões nessas mesmas áreas também utilizam a infra estrutura portuária de<br />
"
apoio e iiieios de produção como base para deseilibarque, abasteciiiiento, gelo, raiiclio e<br />
captura de isca viva. A pesca de liilha coinercial na região parece sigiificativa e111<br />
potencialidade, colisideraiido a situação atual de precariedade e condições de grande<br />
perda de produção devido a proibição da pesca na zona de produção de petróleo.<br />
Como pode ser observado na Tabela 1, a produção coi-respoiideiite a faixa<br />
marítima eiitre os paralelos de 22" - 23' S é bem inferior a anterior e posterior, inesino<br />
se coilsideraildo que a faixa de 23" - 24' se estende até o litoral do Estado de São Pa~ilo.<br />
Tabela 1: Produção da pesca de liiilia iio litoral sudeste brasileiro de 1986 - 1995<br />
(Paiva, Tubiiio 1998)<br />
Outro fator iiiiportailte ideiitifícado são as relações de produção e produtividade<br />
para diferentes prof~mdidades, como pode ser observado na Tabela 2, onde se verifica<br />
que eiitre os paralelos de 18' -<br />
23' correspoildentes as fieiites sudeste e leste, apesar da<br />
Tabela 2: Produção de pescado por profuiididade 1986-95 (Paiva, Tubino 1998)<br />
produção na faixa de 50 - 100 iiietros atingir mais de mil toneladas, a produção nas<br />
faixas acima de 100 iiietros é pouco significativa se coniparada a pesca entre os<br />
paralelos de 23" - 26" onde a produção é s~iperior a 10 mil toneladas.
Mesmo levando-se em consideração a grande extensão da faixa de 100 - 200<br />
metros de profundidade entre os paralelos 23" - 24" até a ilha de São Sebastião e Angra<br />
dos Reis na faixa de mais de 200 m de profundidade, pode-se observar na Figura 5 1 que<br />
a zona de exclusividade de produção de petróleo cobre parte da faixa de 50 a 100 m e<br />
toda faixa de 100 a mais de 200 metros de profundidade.<br />
-- - -- - 7<br />
$ 1<br />
Figura 51: Zona exclusiva de produção de petróleo antes da abertura de mercado<br />
O caso merece estudos mais aprofundados, buscando a avaliação das possíveis<br />
deseconomias devido ao fechamento da área. Entretanto, os montantes nas faixas<br />
adjacentes permitem especulações, visto que a produção entre os paralelos 23" - 24" S<br />
representa quase 40% de todo volume da costa sudeste brasileira, e entre 21' - 22" S<br />
quase 7%, enquanto na faixa onde se encontra a área proibida é de pouco mais de 2%.<br />
As estatísticas também indicam que a pesca de linha na faixa oceânica<br />
econômica além dos limites da plataforma continental só é conduzida a partir do<br />
paralelo 23" S, podendo haver relação com a área proibida. Esses fatores talvez<br />
indiquem que o desenvolvimento da pesca na faixa oceânica econômica exclusiva da<br />
região implicaria em propostas mais abrangentes, envolvendo a construção de novas<br />
embarcações de grande porte em substituição as arrendadas e a capacitação de<br />
tripulação nacional. Dessa forma o setor poderia competir com a frota internacional,<br />
inclusive além dos limites da zona exclusiva, que nas últimas quatro décadas vem sendo
explorada pela frota coiitrolada por eiiipresas i10 exterior. Na situação atual, 1iá pouco<br />
controle regional ou estadual sobre a produção nesta zona exclusiva, os mapas de bordo<br />
são entregues e111 outros centros e órgãos federais. A produção de maior valor<br />
iiitei-ilacioiial de atuns e aíiiis é controlada pelo ICCAT (Internntiorzal Comrnission for<br />
t11e Conserimtion ofAtlarztic Tunas)<br />
FAIXA OCEANICA TERRITOMAL ( Zona da Platafomia Coiitiiieiital )<br />
A faixa oceâiiica tessitorial é a de maior circulação, foi através dos séculos<br />
coiisiderada c01110 a do alcance da uina bala de canhão, passando a coiiceitos que<br />
detei-iiiiiiavain distancias de três, seis ou doze iiiillias. Essas distâiicias, ein países<br />
vizinhos coiii fioiiteiras iiiarítimas inuito próxiiiias, iiiclueiii outros parâinetros para<br />
deííiiição de liiiiites. No caso do espaço oce2iiico brasileiro sem fronteiras, as distailcias<br />
em ftiiição de fatores e características iiaturais é facilitado, eiiquaiito surgeiii conflitos<br />
iiiterniuiiicipais limitando iiigsesso de usuários, torn,iiido-se um problenia regional. A<br />
situação iiiais grave é com os barcos de ai-rastão provenientes de otdros Estados<br />
operaiido eiii área de cresciiiieiito .<br />
/ I<br />
,ME+<br />
' :<br />
I<br />
43W 4ZW 41W<br />
. -- 24s - -- I 24s<br />
L - - - - - " - - *-..-- .---<br />
24.5:<br />
2:s - - + - - - . >,,'<br />
Figura 52: Divisão estatística da FAO sobre divisão locacioilal de sistemas<br />
Na Região de estudo (Figura 52), a plalafor1iia coiitiiieiital pode se estender até<br />
80 millias fora da costa, oiide se eiicoiitra lia Freiite Sudeste a zona de exclusividade de<br />
produção de hidrocaiboiietos. Na área da plataforma é oiide opera priilcipaliiieiite a fiota<br />
de pequeiio e médio porte eiii coiidições de risco coiii eiiibarcações de linha, coinbiiiada
coiii espiidl-iel e covos (pescaria nova na região) que representa a inaioria da fiota<br />
pesqueira regional. O esforço de pesca é acrescido coiii eiiibarcações provenieiites de<br />
outros estados da federação, atraídas pela piscosidade local, a~iineiitaildo aiiida mais a<br />
sobrepesca. O produto da capt~ii-a é priiicipahiieilte destinado ao atendimento da<br />
deimilda de exportação das quatro principais iiidiistrias iiistaladas em Cabo Frio. Eiitre<br />
os problemas a serem resolvido iiiclui-se a coilcorrêilcia aciil-ada da pesca nesta faixa, e<br />
as áreas de pesca mais coill?ecias que já se eiicoiitrain eiii iúveis de explotação iiiáxiinos<br />
de susteiitabilidade. Próxiiiios as ilhas e parceis liá deilíiiicias de pesca predatória c0111<br />
redes de espera e de liilha, capt~ii-aiido espécies eiii crescimento; e próximo às<br />
platafoi-mas de petróleo a pesca coiitiilua seiido de foima clandestiiia e arriscada.<br />
Tabela 3: Localização do bloco de pesca, produção e pi.odutividade da pesca de sai-clinlia<br />
verdadeii.a no litoral do Estado do Rio de Janeiro nos anos de 1993-1997 (Paiva e Mota, 2000)<br />
Eslor.ço de pesca (lances) Sardiiitia verdadeird<br />
Olocos - Prodi~tividade<br />
Niíniero Po~cenlaqéni I I%rcentagern (Vlance)<br />
41221<br />
4 1222<br />
41 223<br />
41231<br />
42223<br />
42221<br />
44231<br />
44232<br />
Outros<br />
2.0<br />
3.5<br />
4.8<br />
O 4<br />
1.1<br />
ri. 5<br />
22.1<br />
65.2<br />
0,d<br />
Total 8155 100.0 50087.1 i 00.0 6.1<br />
--<br />
Como pode ser observado na Tabela 3, a produção da pesca de traineira com<br />
rede de cerco na região Sudeste do Bloco 41.22.1. ao 42.23.1 é pequena se coiiiparada a<br />
região de Angra dos Reis e Paratí, que represeiitaiii 87,3% das capturas. A segunda área<br />
de coiiceiitração se estende do cabo de São Tomé ao cabo Frio, lia quadra 41.22., oiide<br />
se observa que no bloco 41.22.4, mais fora da costa e nos limites da zona de exploração<br />
de petróleo iião há registros de cerco, eiiquaiito o bloco 3 apreseiitou o maior volume de<br />
captura. Essa modalidade de pesca é predomiilaiite em zonas de pouca profimdidade<br />
conio pode ser observado lia Tabela 4, nas faixas de 10 a 30 iiietros de profimdidade<br />
próximas da costa, disp~itaiido espaço coiii outras atividades de pesca, esporte e lazer.<br />
Os sistemas atuais de localização e produção através dos mapas de bordo<br />
precisain ser coi~iplemeiitados, coin iiifoimações mais aprof~mdadas sobre as coildições<br />
ainbieiitais e de coiitoi~io do solo subinarino. Para o a~iiiieiito da produção e melhor<br />
distribuição da fi-ota é iiecessário a identificação das áreas de acordo coiii a<br />
produtividade, visando prii~cipalineiite o eiiriqueciiiieiito das áreas deséi-ticas, coiil a<br />
implantação de recifes artificiais e atratores (coi~clusão).
Tabela 4: Produtividade da sardinha verdadeira por faixa de profurididacle (Paiva, NIotta, 2000)<br />
ProfuriOidades<br />
hieses Hi'o<br />
(?I) I I! Ill tV V VI VI1 Vlli IX X XI<br />
--<br />
XII N" ;b<br />
-<br />
í2reqLi8nclas de lances (n a )<br />
0 -10 - - 36 88 134 í7 37 139 105 10 - 5 575 10.0<br />
11 -70 1 5 88 124 1J0 212 423 258. 376 C 305 253 2369 41 4<br />
21 33<br />
31 -13<br />
-<br />
-<br />
1<br />
I<br />
?I<br />
96<br />
140<br />
165<br />
84<br />
249<br />
158<br />
168<br />
52<br />
21<br />
73<br />
20<br />
E3<br />
26<br />
558<br />
167<br />
314<br />
34<br />
78<br />
4<br />
I'L3 20:<br />
1351 IGG<br />
41 -53 - 6 81 170 163 E0 3 G 13 51 E :2 50010.3<br />
5: - 83 -<br />
6l - 70 -<br />
71 83 -<br />
- . - -<br />
1 16<br />
- 5<br />
- -<br />
. . . .<br />
18<br />
-<br />
27<br />
6<br />
-<br />
5<br />
2<br />
1<br />
I<br />
% -<br />
- -<br />
--<br />
2<br />
3<br />
-<br />
5<br />
-<br />
~<br />
-<br />
E<br />
-<br />
-<br />
-<br />
i<br />
19<br />
1<br />
1 3<br />
0 3<br />
00<br />
Caatura; da sardintia~vcrciader:s (Leiice'!<br />
C -10 I0.0 110 ll.i O: 4.5 0% ?C 90 - 91 92 -<br />
'1 -20<br />
21 50<br />
31 -40<br />
2.4<br />
-<br />
-<br />
5.9 7.3 82<br />
-17.0 -1.9 íii B<br />
G.5 10.l 9 5<br />
4<br />
8.1<br />
1C.2<br />
7.6 8.C<br />
7 7 10.5<br />
108 12.1<br />
7 0<br />
6.7<br />
11.5<br />
4E<br />
s n<br />
102<br />
4 1<br />
s 6<br />
72.2<br />
56<br />
8 c<br />
"3 7<br />
72<br />
10 s<br />
23.5<br />
6.5<br />
7.8<br />
iG.8<br />
-<br />
-<br />
-<br />
41 -50 - 15.0 -16.3 15 5 17.2 167 70.0 15.9 '24 14 1 2 ' i53 $6 5 -<br />
!>I - E0<br />
61 -70<br />
-<br />
-<br />
77.0 4.4 21 7<br />
- 11.3 -<br />
6.1 6.E.<br />
6.0 6.0<br />
- 14.0<br />
0.7<br />
11.0<br />
-<br />
4.0<br />
-<br />
:0 1<br />
28<br />
13.5<br />
- 38 -<br />
'O2<br />
7;<br />
'CÇ<br />
-<br />
-<br />
-<br />
I1 -80 - - - - - - -<br />
-- -. .<br />
FAIXA COSTEIRA MARLVHA ( Praias, Eiicostas e Sistemas Iiisulares )<br />
Apesar do coilheciiiieiito sobre a fi-agilidade desses sistemas naturais, é a região<br />
que sofre os maiores iiiipactos e onde ocoil-e a inaior degsadação e acímlulo de usuários.<br />
A faixa costeira marítiiiia coiisiderada é tuna refereiicia a sua contrapartida tei-restre,<br />
eiitretaiito não há uma defiiiição clara sobre as suas áreas de abraiigêiicia, coino pode ser<br />
verificado lios planos e prograiiias iiacioiiais de gereilciaiiieiito costeiro ou recursos do<br />
mar. Neste caso taiiibém, aléiii de liinites de referência de três, seis ou doze inillias,<br />
pode ter coino característica liiiiites de prof~mdidade, variando entre os 10, 20 e 50<br />
metros de prof~~iididade de acordo com a sua proximidade da costa ou outros fatores<br />
refereiiciais, dessa faixa de uso iiiais intenso e complexo.<br />
O problema precisa ser equacioiiado, com a busca de novas áreas e<br />
regulaii~eiitação adequada, coiisideraiido que quase toda sua exteiisão apresenta indícios<br />
de sobrepesca, seu esgotaineilto é visível através da diiniiiuição do tainanho médio dos<br />
exeiiiplai-es capt~ii-ados, com a notória falta de espécies eiii voluilie ecoiioiiiicaiiieiite<br />
viável. Em ineiios de duas décadas a pesca costeira tradicional se viu reduzida à<br />
aproximadailieiite 10% do seu poteilcial de captura, coilfiguraiido 11111 quadro alaimaiite<br />
da situação. Dentro das três milhas eiii alg~iils locais regulaiileiitadas, as artes de pesca<br />
como a rede de eiiialliar e arrastos devem ser repeiisadas, acoiiipaiil-iadas de estudos<br />
dirigidos e projetos viáveis, para recuperação dos sisteiiias iiat~ii-ais e regeiieração dos<br />
níveis ecoiiôiiiicos de bioprodução, como a iiiiplaiitação de recifes artificiais. Na faixa<br />
tei-sestre adjacente, uni coiitrole mais rigoroso deve ser exercido pelas coinuiiidades
costeiras sobre a poluição das praias, construções iil-egulares e dejetos nos cospos<br />
aquáticos, assiin como coilstruções de proteção e recuperação da orla.<br />
Apesar do seu potencial coihecido por lajeados, naufrágios, sítios arqueológicos<br />
e forinações de corais, o solo s~ibmai-iilo até essas prof~mdidades de fácil acesso, ainda<br />
precisa ser levantado e pesquisado, para que se possa avaliar o real potencial biológico,<br />
turístico e científico da região.<br />
FAIXA COSTEIRA INTEGRADA ( Baixadas, Lagoas e Estuários )<br />
Estas áreas apresentaiii processos avançados de degradação e e~itrofização,<br />
levando ao coinproinetimeilto da balneabilidade e colapso setorial pesqueiro<br />
extrativista, c0111 a coilseqtieilte necessidade de depuração da produção aqiiícola, apesar<br />
de planos de ordenamento e manejo e111 prática terem contribuído para sesolução de<br />
alguns problemas de susteiltabilidade de produção. Tainbéin deve-se procuras absorver<br />
a mão de obra engajada regulai-mente na atividade pesqueira, incentivando projetos para<br />
outros LLSO das águas com foi-mas adequadas de cultivos, iilcluiiido o eiu.iqueciineilto<br />
através de recifes artificiais. Essa aspecto sócio-econôinico foi obseivado no coinplexo<br />
lagunas de Araruama, lios estudos promovidos em 1989, quando verificou-se que a faixa<br />
salarial do traball-iador não qualificado eilgajados na pesca era 3,8 vezes superior, em<br />
coinpasação com outros einprego e111 terra.<br />
Caracterização das Frentes Oceânicas<br />
A Região Sudeste do Estado do Rio de Janeiro, centralizada i10 Cabo Frio com seus<br />
co~npoiie~ltes espaciais ho~liogê~~eos adjacentes. O pascelamento dessa faixa litorânea<br />
pode ser observado segundo diferentes parâmetros, a SERLA (S~iperiiiteildêilcia<br />
Estadual de Rios e Lagoas) adotou o critério de divisão nahiral das bacias liidrogsáficas:<br />
Bacia do Rio Itabapoaiia<br />
Bacias Coiitribuiiites da Lagoa Feia<br />
= Bacias Coiitribuiiites do Rio Macaé e São João<br />
= Coiiiplesos Lagu~iares de Araruaiila, Saquareiiia, Maricií e Piratiiiinga<br />
Segundo relatório da SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do<br />
Rio de Janeiro), sobre a caracterização físico-ainbieiltal dos sistemas costeiros do<br />
Estado do Rio (Muelie e Valeiltiili, 1998), o litoral foi dividido da seguinte com<br />
coillponentes terrestres da seguinte forma:<br />
Litorrrl Orientd: ( iiiacro-conipartiriiento Bacia de Campos)<br />
Coiiipartiniento do Rio Itapaboaiia (da foz do rio Itabapoana 8 do rio Paraíba do Sul)
Coinpartin~erito planície costeira cio rio Paraiba do Sul (da foz do rio Paraíba do Sul 2 foz cio<br />
rio Macaé)<br />
Compartin~eiito do Rio R/facaé ao embaiamento do Rio São João (de Nlacaé ao cabo Búzios)<br />
Compartimento do embaianlerito cabo Búzios - cabo Frio (do cabo Búzios ao cabo Frio)<br />
Litoral Sul: (inacro-coriipartinieiito dos Cordões Litorâneos)<br />
Compartimento Região dos Lagos (do cabo Frio a Niterói)<br />
No plano de zoneanieiito para o iiií~ltiplo uso da Região Sudeste, nesse estudo a<br />
compastimeiltação apresenta as características, iilcluindo o espaço subiliarino da<br />
platafosnia contiiiental e zona oceânica econômica.<br />
SUB REGIÃO I : FRENTE SUL<br />
Zoiia 1.1 . Conzy artirfzeizto de Piratirz iizga - Snqzrnreim<br />
Sistema Iaco~t' c iara<br />
Sistema Itaipú-Açu<br />
Sistema Maricá - Ponta Negra<br />
Zona 1.2. Coinyartir~ie~zto de Mc~ssai~z baba<br />
Sistema S aquareina<br />
S isteiiia Itaíuia<br />
Sistema Massanibaba<br />
SUB REGIÃO 2: FRENTE SU<strong>DE</strong>STE<br />
Zoiia 2.1. Cornyartir~zerzto Cabo Frio - Cabo de Búzios<br />
Sistema Cabo Frio<br />
Sistema Cabo Búzios<br />
Zona 2.2. Coinya~timerzto Maizgz~iizlzos - Mí~caé<br />
Sistema Rio São João<br />
Sistema Rio das Ostras<br />
Sisteina Itapebuçu<br />
Sistema Ilha de Santana<br />
Zona 2.3. Conzynrtiinerzto Cabiuizas -São Tomé<br />
Sistema Carapebús<br />
Sistema Praia Balsa do F~ri-ado<br />
Sistema Banco São Tome<br />
SUB RIEGIÃO 3 : FRENTE LESTE<br />
Zona 3.1. Compartirnerzto São Toazé - Itabí~yoana<br />
Sistema Cabo São Toiné
Sisteiiia Foz Rio Paraiba do Sul<br />
Sisteiiia Foz Rio Itabapoaiia<br />
Através dessas divisões e subdivisões geogsáficas preliiiiiiiares, definidas eiii<br />
f~~iição da ocoil-êiicia de praias, eiicostas rocliosas, ilhas e lajeados, foz de rios e<br />
enseadas, procura ideiitificar fatores locacioiiais de oferta e deiliaiida seg~iiido as suas<br />
vocações. Os dados sobre o espaço oceânico formaiii coiiiposição de sepreseiitações<br />
gráficas coiiipletas do espaço tridimeilsioiial subiliarino, com características detalhadas<br />
de coiitoriio e do solo associada aos fatores teiiiporais de condições climáticas,<br />
correiites, marés e disiâiiiica biológica eiitre seus coiilpoiieiites de avaliação. Na divisão,<br />
além de características gerais iiiorfológicas, oceaiiogsáficas e biológicas, perfis de<br />
oconêiicia iiat~il-ais predoiniiiantes são avaliados para verificação de coiiicidêiicias eiitre<br />
as características locais e as possibilidades do múltiplo uso.<br />
4.2.2. Plano de Gerenciamento Costeiro e Oceânico da Oferta de Recursos<br />
A organização de sistemas de iliúltiplo lios espaços costeiros e oceâiiicos eiivolve<br />
diferentes aspectos, téciiicos, ecoiiôiiiicos e iiistitucioiiais setosiais. No caso dos<br />
sisteiiias de múltiplo para bioprodução e atividades compleiiieiitares, a orgaiiização deve<br />
estar fuiidaiiieiitada eiii priiicípios de susteiitabilidade e regulaiiieiitação adequada para<br />
que o espaço costeiro e oceânico seja adequdaiiieiite adiiiiiiistrado.<br />
Os sistemas coiiipreeiideiii a ~itilização de recursos públicos de forma susteiitável,<br />
procuraiido atender o inaior iiúiiiero de usuários e beiiefkios sócio-ecoiiômicos. Coiiio<br />
foi observado, a questão aiiibieiital e o uso inadequado por parte de grupos doiniiiantes,<br />
levaraili a FAOIUN, a orientar foimas de plaiiej aiiieiilo integrado dos espaços costeiros<br />
e oceâiiicos. Nesse sentido foi proposta mia nova divisão (Figura 22), iiicoi-porando o<br />
coilceito de coiiiposição tridiiiieiisioiial dos recursos dispoiiíveis no espaço subaquático<br />
ao institucioilal relativo a acordos iiitemacioiiais e de gestão goveinaiiieiital, que podem<br />
ser avaliados no estudo das relações de uso da Região Sudeste.<br />
Aiialisaido a divisão espacial eiii f~liição de características iiaturais, observa-se que<br />
os coiiceitos de Mar Teil-itorial e Zona Coiitígua teiii uina liiiiitação definida, de 12<br />
milhas e 24 iiiillias respectivaiiieiite, que i10 caso da Região Sudeste, estão situadas em<br />
nieio a platafosiiia coiitiiieiital. Entretaiito, essa coiiceituação pode ser isiterpretada de<br />
outra fosiiia, tendo como pasâiiletro a coilfig~ii.ação natural do espaço oceâiiico.
Coiiio foi observado lia proposta de divisão espacial, o coiiceito de FAIXA<br />
OCEÂNICA ECONOMICA determiila seus limites ao loiigo da plataformt entre 12 e<br />
200 inillias, e que a FAIXA OCE~NICA TERRTTORDU coinpi-eeiide a zona fora da<br />
costa de 3 i 12 millias. Eilti-etaiito, einpregaildo-se o coilceito de deiliarcação e111 fuilção<br />
da plataforiila coiltiiieiltal (coino proloiigaineiito de território iiacional) essas faixas<br />
teriaiii outra coiifigiri-ação em faixas de 20, 50, 100 e 200 meti-os de prof~~iididade. A<br />
aplicação desse conceito no caso da Região Sudeste, a zona oceâiiica territorial se<br />
estenderia acoinpaidiaiido os liinites do talude da plataforina coiitineiltal, de 12 para 36<br />
inillias no paralelo de 42" W e para 53 millias no ineridiaiio de 22" S; coiiipoiido uina<br />
nova faixa de limite tersitorial, podendo com essa coiifiguração dispeiisar a extensão da<br />
zona coiitígua. Da mesina foima, a zona oceâiiica ecoiiôiiiica taiiibéin acoiiipai~ia o<br />
novo coiitoriio, esteiideado a faixa de 200 iiiillias para após os liiiiites da plataforma.<br />
A deterniiiiação da FAIXA COSTEIRA OCEANICA, c0111 seus coinpoileiites de<br />
praias, encostas e sistemas iiisulares, pode ser deliiiiitada pela faixa de 0-20 ou 0-50<br />
inetros de profiuididade, coino uma coiitiiiuidade da parte costeira terrestre, desde que<br />
se estabeleça critérios de liomogeileidade para caracterização dos sisteinas regioilais.<br />
No caso da Região Sudeste, são eiicoiitradas situações ein que os comnponeiites<br />
iiisulares da zona costeira oceânica se situaili iiessas duas faixas. Por exeinplo, iio<br />
sisteiiia Poiita Negra da Fmzte Sul, as illias Maricá estão a menos de três inillias de<br />
distancia da orla, iiias situadas lia faixa de 30-40 inetros de prof~mdidade. No<br />
coinpai-timeiito Cabo Frio - Cabo Búzios da Frente Szdeste (I) eilcoiitramos Lima<br />
situação mais radical, a ilha do Cabo Frio i10 eilcoiitro do eixo leste-oeste 23' S,<br />
eiicoiltsa os 50 iiietros prof~~iididade eiicostado a sua face oceâiiica; assim coino os<br />
demais gr~~pos de ilhas, dos Papagaios e Gravatá, que tainbéiii se situam lia faixa de 30-<br />
50 iiietros.<br />
A Frente Szlcleste (2) com sua extensa faixa de 20-50 inetros de prof~mdidade,<br />
pode-se abordar os dois teinas em discussão: o da zona oceâilica teil-itorial e o dos<br />
liiiiites da zona costeira iiiariiilia. No primeiro caso, a liill-ia das 12 millias percoi-re a<br />
platafoiina lia profimdidade de 40 iiietros em toda sua exteilsão i10 sentido norte, para<br />
além do cabo de São Tome, que se caracterizaria como zona costeira inariid~a. Essa<br />
posição pode ser reforçada coiisideraiido a localização da ilha de Saiitaiia, ao largo de<br />
Macaé, que se projeta além da liilha dos 20 iiietros de prof~mdidade. Coilsideraiido-se<br />
esses parâinetros, a identificação da faixa oceâiiica tessitorial coin liiliites de 3 a 12<br />
millias fora da costa, que se eiiquadraria lia Região Nordeste (de 111iéiis lia Baia a Macau
iio Rio Grande do Noi-te), onde a platafoi-ma continental é em alg~inias áreas iiiferior a<br />
20 iiiilhas, para Região Sudeste parece iiiadoquada.<br />
No caso de eiiq~~adraiiiento da Ofesta de Recursos para o gereiiciai~ieiito das faixas<br />
costeiras e oceânicas na Região Sudeste, podem ser considerados os seguintes limites:<br />
0 Fnixrr OceBnicn Ecolzôrnica, o espaço de 200 iuillias para fora dos limites da plataforma;<br />
0 Fmkr OceAliictl Territorirrl, o espaço marinho até os liinites da plataforma contiiierital;<br />
Fnixn Costeii-n ~WminIm, O espaço até os limites de 50 metros de profundidade.<br />
A zona onde os fatores iiat~~rais podeiii ser inelhor ideiitificados na região,<br />
coilhecida taiiibéiii como Região dos Lagos, estão na FAIX4 COSTEIRA INTEGRADA,<br />
oiide mesino coin a pequena variação lia altura das inares, a iiiterferêiicia do iiiar é<br />
significativa. As baixadas estão sujeitas a iiiiiiidações; as lagoas coiiio a de Saquareina,<br />
Piratiiiiiiga e Maricá, ou o coinplexo laguiiar de Asaruaina, teiii a sua sobrevivência e<br />
de suas espécies depeildeiiles da troca de água c0111 o iiiar; e estuários dos rios<br />
deseiihados pela ação do despejo de suas águas, iiiteragiildo com as oildas e correiites.<br />
No caso da FAIXA COSTEIRA INTERIOR, sob iiiflueiicia de proxiiiiidades de<br />
iiasceiites e sisteiiias capilares dos rios, tem sido mais estudas e foniecido subsídios para<br />
se determiiiar diferentes níveis de deterioração de iliargeiis e coiitaiiiiiiação das águas,<br />
eiitretaiito pouco tem sido executado eiii tei~iios de projetos iiitegrados de rec~~peração e<br />
beiieiicios, aléiii das ações e obras einergêi~cias postas eiii práticas lias situações<br />
extremas.<br />
4.2.3. Medição dos Compoiieutes da Oferta de Reciirsos<br />
A discussão sobre possibilidades de diiiiiiiuição de iiiipacto cada vez mais iiiteiiso lia<br />
orla, 110 sobrecassegado ambiente terrestre, passa pelo questioiiaiiieiito do porque as<br />
faixas aquáticas fora das praias são pouco utilizadas. E que isso se deve a falta de<br />
coiilieciinentos sobre os aiiibieiites marinlios e o~itros fatores coiiio formação<br />
profissioiial adequada e eq~@meiitos disponíveis.<br />
As limitações ilat~~ais como profi~iididades de acesso, distaiicias a serem percorridas<br />
e equipamentos dispoiiíveis, são os priiicipais fatores obseivados e considerados no<br />
caso da deiiiaiida de utilização dos recursos do iiiar. Esses aspectos foraiii coiisiderados<br />
para se avaliar a poteiicialidade de cada sistema eiii seus coiiipartiiiieiitos da Região<br />
Sudeste, visando as possibilidades de aproveitaiiieiito para inergullio, pesca e atividades<br />
coiiipleiiieiltares, a partir de Liliia escala a partir de pequeiias e médias embarcações.
No espaço oceânico regioiial foi eiicoiitrada vasta área coin poteiicial de uso, coin<br />
aproximadaineiite 12000 iniIlias2 (22000 1«n 2 ) praticaiiieiite descoidiecidos e pouco<br />
exploradas. Os locais ahialinente explorados são conhecidos por poucos pescadores<br />
regionais, que iiiaiitêiii eiii sigilo suas atividades e coiilieciiiieiito dos estoques iiat~irais.<br />
Na medição dos recursos foram estabelecidos poteiiciais com os dados disponíveis<br />
em carta iiáutica, seguindo os critérios de diiiieiisioiiaiileiito através de coiiteúdo de<br />
quadrícula. Para medidas lineares, coiiio características da linha de costa, são<br />
computadas as distaiicias pelo total de quadras percoil-idas, coino coiiipriiiieiltos de<br />
praias e costões; e para inedidas de áreas, os espaços preeiichidos eiii cada quadrícula de<br />
uma milha quadrada.<br />
A opção iiiicial foi buscar mia caracterização dos recursos da orla e adjacêilcias,<br />
iiiais propícios ao deseiivolvimeiito de atividades de maior deinaiida, como a pesca e o<br />
iiiergullio eiii expansão. A pesca mais popular é recoidiecidaiiieilte a de linha e aiizol,<br />
exercida como foiliia de lazer ao loiigo das praias, costões, pontes e viadutos,<br />
sofisticaiido-se a medida eiii que se einbarca para algum local definido, coiiio uma<br />
forinação de relevo s~ibinariiio ou sobre uiii iiaufiágio. O iiiergullio de sua foiina inais<br />
siiliples de apiiéa (coin uma iiiáscasa e tubo p/ respirar) ou iiiais sofisticada c0111 o<br />
equipamento a~~tônoino (nqualzrng).<br />
No quadro de medições (Tabela 5) a hixa costeira foi caraterizada segundo três<br />
aspectos básicos para atividades gerais: as extensões de praia, iiiais utilizadas coino<br />
balneário e prática de surfe, caíque e wiiids~~rfe; as exteiisões de fornzações rochosas,<br />
para pesca e iiiergullio; e o relevo s~~óvnarino, para atividades coilipetitivas de inergullio<br />
e pesca de liidia einbarcada, seguiiido caracterização de cada aspecto e modalidade<br />
comercial, espoi-tiva ou recreativa. As áreas de cada sistema podei11 ser quaiitificadas e<br />
qualificadas de diferentes fosiiias. O critério adotado foi a iiiedição dos coinpoiieiites da<br />
oferta dessas exteiisões da orla e faixa litorânea inedidas ein inillias, c0111 o objetivo de<br />
se avaliar iiiicialmeiite as diineilsões de cada coiiipoiieiile do potencial natural, seguildo<br />
suas características geográficas e ecológicas. São observados primeiro os encontrados<br />
na zona inais procurada, a Faixa Costeira M~~rinhn no espaço até os liiiiites de 50<br />
metros de prof~~iididade; observando seus liiiiites com a Faixa Costeira Irztegl-ctcla;<br />
assim com se pode estabelecer LI^ liidia de transição coin a Faixa Ocecinica Territorial,<br />
da qual se pode caracterizar tainbéin coiiio coiiiponeiite. O Quadro de Medição,<br />
apresenta as diineiisões aproxiiiiadas em quadrículas inedidas lia carta iiáutica No. 1500,<br />
para definição de parâiiietros lioiiiogêiieos de medição.
Tabela 5: Quadro da R/lecliçiío dos Recursos Característicos dos Sisteiiias (Oferta Locacioiial)<br />
Extensões Pruins Orla Rocizostr Relevo Srrbnmrirlo<br />
I<br />
C(rracterísticas/Dir~~e~rsõt>~ Protegida Aberta Costões Ilhas For. Nat.'<br />
Cascos<br />
FRENTE SUL<br />
8<br />
Conip. Pirrrtirr irigrr-Snqnnrerir(~<br />
Sistema Itacoatiara<br />
Sistema Itaipuaqu<br />
Sistenia Ponta Negra<br />
Conlp. n/lassnr1rbnbn<br />
Sistenia Saqiiareina<br />
Sistenia Itauiia<br />
Sisteiiia Massainbaba<br />
FRENTE SU<strong>DE</strong>STE<br />
Cornp. Chbo Frio-C(rbo Bríeios<br />
Sisteina Cabo Frio<br />
Sistenia Búzios<br />
Conrp. Rasrr - Macai<br />
Sistenia São João<br />
Sisteiiia Rio clas Ostras<br />
Sistenia Santana<br />
Corrrp. Crr Dinn ns - Sio Tom P<br />
Sistema Quissamã<br />
Sisteina São Toiiié<br />
I FRENTE LESTE<br />
Contp. Sio Torné - Itrrbrrprrrrntr<br />
Sistema Paraíba do Sul<br />
Sistema Itabapoana<br />
TO TAIS L<br />
* Forinações Naturais: ,eii ras de coral ** Baiicos e Barrancos de Talude<br />
obs.: Meclições projetadas proporcionais ao coiilpriiiierito ou área da quaclrícula (I milha, 1 inillia2)
Para avaliação da utilização de extensões de praias Foi estabelecido o critério<br />
básico das coiidições de acesso ao mar, propícia ou não a ~1111 deteriniiiado uso durante a<br />
iiiaior parte ao alio. Para isso, baseou-se nas características geográficas de praias de mai-<br />
aberto ou protegidas, salieiltando que a ocorrência atípica de ressacas são coiisiderada<br />
sazonais iinprevisíveis.<br />
Na medição da orla rocliosa, o critério básico empregado foi a existência<br />
predoiiiiiiaiite de foriiiações sob a ação direta do mar, levando ein coiisideração seus<br />
coiitoiiios, alturas ou dimeiisões subiiiariilas, mas someiite as exteiisões i10 mar e<br />
limites de prof~mdidade. Nas ikas são as relações de períiiietro com as diiiieiisões da<br />
quadrícula, cliegaiido ao total da liillia litorânea. O eiilbasaineilto da pesquisa subinasiiia<br />
deinoiistra que superfícies rocliosas são exceleiites substratos para coilceiitração da<br />
bioiiiassa bentônica, foi-inadora das cadeias básicas aliineiitares para mia grande<br />
variedade de espécimes, favoreceiido a ocoil-êiicia de peixes e cardumes de alto valor<br />
coinercial e por isso ~1111 maior iiúinero de usuários.<br />
O relevo subiliarino teve sua medição e avaliação prejudicadas devido a falta de<br />
levaiitaineiitos afetando a base de dados de principal interesse dessa pesquisa, que se<br />
propõe a estabelecer sistemas subinasiiios de bioprodução, coiisideraiido-se o<br />
aproveitaineilto de recursos iiahii.ais ou a iild~~ção coiii a iils talação de estrut~ii-as<br />
ai-tificiais.<br />
Obsesvaiido-se as características dos Sisteiiias, verifica-se que liá uina<br />
l-ioiiiogeiieidade em relação aos Coiiipartimentos, como todas as praias dos sistemas da<br />
Freiite Sul são abertas, coiii exceção do gailclio protegido i10 lado leste da praia de<br />
Massailibada em Arraial do Cabo, mas não em relação a todas as Frentes, como pode<br />
ser observado lia Frente Sudeste, oiide as praias dos sistemas Quissailiã e São Tomé do<br />
tanilxh são abertas, assiiii coi~io alguiis trechos de praia dos sisteinas de Cabo Frio e<br />
Cabo Búzios estão mais expostas, eilibora liaja predoiliiilâiicia de praias protegidas.<br />
Alguinas características são específicas de deteimiiiados coiilpai-tiiiieiitos, como<br />
a predoiiiiiiâiicia ou ausência de conlpoileiites de sisteiiias, coiiio os costões<br />
predoiiiii~antes nos sisteiiias Cabo Frio e Búzios, mas iilexisteiites ao largo da faixa de<br />
restiilga 110s sisteinas do coinpartimeiito Massainbaba, oiide o único existeiite é o da<br />
pedra de Saquareina, uma que o do sistema Massainbaba é a face oeste da Freiite Sul,<br />
liiiiítrofe do Cabo Frio.<br />
A partir de Macaé, i10 sisteiiia Saiitaiia, coiiio pode ser observado 110 trabalho da<br />
SEMA, i10 deiloiniiiado Coiiipai-tiiiieiito da Planície do Rio São João. Do sisteiiia
Quissainã ao sistema São Tomé, a faixa costeira tei-restre faz parte da planície costeira<br />
do rio Paraíba do Sul, coinposta de depósitos pleistocêilicos em foma de cristas de<br />
praia.<br />
Tabela 6: Quadro do Total de Diineiisões dos Recursos das Frentes - Oferta Locaciona1<br />
Comp Pri.atrrl111gn-Sc~quni.emcr<br />
Comp Massmnbnba<br />
FRENTE SU<strong>DE</strong>STE<br />
Cornp Cabo Frro-Cabo<br />
B~ízzo~<br />
Conip Rasa - Admaé<br />
Coinp Cabrunn~ - SrZo To~né<br />
FRENTE LESTE<br />
Comp S6o Tom6 - Itabq~unnn<br />
TO TAIS<br />
Observa-se nos totais das Frentes o gsaiide predomínio das faixa de praias co1-11<br />
aproxiiliadaiileilte 132 inillias, ou (132 q~mdrículas), seguido dos coslões com 61<br />
quadrículas, ou seja meilos que 50% da lilha costeira. O coiltoi-no das ilhas lia região<br />
fica e111 toino de 33 i~iill-ias, coi-sespoiideiite a 30% da dispoilibilidade da linha da orla.<br />
4.3. Caracterização da Demanda na Avaliação da Oferta de Recursos<br />
No q~~adro das preferências locacioimis (Tabela 7), observa-se que as atividades<br />
apreseiitaill interesses coii7~1ils por locais com características siinilares, seildo todas as<br />
atividades coilceiltradas na faixa costeira. Os recursos ofertados lia região estão<br />
localizados próximos da costa e a possibilidade de acesso é ilimitado com pequeiias ou<br />
médias eillbarcações. Esse quadro de atividades se baseou no estiido desenvolvido para<br />
resolução das questões de múltiplo uso decol-seiltes do estabelecimento da RESEXIAC,<br />
onde foi proposto ui11 critério de zoneaineiito para cada Luna dessas modalidades de uso<br />
e aproveitameiito, sem que houvesse consei~so.<br />
-<br />
1<br />
37<br />
9<br />
2 8<br />
-<br />
3 8<br />
24<br />
3 7<br />
2<br />
2<br />
34<br />
3 1<br />
3 1<br />
94<br />
6<br />
2<br />
49<br />
36<br />
13<br />
5<br />
5<br />
62<br />
3<br />
2<br />
27<br />
2 1<br />
G<br />
33<br />
5<br />
3<br />
44<br />
2 1<br />
23<br />
1<br />
1<br />
53<br />
5<br />
2<br />
16<br />
3<br />
5<br />
8<br />
3<br />
3<br />
2 6<br />
4<br />
3<br />
11<br />
5<br />
2<br />
4<br />
1<br />
1<br />
29
Tabela 7: Quadro de nível de preferência locacional por tipo de usuário<br />
A demanda locacioiial apresentada no quadro de preferência foi estipulada eiii<br />
quatro níveis, represeiitados pelas letras a, b, c e d, que iiidicain o iiienor grau de<br />
interesse em a e o inaior em d para situações onde o recurso é propício para atividade. O<br />
quadro deiiioilstra que as atividades de laser de apiiéa e pesca de linha são as que<br />
demoiistraiii maiores índices para os recursos dispoiiíveis e as de iiiergullio equipado e<br />
pesca de linhas profissioiial são as mais exigentes.<br />
4.3.1. Apresentação do Quadro de Usuários<br />
O quadro de usuários coiii atividades coiiierciais, esportivas e recreativas no<br />
contexto da Região Sudeste foi resumido em oito grupos (Figura 65) podem ser<br />
desmeiiibrados e descritos para cada atividade, coiiipreeiideiido as seguintes formas:<br />
a) Pesca de Mergulho<br />
A pesca de mergulho é Lima atividade mileiias lia região, pode ser conduzida nos<br />
costões a partir das praias, sem o aiixílio de eiiibascações e por isso é iiiuito popular. A<br />
pesca com equipaiiientos auxiliares de respiração é mais coiliplexa, ilecessitaiido<br />
treiiiainei~to e sisteiiias operacioiiais, teve sua origeiii na caça s~dmiariiia atualmeiite<br />
Lima modalidade de coiiipetição.<br />
Pesca em Apnéa<br />
O equipameiito básico da pesca ein apiléa coiisiste nuliia iiiáscara coiii visor, tubo<br />
de respiração e nadadeiras. Eiii águas fiias é necessário o uso de roupa de boi~acha para
evitar a perda de calor do coi-po. Devido as limitações huniaiias, soineiite os iiiais<br />
q~~alificados são capazes de pescar na faixa entre 10 e 20 iiietros de profundidade.<br />
Pesca com equipamentos auxiliares de respiração<br />
Essa modalidade de pesca submariila é geralineilte coiid~izida em eiiibarcações<br />
eq~~ipadas com coiiipressor e tanque de ai-inazeiiaiiieiito de ar, de onde se estende uii~a<br />
iiiangueira de forneciiiieiito de ar para o mergulliador. O outro equipaineiito taiiibém<br />
utilizado é o de inergullio autôiiomo, o nqualung. A vantagem do eq~~iyainento<br />
autôiioiiio é que peiiiiite uina grande mobilidade e a necessidade de controle do ai-<br />
disponível diiiiiil~ii a margem de risco de doenças descoinpressiva. Os riscos são<br />
decosseiites da peiiilaiiêiicia pescando ein maiores profimdidades, que cliegaili a faixa<br />
dos 50 iiietros e exigem paradas descoiiipressivas no retomo a superfície. Essa<br />
atividade rora de controle pode se toillar altaiiieiite predatória, caso dificil de ocoi-ser<br />
com a pesca em apiiéa.<br />
Nos altii~los anos, um pequeno grupo profissionais mais especializados passarai~i a<br />
einpregar niistusas gasosas para pesca nesta faixa dos 50 inetros e eiil iiiais<br />
profimdidade, com menor iiiargeiii de riscos.<br />
b) Mergiillio recreativo:<br />
O mesgullio recreativo é uni dos inercados que iiiais cresce no Brasil e em outras<br />
partes do i-inuiido. A modalidade tradicioiialmeiite em apiiéa, cresceu coiii o iiiergullio<br />
autôiioiiio através de certificadoras iiitei-iiacioiiais com progsaiiias de foi-mação,<br />
qualificação, especialização e eiitreteiiiiiieiito, coiii gsaiide apelo de inercado, através da<br />
televisão, filmes e revistas especializadas. At~ialmeiite sem o credeiiciamento de uma<br />
certificadoia recoill~ecida iiitei-ilacionalimeilte se torna difícil mergulliar coiii uma<br />
operadora, ou siinplesiiieiite secarsegar os tailques de ar coiiipriinido. Os priiicipais<br />
atrativos são foriiiações geológicas, coralígeiias ou ilaufiágios ricos em atrativos e<br />
singiilaridades.<br />
Os mergullios são seinpre prograiilados com antecedência, consideraiido-se todas<br />
as variáveis para definição dos locais. Os locais com melhores coiidições paisagísticas<br />
são iiiais proc~irados, assim c01110 os cascos de navios iia~lfragados OLI locais coiii<br />
particularidades que atraiam o interesse dos mergulliadores. Ahialiiieiite as operadoras<br />
taiiibém estão ofereceiido mergullios em águas mais prof~mdas de até 70 inetros coii~<br />
iiiisturas gasosas, abrindo possibilidades para locais pouco coihecidos da faixa de mar<br />
tessitorial.
Operadoras de Serviço de Mergulho<br />
As operadoras de niergullio via de regra são credenciadas pelas certificadoras<br />
iiitemacioiiais, oferecendo cursos de foriiiação, qualificação e especialização, que são<br />
estabelecidas em níveis de coill-ieciilieiito e horas de i11ergull10. Dispõe de equipail~eiitos<br />
e embarcações para operarei11 com grupos de 10 inergulliadores ou i~iais, dependendo da<br />
embarcação e moiiitores dispoi~íveis para acoilipailhaiiieiito das atividades.<br />
Mergullio Recreativo em Apnéa<br />
O mergulho eiii apiiéa de lazer e coleta s~~bmariila de coiiclias e ailiiiiais contiii~m<br />
seiido a fomia de uso mais popular e iiuinerosa, eiicoiitrada em qualquer poiito da costa<br />
brasileira, mesmo em condições meilos favoráveis. Na Região Sudeste divide a<br />
popularidade com o surfe, destacaiido-se das deiiiais atividades inclusive outras<br />
modalidades de iiiergull-io, exigindo o iníniiiio de equipaiiieiito e facilidades de locais de<br />
iiiergull~o .<br />
R/Iergulliadores particulares credenciados<br />
Geralineiite os mergull-iadores autôilomos são proprietários de equipameiltos e<br />
alg~iils de eiiibarcações, ou contratain serviços lios locais visitados. Essa prática é<br />
regional e quando eiivolve viagens de turisino someilte o material básico é levado pelo<br />
mei-gull-iadoi-, o restante como tailques de ar e coletes são alugados das operadoras. Esse<br />
sistema envolve pacotes turísticos, acomodações e eiiibarques.<br />
c) Caça Submarina Esportiva<br />
Caça Submarina em Apiiéa<br />
A caça subinarina foi da década de 1950 a década de 1970 a principal atividade de<br />
inergulho no Brasil, coiii muito destaque em coiiipetições i10 cenário iilteriiacioilal,<br />
devido a coiiquistas e111 cailipeoiiatos iliuiidiais. Devido ao grave diiiiiiiuição do iiíi~i?ero<br />
e tamaiiho das espécies mais procuradas coiiio, garoupas, badej os, meros e cliei-iies em<br />
águas iliais rasas e protegidas, a atividade passou a ser criticada e repriinida, seili os<br />
devidos estndos de causas e efeitos. Para os profissioiiais o que ocorreu foi apenas uma<br />
iliudaiiça de deiloiniiiação de "caça submariila" para "pesca submariila" 1-10<br />
aproveitai~iento coniercial, com relação aos rec~ii-sos as deiliaiidas são similares.<br />
Caça Submarina Competitiva<br />
As coinpetições de caça s~~binariila coiitiil~iaili a ser coi~d~izidas com restrições, eiii<br />
alg~iiis locais são proibidas. A regulaiiieiitação varia de acordo com o órgão de govei-no<br />
e hierarquia de leis iiiunicipais, estaduais e federais. Na região do cabo Frio, a atividade
é tradicioiialiiieiite popular e aii~ialiiieiite são realizadas coiqetições iiacioiiais e<br />
iiiteiiiacioiiais, eiii locais previaineiite definidos.<br />
Caça Submariiia Recreativa Esportiva<br />
Essa atividade é exercida por inergulliadores que organizam expedições a locais<br />
específicos, coin a fiiialidade de lazer e a captura de peixes para coiisuiiio. Geraliiieiite é<br />
coiiduzida por dois ou iiiais iiierg~illiadores, em eiisbarcações próprias ou contratadas,<br />
que em coiijuilto definem os locais e período de peimaiiêiicia em cada pesqueiro.<br />
d) Pesca de Liiilia:<br />
Pesca de liiilia de arremesso:<br />
É a atividade de pesca inais popular eiicoiitrada ao loiigo das praias e costões, o<br />
material iiecessário pode ser resuiiiido a ~1111 carretel de linha, aiizóis e ch~~iiibada.<br />
Apesar da popularidade e poteiicial coiiio alterilativa de recreação, esporte e lazer, a<br />
atividade aiiida necessita de estudos e planos de deseiivolviiimito. Essa pesca é em<br />
geral coiiduzida coiiio foriiia de lazes, ou de foima coiiiercial eiii deteiminados locais e<br />
épocas de grande ocorrêiicia ein praias e costões.<br />
Pesca de linha embarcada:<br />
A pesca eiiibarcada se processa de dilereiites foiliias de acordo com a<br />
q~ialiíícação da tripulação, modalidade de pesca, tipo de embarcação e equipaiiieiitos<br />
dispoiiíveis, lia forma comercial, esportiva ou de recreação e lazer. A localização das<br />
áreas de interesse varia de acordo coiii o tipo de pescaria, c01110 peixes pelágicos<br />
(inarliii, atum) ou de f~iiido (badejo, garo~~pa). A pesca de liidia se processa iluin local<br />
detei-iiiiilado, oiide os peixes se eiicoiitrain ou de acordo coin o tipo de fi~iido. Essas<br />
operações com equipmieiitos de pesca e na coiiiercial aiiida coiii arr~iiiiação do pescado<br />
lias til-nas, são coiiduzidas i10 coiivés da plataforma de trabalho da eiiibarcação. O<br />
estudo dessas relações é iiiuito coinplexo, sendo necessário a observação de aspectos<br />
iiiais relevantes, coino a capacidade de locoiiioção, iiistruiiieiitação de iiavegação e<br />
localização da pesca.<br />
A pesca de liiilia é a iiiais intensa lia região, eiivolveiido vários tipos de<br />
embarcações coiii diferentes diineiisões e equipaiiieiitos. Na sua foriiia inais siiiiples<br />
c0111 liiiha e anzol, através de uiii costão rochoso, beira de praia, canais e outros locais,<br />
sendo a atividade mais popular. Na pesca einbarcada o iiuiiiero de liillias varia com a<br />
tripulação. O espiidiel se coiistih~i de longa lililia (long line) de onde são penduradas<br />
liiilias com coiiipriiiieiito variável coiii a profuiididade de pesca oiide se prende os<br />
anzóis. Os locais de pescaria de fkdo seiido coid~ecidos e deiliarcados, podeiii sei-
coiifig~irados e estudados para avaliações e medições, no caso dos cai-dui~ies pelágicos<br />
as medições podem ser feitas com o auxílio de imageix de satélite.<br />
Pesca com Rede:<br />
As pescarias com rede são cond~izidas através de einbarcações com tamanho<br />
suficiente para traiisportar im vol~me de rede e uma tripulação. As operações são<br />
coiiduzidas em zonas coill-iecidas de ocoil-ência, geralineilte restritas aos pescadores da<br />
região. Nesta modalidade só é possível deteiininar zonas de ocoi-rência e suas possíveis<br />
associações coni o relevo s~ibinarino, efeitos de coil-entes, teinperatura entre outros<br />
fatores. Essa modalidade iião foi incluída devido as suas restrições, devido a sua<br />
atuação em águas rasas perto das praias.<br />
Outras (embarcadas):<br />
As outras modalidades de pesca, como as de arrastão de portas ou parelhas fogeiii<br />
ao escopo desse traballio por se tratarem de métodos altaineiite predatórios e<br />
condenados em outras partes do miiiido, não de enq~~adrando no quadro de<br />
susteiitabilidade. No caso da pesca de caiiiarão com amasto as perdas de pescado de<br />
q~~alidade em cresciinento pode ficar em tomo de 80%, ou seja para cada dois quilos de<br />
cainarão vendido oito quilos de espécies e111 crescimei~to são moi-tas e a maior parte<br />
devolvida ao mas.<br />
4.4. Medição da Disponibilidade Locacioiial de Recursos no Miíltiplo Uso<br />
4.4.1. Adequação de Aplicação de Nlodelo de Nledição<br />
Para se estabelecer parâinetros de medição procurando verificar o grau de<br />
interesse de cada uma dessas atividades para cada foi-ma de rec~~so em cada um desses<br />
sistemas e coiiipartiinei~tos vai ser ei~ipregado uin modelo locacional de medição. A<br />
medição dos coiilpoiieiltes nahirais de zoneaiiiento de avaliação de potencialidades de<br />
Areas e segundo sua vocação nat~iral em recursos, podem ser definidos de acordo coiii as<br />
características geográficas de cada sistema costeiro no Quadro de Diineiisões (Tabela<br />
8), onde são eiicoiitradas foiniações naturais de praias, eiicostas, ilhas, recifes e<br />
iiaufrágios que são procuradas por diferentes tipos de ~isuários. As medidas são<br />
proporcionais as da quadrícula, sendo as medidas lineares, como o coinpriineiito de<br />
praias medidas em milhas; e a das áreas como do relevo subinarino, medidas em inilhas<br />
q~iadradas relativas a q~~adrícula oc~ipada.<br />
Observa-se que os recursos predominailtes na região são praias abertas, cobrindo<br />
mais que a metade da extensão da orla e somando-se as protegidas, cliegaiii a mais de
70% de toda faixa costeira, eiiquailto os costões coiii mais recursos ociipain faixa com<br />
pouco mais de 25%. Os coiiipoiieiltes de uso, eiii cada coii~partimeilto, zona e sistemas,<br />
são diiiieiisioilados com objetivo de medir os níveis de oferta de recursos.<br />
Tabela 8: Quadro de Diineiisões dos Recursos Característicos das Frentes - Oferta Locacioiial<br />
FRENTES<br />
-<br />
Cnracter.isticns/Dinierzsões Proteg. Aberta Costões Illias<br />
-<br />
FRENTE SUL 1 6 1 8 5<br />
- L<br />
CIJ. Pir.afiningci-Saq~~nr.enza - 24 G<br />
Conzp. Mnssnnzbnba 1 3 7 2<br />
FRENTE SU<strong>DE</strong>STE 37 3 6 49<br />
C!). Cabo Frio-Cb B~izios<br />
34<br />
FRENTE LESTE 5<br />
Cp. Sfio Tonlé - /tabap~~cina - 3 1 5<br />
Relevo Szibmc~rir~o<br />
For.<br />
TOTAIS 38 128 62 33 53 26 19<br />
% 11 3 6 17 9 15 7 5<br />
&<br />
3<br />
Totais Faixr<br />
4 6<br />
41;<br />
TYp<br />
1001<br />
As relações espaciais de iniiltiplo uso são decoi-sentes das opções vocacioiiais<br />
dos espaços que foram deíiiiidos iio zoiieaiiieilto, ideiltificaildo a oferta espacial coiii<br />
valores ein f~mção de diineiisões e características dos espaços eiicoiltradas eiii cada<br />
sisteiiia e diineiisões disponíveis para uso, aproveitaiiieiilo ou beiieficiaiiieiito. A partir<br />
do qiiadro de usuários as disponibilidades de recursos são avaliadas seg~liido as<br />
características iiat~irais de iiiteresse em cada sisteiiia, torilaiido-se necessário definir a<br />
dimensão da demanda de recursos dos coiiipartiinentos e sistemas.<br />
A forma de avaliação desses dois fatores oferta e deiliaiida, tem coiiio<br />
compoiieiite mais iiiiportaiite o locacioilal, coiisideraiido-se seiiipre a iiiil~oiiderabilidade<br />
do espaço tridiineiisioiial s~~biiiasino. Na COPPE outros traballios com estudos e<br />
pesquisas locacioiiais, iilclusive lia faixa costeira temestre (LIMA, 1993), einpregaraiii<br />
o Modelo COSENZA, o que facilitou a sua adaptação para pesquisa de avaliação da<br />
disponibilidade de múltiplo uso da faixa litoi-âiiea e oceâiiica.<br />
Devido à complexidade de se promover uma avaliação iiuiiiérica de recursos<br />
s~hiiersos em h~ção de dimensões espaciais regulai-es, coiisiderou-se apenas as<br />
poteilcialidades iiiais coihecidas e notórias. Optou-se por atribuição de valores eiii
diferentes iiíveis de oferta e deiiiaiida. O algoritiiio se coiistihii da coiiiparação de duas<br />
iiiatrizes refereiiciais;<br />
- ele relação de corzdiciorznrztes irlert tifictcdrcs em cada cirecc, ccnrncterizaiz do n o fertn<br />
de reczcrsos em cccda zona;<br />
- de irzteresse dos z~szccirios enz relnçlio as cnracteristicas e vocações de cntlce hreec,<br />
cnrcccterizarzclo cada clentancla de recursos.<br />
A Matriz A é coiiiposta de caraterísticas locacioiiais, coiii os diferentes iiíveis de<br />
deiiiaiida de cada fator por atividade (Tabela 10), relacioiiaiido-se os tipos e<br />
características de cada recurso com as preferêiicias do usuário; para cada local do<br />
sistema, se atribui valores de 1 a 4 para suas características e atrativos, pertiiieiites ao<br />
nível de interesse da procura, coiifosme i10 quadro de deiiiaiida (Tabela 9).<br />
Tabela 9: Quadro da M&iz A de avaliação de nível de Dema~ida de Recurso por usuário<br />
USUA'RIO/RECLIRSO<br />
Característica I Prefereiicia<br />
Deiilaiida cle Recurso<br />
MERGULHO<br />
U3 Pesca Su binariiia<br />
PESCA <strong>DE</strong> LINHA<br />
U4 Lazer<br />
Profissioiial<br />
U7 SURFE<br />
U8 CAIQUE<br />
Nesse quadro prociii-oii-se identificar fatores e tei-iiiinologias coiiiuiis e<br />
Iioiiiogêneos que pudesseiii caracterizas iiíveis de demanda de recursos de cada usuário.<br />
Na Tabela 5 observa-se que as deiiiaiidas das modalidades de iiiergullio são<br />
semelhaiites, como águas claras e recursos atrativos que se difereiiciaiii em alguns<br />
aspectos devido a disponibilidade de equipameiito, que permite mergullios iiiais fuiidos<br />
em recifes e cascos por períodos iiiais longos, eilq~~anto os costões são iiiais adequados a<br />
qiiéa. Na pesca de liidia não 1iá exigêiicia de águas claras, iiias a demanda por costões,<br />
recifes e cascos são similares. Os baiicos coiii ineiios atrativos visuais, tem a preferência<br />
como pesqueiro, para liidia e inergullio, e no caso de águas iiiais rasas para foriiiação de<br />
ondas de surfe. Os maiores iiíveis de deiiiaiida se coiiceiitraraiii no relevo subiiiariiio,<br />
com a maior prefereiicia para os fuiidos rocliosos, seg~iido de cascos coiii iiiais<br />
preferência para o iiiergulho e baiicos para pesca de lililia.<br />
J
Mergnllzo<br />
ipnéa Lazer<br />
Mergullz o<br />
Equipado<br />
Recreativo<br />
Mergrr llz o<br />
Pesca<br />
Pesctr<br />
Lazer<br />
Pesca<br />
Esportiva<br />
Pesca<br />
Piotissioiial<br />
Surfe<br />
Tabela 10: Quadro Níveis de Derliaiida de Recursos por Atividade<br />
1<br />
Uso ocasional; aiiibieiite<br />
Iiostill recurso alteriiativc<br />
em meses do aiio<br />
Uso ocasional; ambiente<br />
Iiostill reciirso alteriiativc<br />
ein nieses do ano<br />
Ilso ocasional; aiiibiente<br />
Iiostill i-cçurso alteriiativc<br />
eiii iiieses do ano<br />
Uso ocasiorial; ambiente<br />
Iiostill recurso alteriiativi<br />
eiii nieses do ano<br />
Ilso ocasional; aiiibieiite<br />
Iiostill recurso alternativi<br />
c111 iiieses do aiio<br />
Uso ocasioiial; ambiente<br />
liostil I reciirso<br />
alternativo em niescs do<br />
aiio<br />
OiitlulaçQo boa eveiitiial.<br />
poucos recuI's0s<br />
propícios, pouco iiso<br />
alternativo<br />
Uso ocasioiial, aiiibieiite<br />
hostil 1 reciirso<br />
alternativo ciii dias elo<br />
ano<br />
Ágiias claras e recursos<br />
com algum atrativos em<br />
uni estação do ano<br />
Águas claras e reciirsos<br />
com atrativos em mais<br />
períodos do ano<br />
Águas claras e recursos<br />
coiii ~ O I I C bioprodiição,<br />
~<br />
em pwío0ds do aiio<br />
Ocorrêiicia de for~iiações<br />
com pouca exterisão ou<br />
pouca bioprodiição<br />
Foriiiações de difícil<br />
acesso coiii pouca<br />
extciisão oii bioprotliição<br />
Ágiias claras, inaior<br />
Brea, mais recursos e<br />
atrativos a inaior parte<br />
do ano<br />
Águas chias, inaior irea<br />
niais recursos e atrativos<br />
a maior parte do ano<br />
Águas claras. maior irea<br />
reciirsos c bioprotloção a<br />
niaior parte do ano<br />
Águas claras, grandes<br />
espaços, recursos e<br />
atrativos rias 4 estações<br />
Aguas claras, grandes<br />
espaços, recursos e<br />
atrativos nas 4 estações<br />
Águas claras, grandes<br />
espaços e bioprodução<br />
durante as 4 estações<br />
I<br />
Ocorrência de forniações Ocorrêiicia de forniaçõe: Craiides forniações,<br />
com pouca extensão ou coiii imita esteiisão ou exteiisões c bioproduçãc<br />
poiica biopro
Tabela 11: Quadro MATRIZ-B de Avaliação da Oferta de Recursos rios Sistemas Costeiros<br />
CaracteiísticasIDime~~sões<br />
Oferta cle Reciirso<br />
FI FRENTE SUL<br />
ZI Cp Pirot - Soqunr<br />
si Sistema Itacoatinra<br />
s2 Sistema Itaipiiaçii<br />
s-< Sistema Ponta Negra<br />
22 Cp Mossombobn<br />
C0 Clara Proteg. Aberta Costões Illias Roclios. Banco Casco<br />
OR 01 02 03 04 05 06 07 08<br />
FS 16 4 12 9 5 8 4 3<br />
s-i Sistema Saqiiai-ema<br />
S5 Sistema Itariria<br />
v<br />
-.<br />
so Sistema Rlassainbaba<br />
1 FRENTESU<strong>DE</strong>STE I FD I 10<br />
Sistema Búzios<br />
I 11 1 6 1 10 1 10 1 9 1 9 1 8<br />
Sistenia São João<br />
si~~stenia Quissaniã<br />
Si3 Sistema São Tomé<br />
3 FRENTELESTE I FL I 0 I 0 1 2 1 1 I 0 I 1 1 3 1 1<br />
A existêiicia do recurso foi considerada apenas para ocorrência de área<br />
significativa, coiii dimeiisões que pudessem ser ideiitificadas no espaço de uma iiiill~a,<br />
co~iiportaiido unia forma de uso e cotado de acordo coiii o vol~mie de atrativos<br />
eiicoiitrados na área. As iiiedições são calculadas em f~tnção de proporções e atrativos,<br />
que variain de acordo com a modalidade de uso, i10 caso dos recursos biológicos as<br />
medições são proporcioiiais para a pesca e recreação, Lilia vez que a abuiidâiicia de<br />
biomassa é im atrativo visual e pesqueiro. No caso de águas clai-as sua ocorrêiicia<br />
depende de fatores diilâmicos como coi-rentes, iiiasés e aposte de rios, pode ocorrer<br />
diirante todo alio em algumas áreas ou eveiit~taliiieiite e em determiiiadas estações.
Ag~~ns<br />
Claras<br />
Praias<br />
Protegidas<br />
Prairrs<br />
Abertas<br />
Orln<br />
Rocliosrr<br />
Costões<br />
Orln<br />
Rochos~<br />
Illias<br />
Rel.<br />
Subntar:<br />
Roclioso<br />
ReI.<br />
Snbmnr:<br />
Bancos<br />
Rel.<br />
Submw.<br />
Cascos<br />
Tabela 12: Quadro de Níveis de Dispoiiibilidade da Oferta.<br />
Iiiesistêiicia de igiia<br />
coiii visibilida
correspoiidêilcia apreseiitaiii características particulares para cada iiível, coiisideraiido-<br />
se a relação de iiiiniero de usuários (li) e de características dos recursos dos sistemas, os<br />
fatores locacioilais (n).<br />
,ela 13: Quadro de Avaliação das Relações de Nivelamento da Oferta e Deina<br />
Existente Co rzsirlercível Aburzdmte<br />
Nivel i=0 i=l i=2 i=3<br />
No nível de deinaiida j =1, foi coilsiderado que de alg~iiiia forma o ~isuário pode<br />
aproveitar o recuso e111 determinado evento de interesse. O coiiceito de iiiexistente 110<br />
caso considerou que o espaço iiiariilho adiiiite diferentes foimas de iiiteração, iiiesiiio<br />
que dependente de condições an~bieiitais e produtividade ileili seinpre favoráveis à todas<br />
as atividades dmaiite todo alio ou ein períodos.<br />
Para o iiível de oferta i = 0, coilsiderou-se ein priiicípio a existência de valor<br />
iiiíiiiino em cada recurso de iilexistêiicia q~iestiiiável correspoildeiite a demanda dirigida<br />
iio quadro de usuários, atrib~iiiido-se por isso meio valor unitário de equivalêilcia de<br />
deiliaiida atendida em poteiicial descoiiliecido. Esse poteiicial deve ser coiisiderado nas<br />
dimeiisões das zonas, coilipai-tiiiieiitos e sisteiiias, visaiido a definição de objetivos de<br />
plaiiejaineiito e gestão de sistemas aquáticos de iiiíiltiplo uso.<br />
No nível de oferta i = 1 o recurso eiicoiitrado atende a ~rn nível regular,<br />
proporcioiial ou pouco superior ao da deiliaiida i j , coilsideraiido-se que neste nível já<br />
se estabelece a existêiicia de recurso. Para as ofertas de iiível i = 2 e i = 3, as<br />
dinieilsões dos recursos ultrapassaiii as iiecessidades do nível de demailda, quaiido é<br />
coiisiderado uiil valor agregado locacioilal para esse poteiicial adicioilal de LISO. Na<br />
demalida j = 2 além da disponibilidade do recursos natural, outros fatores são<br />
coiisiderados, como o conceito de deinaiida niíiliiiia iiecessária para deteimiiiada<br />
atividade.<br />
Nível<br />
j=l<br />
i=O -<br />
i=j = 1/2<br />
i=l<br />
i = 2<br />
---<br />
i j<br />
i>j<br />
i = 3<br />
i>j
Nível<br />
j=2<br />
A coiidição de água clara por exemplo, para o ateiidiiiieiito básico da pesca de<br />
mergulho, pode ser estabelecida eiii i = 1 mesmo que as coiidições ideais estejam em<br />
i = 3; unia vez que estabelece parâiiietro ii~íiiiiiio de ocoi-iêilcia de visibilidade. A<br />
deinailda em j = 2, é coiisiderada coiiio a que estabelece a necessidade de existêiicia ou<br />
ocosrêiicia do recurso, coi~espoiideiite ao iiível de oferta de recursos definida eiii i = 1,<br />
estabeleceiido por isso o valor da deiliaiida em i = j = 2. Para os demais recursos<br />
dispoiiíveis em níveis siiperiores de oferta, os valores são ajustados para cada caso. Em<br />
i = 3 a cotação iiiuda porque outros fatores de deiliaiida são coilsiderados, eiii relação<br />
ao maior contiiigeiite de usuários motivados por atrativos de iiível 3, que estariam<br />
dispostos a pagar mais por serviços.<br />
A demailda eiii j = 3 pode ser coilsiderado coiiio de equilíbrio de viabilidade<br />
comercial em coiidições sazoiiais de trabalho, coiisidei-aiido a imnpostâiicia desse nível de<br />
recursos, situando-se a ofei-ta em patainares de i = 2, atribuiiido-se o valor de<br />
cosrespoiidêiicia em i = j = 3.<br />
Nível<br />
j=3<br />
i=O<br />
i j<br />
coilsideráveis, particulasidades que justifiqueili essa classificação máxima.<br />
Nível<br />
j=4<br />
i=O<br />
i
Neste caso deve-se coiisiderar a iinpoi-tâiicia do iiivelaineiito, a quailtifícação da<br />
relação entre o inaior nível de deinalida e a dispoilibilidade de cada tipo de recurso, em<br />
cada sisteiiia. Na iilexistêilcia de ui11 deteiiiiiilado recurso ein i = O, o valor da demailda<br />
é nulo, uma vez que não oferece ~1111 nível míilimo de alteri~ativa; eiiquailto em i =I<br />
pode-se localizar ui11 voluine de recursos que pelo iiieiios ateiida a uim nível iiiíi~iino de<br />
demanda.<br />
A coiiiparação das duas matrizes, procura seguir a base de um produto inatricial,<br />
mas neste caso, substitui a efetuação regular de cada produto a x b por coinparação de<br />
seus valores, seguindo a tabela de cotejo, onde são especificados os valores de<br />
coi~espoiidêiicia dos fatores da oferta e deiliaiida, seguindo critérios de avaliação i10<br />
cainpo da Lógica Fuzzy. Através da coinparação dos valores da tabela de cotejo, chega-<br />
se a deteiiliiiiação de parcelas do soiliatório do elemeiito til, e aos valores utilizados na<br />
moiitageiii de matriz de resultados C de possibilidades.<br />
11 Matriz C )I Possibilidade Locacional<br />
Na tabela de cotejo (Tabela 14) são apreseiitadas as possibilidades de<br />
coiiibiiiações entre os quatro valores atribuídos aos níveis de oferta e os quatro valores<br />
atribuídos aos níveis de demanda, correspoildeiites aos elementos aij e bji
Tabela 14: Tabela de Cotejo<br />
Tabela de Coteja A @ B = C<br />
Nível i=O i=l i=2 i=3<br />
j=l i = j = 0,5 1 + 1,5(1ln) 1 + 2(1/11) 1 + (1111)<br />
pppp<br />
j=2 2(1/i1) i=j=2 2+2(1/11) 2+3(1/ii)<br />
j=3 O 1+3(1/11) i=j=3 3 + 3(1/11)<br />
---<br />
j=4 +4(1i) 2+4(1lii) i=j=4<br />
Tabela de Coteja A C3 B = C para 11 = 8<br />
Nível i=O i=l i=2 i=3<br />
0,50 1,19 1,25 1,13<br />
0,25 2 2,25 2,38<br />
O 1,3 8 3 3,38<br />
j=4 O 1,5 2s 4<br />
Os valores absolutos correspoildein ao iiivelainento entre a oferta e a procura,<br />
qiiaildo os recursos disponíveis satisfazein os diferentes níveis de interesse. Os valores<br />
fracioi~ários representam o fator difereilcial de avaliação de recurso, coil-espoildente a 118<br />
(1111) da demaiida de Mores locacionais; os absolutos coin a~iiliei~to proporcional ao<br />
nível de satisfação atendida; e os valores fracioilários agregados em f~iilção de níveis de<br />
acrésciinos coiisiderados pela existêiicia do recurso e sua diineiisão. Nas avaliações de<br />
iiiílltiplo uso pode levar ein coiisideração as coiidições alternativas de opção entre<br />
inodalidades e tipos de atividade como, mergulho, surfe e pesca para um niesiiio usuário.<br />
Avaliações de Possibilidades Locacionais da Matriz C<br />
A Matriz C coiiipreende as relações de cada atividade c0111 os níveis de recursos<br />
eiicoiitrados nos compartiii~entos e sistemas. A coinbiiiação de fatores da Matriz A e B,<br />
busca a correspoiidêilcia lia tabela de coteja, teiido o primeiro dígito correspondente a<br />
lililia de demanda e o seguido a coluna de ofertas, dando o resultado da avaliação<br />
elementar do sistema para cada uiii coinponente do quadro de usuários. Cada<br />
coi~ipoileilte de uso da Matriz C pei-mite que os valores atribuídos na tabela de cotejo<br />
sejam coinparados e ajustados se necessário, compatíveis e lioinogêiieos a todos os tipos<br />
de usuários.
No cálculo foi utilizado programa Microsoft EXCEL traballiaildo em sisteiiia<br />
operacional WINDOTKS" 98. Os resultados de cálculos e tabulações desta etapa são<br />
apresentados lia Tabela 15, onde são apreseiltados os totais de avaliação de recursos.<br />
!ONAS E <strong>SISTEMAS</strong><br />
JEzF-<br />
S3 I~onta Negra<br />
I<br />
O sisteiiia que correspondeu com mais altos íiidices ao coiijuiito de deiiiaiidas do<br />
grupo de oito tipos de usuários foi o Sistema Cabo Frio, coiii nível de oferta total de<br />
147,36 poiitos, seguido do Sistema Cabo Búzios coiii 82% desse poteiicial e dos<br />
Sistemas de Massambaba coin 74,6% e São João com 71%. Os menores índices foraili<br />
os da Frente Leste e parte norte da Sudeste, dos Sistemas de Quissainã e Paraíba do Sul<br />
coiii 20% em relação ao de Cabo Frio, seguido de São Toiné com 26,8% e Itabapoaiia<br />
com 28,4%. Os deiiiais sistemas podem ser separados em dois grupos com os inelliores e<br />
piores índices.<br />
A oferta global de recursos da Região Sudeste favoreceu o inergullio em apiiéa<br />
c0111 O maior total de 160, 88 pontos, seguido do a~itôiiomo recreativo, surfe, caíque e<br />
pesca de iiiergullio com iiiais de 90% dos poiitos. O iiieiior índice de 72% ficou com a<br />
pesca de liiil-ia profissioiial, o que deiiioiistra uni certo equilíbrio entre os iiiteresses dos<br />
usuásios e as dispoiiibilidades de recursos da região. A zona inais privilegiada engloba o
Compartiineilto Cabo Frio - Cabo Búzios e os coinpoileiltes adjacentes, o Sistema<br />
Massainbaba e o Sistema São João.<br />
Índices de Avaliação Locaciona1 da Matriz D<br />
A etapa seguinte coiisiste na iiiultiplicação da Mutriz C (possibilidade), com as<br />
condições do quadro de usuários ein relação a cada sisteilia, c0111 a Matriz Diagoilal E,<br />
de diiiieilsão h x h ( para li = No. de tipologias locacionais) apresentada lia Fig~ira 16.<br />
Na Matriz E os itens da diagoiial ass~iiilein o valor llri, onde ri é igual ao iiiiinero de<br />
tipos de atividades do quadro de usuários.<br />
11 MutiQ E 11 Matriz Diagoual<br />
lmi I colunas<br />
11 i iiiiiias 11 Valores possíveis e :<br />
O:sei#l; 1/iisei=I<br />
A etapa final, para obtenção dos índices de avaliação de localização, efetua-se o<br />
produto das Matrizes C e E, ila foima de uma nova matriz de índices locacioiiais a<br />
Matriz D de dimensão li x m, consideraiido-se que { d i,, ) = { e ii ) 1,1, x { C il, ) I,, ,,,<br />
Através dos valores d il, se conduz avaliação dos níveis potências das<br />
possibilidades de aproveitamento para o iníiltiplo uso de cada zona ou sisteiiia<br />
elementar, acoilipaidlaiido os seguintes parâinetros :<br />
d ik > 1 : a oferta de fatores (recursos), ria zona ou sistema elementar 1' supera a<br />
demanda requerida pela tipologia empresarial i; seu valor é proporcioiialinente<br />
elevado quanto maior for o número de fatores presentes com alto nível de oferta em I
Na Tabela 17 dos índices locacioiiais da Matriz D pode-se observar que<br />
soiiieiite sete de quinze sistemas iiaturais observados apreseiitaiii i10 coiljuiito de<br />
recursos os iiíveis de ateiidiiiieiito da deiiiaiida dos grupos de usuários.<br />
Tabela 17: Matriz D de índices locacionais<br />
SI Itacoatiara 2,09 1,75 1,68 1,67 1,07 1,45 1,71<br />
S2 Itaipiaçu 1,17 1,21 1,14 0,97 0,95 1,08 1,11<br />
S3 Ponta Negra 1,16 1,08 0,98 0,78 0,72 0,89 1,04<br />
$1 0 Rio das Ostras 1 1,371 1,351 1,281 1,141 0,91 0,92 126<br />
$11 )santana 1 1,571 1,261 1,361 1.25) 1.001 1.201 1.26<br />
As fi-elites apreseiitaiii características lioiiiogêiieas e limites de coiitiiiuidade, como<br />
dos Sisteiiia São Toiiié e o Sisteiiia Paraíba do Sul lias planícies do estuário, eiiquaiito a<br />
faixa subiiiersa adjacente possui foiiiiações diferenciadas. Os totais de índices de cada<br />
sistema iiidicain coerêiicia de coiitiiiuidade de dispoiiibilidade locacioiial. A pai-tis do<br />
Sistema Itaquatiara a oferta de recursos coiiieça a decrescer até a zona central da extensa<br />
faixa de praia aberta da Frente Sul, retoiiiaiido íiidices de viabilidade no Sisteilia<br />
Massaiiibaba cliegaiido ao máxiino i10 Sisteiiia Cabo Frio, voltaiido a decrescer até os<br />
i-i~ei-iores íiidices a partir do Sisteiiia de Saiitaiia.<br />
Na aiiálise da oferta em d i,, > 1 pode-se observar que eiii sete sisteiiias as demaiidas<br />
são atendidas, predoiiiiiiaiido o Sisteiiia Cabo Frio coiii máximo de 2,82 de iiiergullio<br />
apiiéa) e o iníiiiiiio de 1,75 de liillia profissioiial. O iiiergullio apiiéa foi taiiibéin o maior<br />
índice nos Sistemas de Itacoatiasa, Cabo Búzios e Saiitaiia, eiiquaiito a liiilia profissioiial<br />
teve os ineiioses íiidices lios Sistemas de Ponta Negra, Massaiiibaba, Búzios e Saiitaila.<br />
Outros iiíveis ináximos foraiii pesca s~~biiiariila lios Sisteiiias Poiita Negra, São João e<br />
que no de Massaiiibaba; e outros iiíveis iníiiiinos forani de linha lazer ein Itacoatiara e<br />
caíque eiii São João.
A ocoi-i-êiicia de iiíveis s~yeriores e iilferiores a d i, = I forain eiicoiitrados ein<br />
quatro Sisteiiias, i10 de Itaipuaçu apenas os iteiis de pesca de liizl-ia lazer e profissioiial<br />
foraiii inferiores e i10 de Rio das Ostras os itens liiilia profissional e esportiva. No<br />
Sisteina Itaima ficou dividido, coiii metade de íiidices de viabilidade, eiiquaiito eiii<br />
Saquareina soiiieiite os iteiis surfe e caíque tiveraili íiidices s~iperiores. Os Sisteinas<br />
mais críticos que apreseiltaraiii íiidices d i,, < 1 se conceiitrarain nos Sisteiiias ao norte<br />
da região, os de Quissainã, São Toiiié, Paraíba do Sul e Itabapoaiia.<br />
As pesquisas coiiiplemeiitares sobre as áreas e zoiias sepasadaineilte podem ser<br />
coiiduzidas a partir de Matriz D, coiiio se coi-respoildein ao coiijuiito de tipologias<br />
ilicluídas lia análise; eiii seguida efeh~aiido o soiiiatório das linhas da Matriz D e o<br />
resultado iiiultiplicaiido pelo índice h de tipologias:<br />
ZI,=l/hx Cd,i,, paraivariardel ah,ek=1,2,3 ,..... m<br />
Através de leitura da coluiia do íiidice Z 1, (Figiu-a 75)obsesva-se que os Sisteiiias de<br />
Cabo Búzios e São João iiicliieiii seis atividades coiii íiidices siqmiores aos médios; os<br />
Sisteiiias de Itacoatiara, Itaipuaçu, Poiita Negra, Rio das Ostras e São Toiné coin ciiico<br />
atividades; os Sisteiiias de Saquareiiia, Massanibaba, Cabo Frio, Quissainã e Paraíba do<br />
Sul coiii quatro atividades. Os Sisteiiias de Itaiiiia, Saiitaila e Itabapoaiia foraiii os que<br />
apreseiitaraiii maior coiiceiitração, eiii soineiite três atividades acima da iiiédia.<br />
iiidicaildo sih~ações difereiiciadas de oferta e deiiiailda de reciii-so eiii cada sistema<br />
avaliado. A faixa litorâiiea da região deinoiistra coiitiiiuidade lioiiiogêiiea lia distribuição<br />
de disponibilidades ao loiigo da faixa costeira, c0111 a oferta decrescendo do Sisteiiia<br />
Itaquatiara até o de Saquareiiia, atmeiitaiido i10 Sistema de Itaiiiia e cliegaiido ao<br />
iiiáxiiiio no Sisteiiia Cabo Frio, quando volta a decrescer, perdendo a seqiiêiicia i10 de<br />
Saiitaiia, antes de entrar lia zona de iiieiiores índices a partir do Sisteina Quissainã.<br />
Através dessa verificação preliiniiiar podeinos apontar a zona ceiitral da Região<br />
Sudeste, coiiipreeiidida entre os Sisteiiias de Itauiia e Santana coiii a de maior poteiicial,<br />
seguida da zona entre o Sisteiiia Itacoatiara e Itaipuaçu. Os Sisteinas Poiita Negra e<br />
Saquareina podeiii ser considerados zona de traiisição, onde as relações de<br />
dispoiiibilidade espacial predoiiiiiiaiites de faixa de praia, coiiiportaiii ineiios recursos<br />
em deiiiaiida. Do Sisteiiias de Quissaiiiã ao de Itabapoaiia c0111 OS iiieiiores íildices,<br />
observa-se que liouve grande ocorrêiicia de valores superiores a iiiédia para as<br />
atividades de pesca de liill-ia profissioiial e esportiva, o que difere muito dos demais<br />
sistemas, excluiiido o de São João que apreseiitou índices s~iperiores a sua iiiédia geral<br />
em relação a cada item de atividade.
As avaliações se as tipologias de atividades são coi~espoiididas ( T i ) aos sistemas e<br />
zonas, podeiii ser através do soiiiatório das linhas da Matriz D, ein seguida<br />
miiltiplicaiido-se pelo índice l/m de sisteiiias eleiiieiitares:<br />
e Ti =1/m x Cdii,, parakvariaiidodel anz,ei=1,2,3, ..... h<br />
Nessa avaliação verifica-se que os índices mais satisfatórios se coilceiitrani i10<br />
Conzyarti~~zerzto Cubo Frio - Cabo Bzizios (Tabela 18), onde o volume de recursos<br />
correspoiidein iliais que as expectativas do coiijiiiito de usuários, eiiquaiito nos Sisteiiias<br />
de Quissaiiiã e Paraiba do Sul os índices ficaiii eiii 1/4 do iiível padrão de disponibilidade<br />
de recursos eiii relação ao total de sistemas.<br />
Tal ela 18: Quadro de índices de relação de oferta e demanda nos sistenias<br />
Os íiidices de disponibilidade por atividade tailibéiii podem ser verificados eiii<br />
relação ao total dos deiiiais sistemas (Tabela 19), onde se pode ver que a dispoiiibilidade<br />
de recursos i10 coiijuiito de sisteiiias para pesca de liidia profissioiial ficou abaixo do<br />
índice padrão, eiiquaiito o iiiergull-io apiiéa eiicoiitra as melliores condições.<br />
Tabela 19: Ouadro de oferta de recursos i~or atividade na região<br />
ATIVIDA<strong>DE</strong>S<br />
m<br />
*a><br />
55<br />
?<br />
T<br />
,<br />
Oe<br />
?a: Te<br />
m o<br />
y g<br />
2"<br />
42<br />
:L<br />
;$<br />
9''<br />
2&<br />
94<br />
:?<br />
Q'I)<br />
cÓDIGo<strong>DE</strong>MANDA<br />
TOTAL - Matriz D<br />
índice - Ti (llm)<br />
D1<br />
20,ll<br />
1,35<br />
D2<br />
18,59<br />
1,25<br />
D3<br />
18,15<br />
1,22<br />
Esses valores podeiii ser verificados taiiibéiii observaiido-se que o iiielhor iiível de<br />
oferta eiicoiitrado para toda região foi Mergulho Apiiéa, apesar da restrição de itens de<br />
oferta eiii toda zona de iiifluêiicia do rio Paraíba do Sul a partir do sistema de Quissamã<br />
ao de Itabapoiiiia. No coiij~iiito de atividades, as modalidades de pesca de liiilia foram<br />
D4<br />
17,52<br />
1,17<br />
D5<br />
14,52<br />
0,97<br />
,.G<br />
D6<br />
16,88<br />
1,13<br />
D7<br />
18,58<br />
1,24<br />
3 e,<br />
.o<br />
2<br />
D8<br />
18,49<br />
1,24<br />
.- V)<br />
m<br />
4-<br />
O<br />
+<br />
DT<br />
142,84<br />
937
iiieiios favorecidas, eiiibora possa se coiisiderar a iiidifereiiça quaiito a deiliaiida de<br />
visibilidade da água e detei-iniiiados recursos, coiiio pode ser observado lia Tabela 20,<br />
onde os íildices de deimalida de recursos do relevo submariiio são os inais elevados,<br />
cliegaiido a 97% do limite máximo estipulado para as três atividades de 36 poiitos, o que<br />
não ocorreu coin o grupo de niergullio com 77,8%.<br />
Na avaliação de íiidices da Tabela 13, referentes ao total de oferta dos sistema:<br />
em relação ao quadro de ~isuários, pode-se verificar que a atividade de iiiergull~o apiiéa<br />
é coiiteinplada coin o maior ilíuiiero de poiitos ou 14,1% da oferta, eiiquaiito a pesca de<br />
liilha profissional coiifíriiiou o iiieiior índice.<br />
Tabela 21: Quadro de avaliacão de oferta de recursos dos sistemas ooi- de~naiida de atividade<br />
U5<br />
U6<br />
U7<br />
ATIVIDA<strong>DE</strong>S BÁSICAS<br />
P. de Linha Profissional<br />
Pesca de Linha Esportiva<br />
Surfe<br />
15,09<br />
15,09<br />
25,15<br />
12,27<br />
12,27<br />
12,27<br />
16,02<br />
26,38<br />
19,50<br />
UT I % TOTAL 1 10,51 7,91 7,9<br />
15,03<br />
24,64<br />
24,42<br />
20,76<br />
19,66<br />
16,21<br />
19,OO<br />
19,OO<br />
25,42<br />
10,50<br />
10,50<br />
10,50<br />
7,50<br />
7,50<br />
15,15<br />
11,81 13,21 17,11 15,81 15,8<br />
116,2<br />
135,O<br />
148,6<br />
O:J'l % ~NDICE 1 156,21 126,61 168,41 134,71 98,5( 82,51 62,71 4631 109,61 -<br />
As medições ecoiioiiiétricas do soiiiatório da coluiia de ofei-ta ein relação a todos<br />
os sistemas, coinparadas aos perceiituais de deinalida por recursos (% hidice) teve uma<br />
média de oferta pouco superior a demalida. Os itens Água Clara e Praia Aberta forma<br />
os que apreseiitaraii~ os iiiaiores íiidices de oferta, seguido de costões e praias<br />
100<br />
10,2<br />
11,8<br />
13,O<br />
-
protegidas, eiiquaiito Casco de navios afuiidados, Baiicos arenosos, Recifes e Ilhas<br />
tiveraili íiidices inferiores a deiiiaiida.<br />
Na análise da oferta o ineiior índice taiiibém ficou coiii a pesca de liidia<br />
profissioiial c0111 10,2% e espoi-tiva coiii 11,8 do total, eiiquaiito a atividade de iiiergullio<br />
Apiiéa alcançou o maior de 14,1%, seguido de iiiergullio equipado, surfe, caíque e<br />
pesca submariiia lia faixa eiitre 12 e 13% do total de oferta.<br />
Na avaliação ecoiioiiiétrica das relações do total da oferta de recursos (Tabela<br />
14), coiiipara~ido o Índice de Oferta Total por tipo de recurso (1111) à deinaiida total por<br />
atividade, observa-se que as de caíque e s~irfe obtiveram melliores índices no contexto<br />
geral; seguida da pesca de liiilia esportiva, iiiergullio apiiéa e pesca subinarina. Tai-~~béin<br />
nesta avaliação a pesca de lilha profissioiial obteve os iiieiiores íiidices, seguida de liidia<br />
lazer e iiiergullio equipado, levaiido a observações sobre fatores c01110 o caíque e a<br />
pesca de lililia serem as atividades que apreseiitain ineiiores totais de deniaiida e o<br />
iiiergullio equipado atingir o maior vol~iiiie.<br />
Tabela 22: Quadro de avaliaçiío de oferta de recursos dos sistemas por atividade<br />
ATIVIDA<strong>DE</strong>S BÁSICAS<br />
i P. de Lin;u;fissional<br />
U6 Pesca de Linha Esportiva<br />
Oferta<br />
I U1 I Mergulho Apnéa Larer<br />
I U2 I Merg. Equipado Recreativc<br />
I U3 I<br />
I U4 I<br />
Pesca Submarina<br />
Pesca de Linha Lazer 1 140,2 1 17.53 1 21 1 2' 1 7" 1 83,48 1<br />
CaiquelWindsurfe<br />
OUT TOTAL<br />
IOT<br />
( 1<br />
As dispoiiibilidades observadas i10 Quadro da Ofei-ta por Conzpartinzentos e<br />
FRENTES (Tabela 23) iiidicaiii que os recursos Bancos, Cascos e Ilhas são mais<br />
escassos e i10 caso das atividades de pesca de lidia estão entre os índices de maior<br />
deiiiaiida. No caso do iiiergullio recreativo equipado tein taiiibém os casco de iiaiifi-ágios<br />
eiitre as maiores deiiiaiidas, seguido de ilhas e baiicos.<br />
Deml<br />
Ativ<br />
Comparaiido-se as medições de expectativas por recurso a partir dos totais de<br />
deiiiaiida por atividade (Tabela 20) coiii os resultados da tabela 14, obtendo-se níveis<br />
de coi-respoiidêiicia, e coiiipoiido a seqiiêiicia de íiidices de demanda por atividade, com<br />
' D<br />
"<br />
I0 T/D T<br />
%<br />
íiidices em relação a cada tipo de recurso (llli), mediiido-se o retoi-iio em relação a cada<br />
iisuário. Para a atividade de caíqi~e o resultado foi coiiipatível coiii o iiieiior total de Z D<br />
e o Siii-fe q~~iiito iilaior, no retorno foi seg~iiido beneficiado. No caso da pesca de lilha
esportiva o posicionaineiito foi regular coin o ateiidimeilto da expectativa, eiquailto a<br />
pesca de lililia profissioiial mais uma vez coiifiimou ineiior íiidice 80,72 tendo nessa<br />
avaliação um ateiidimeilto superior as expectativas que a de linha e lazer, que deinaiidou<br />
iiíveis mais altos para iiiais tipos de reclusos. Os usos de apiiéa, inergull-io recreativo e<br />
pesca si~bmariiia tiveram inédias superiores coi-respoiideiltes ao nível de oferta de<br />
costões e f~mdos rocliosos, iiiferiores someiite a pesca de lililia esportiva que tem altos<br />
índices de demanda de praias abertas, o coi-respoi~deildo a 56,4 % da liiiha de costa de<br />
toda Região Sudeste.<br />
Tabela 23: Quadro MATRIZ- B de avaliação da oferta de recursos nos coriipartiinentos<br />
Oferta de Recurso<br />
FRENTE SUL<br />
FRENTE SU<strong>DE</strong>STE<br />
Cp Cabo Frio-B~ízios<br />
FRENTE LESTE<br />
Cp. S. Toiiié Itnbnp.<br />
TOTAL FRENTES<br />
TOTAL FRENTES<br />
Avaliações complementares desses resultados podem ser aiialisadas no quadro<br />
da Tabela 24, que iiiclui fatores de oferta e demanda tendo por base os totais da Oferta<br />
de Recursos, obtidos do soinatório das coluiias de recursos por usuário que resultou na<br />
Matriz C. A partir desses totais de deinaida em relação a oferta de cada sistema,<br />
calcula-se os íiidices em relação a eles (1Im) e aos tipos de recursos (lll-i), para que<br />
possa111 ser coinparados aos iiíveis totais deteimiilados de Demanda e Oferta.<br />
No quadro pode-se coilstatar que a ofei-ta de reciii-sos que iiiais atendeu a<br />
demanda foi a dispoilibilidade de águas claras, seguido dos costões, recifes e praias<br />
abertas e ilhas, o que coi-respoiide a maior abuildâilcia desses recursos na região. Na<br />
análise das relações entre a Demanda Total e Ofei-ta Total, observa-se que para esses<br />
recursos abundantes as relações variam coiisideravelineiite. No caso de Água Clara a<br />
deinalida representa 61,54 % da ofei-ta, 110 do Costão 90%, iio de Praia Aberta a inaior<br />
diferença com 60% do total ofertado. Os Fundo Rocl-ioso (recifes e lajes) apesar do 3'<br />
total de pontos, a demailda foi superior a oferta coin 144,4 %, assiix como Bancos c0111<br />
150% e Cascos de ilaiifiágios com 200%. Esses ilíiineros evideiiciain que na região a
deiilailda por navios af~~ildados, bailcos, barrancos, recifes e lajes se apreseiita bem<br />
superior a oferta, que podei11 iilfliieiiciai- i10 deseiivolviiiieiito da pesca e do mergullio.<br />
Tabela 24: Quadro de avaliação de oferta de recursos dos sistemas por atividade<br />
ATIVIDA<strong>DE</strong>S BÁSICAS Aglrn<br />
Pr.<br />
Piotcg.<br />
P,:<br />
Aberfn<br />
Costfio Ilha<br />
Fr''ldo<br />
Roclros<br />
Bnrico casco<br />
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8<br />
IC Oferta & Dem. 1 Recurso 1 187,281 114,631 151,641 181,621 148,611 161,681 112,951 84,601 ll43,01<br />
índice Recurso(l/h)<br />
Demanda Total (DT)<br />
Oferta Total (OT)<br />
Oferta Espacial (OE)<br />
23'4.1<br />
16<br />
26<br />
144<br />
14,33<br />
IWDT % 146,31 119,41 158,OO 126,ll 92,50 77,73 58,83 44,04 94,OO<br />
Para essa análise optou-se por avaliação em dois iiíveis, os coiii valor maior ou<br />
igual a 100 % para os índices de recursos (1111) e > ou = 50 % para os índices de<br />
localização (lliii), e OS coiii valores iiiferiores, serviiido coiiio refereiicial de<br />
coiiiparação de oferta e deinaiida. Neste caso, o gsupo dos recursos coiii iiiaiores índices<br />
forain os de ineiior inédia de deiliaiida, eiii seqiiêiicia difereiiciada de T, 0,~ coin o iiiaior<br />
eiii praia aberta, seg~iido de água clara, costão e praia protegida.<br />
Os f~mdos rochosos de recifes e lajes, coiii a 3\0iltuação na C 0,D teve índices<br />
inferiores, superado pelo recurso Ilha situado entre os iiíveis inais baixos de oferta, c0111<br />
o 6" índice. Coilfirmaildo observações aiiteriores, os índices iiiais abaixo da média<br />
forain os recursos Banco 58,83% e Casco 44,04%, aléiii de F~mdo Rochoso coiii íiidice<br />
pouco maior de 77,73 mas que não chega a metade do iiiaior íiidice Praia aberta coiii<br />
158 %. Na aplicação prktica desses resultados se toma iiecesskrio pesquisas mais<br />
aprof~liidadas sobre as condições de coiitorno da foiinação desses f~liidos avaliados,<br />
priiicipaliiieiite lia verificação de fbiidos rochosos, recifes, lajes e seus siinilares os<br />
baiicos e barrailcos de difícil avaliação através dos equipaineiitos coiiveixioiiais de<br />
soiidas e ecobatíinetros. O~~tros fatores como distâiicia da orla, prof~~iididades e locais<br />
de eiiibarque taiiibém deveiii ser coiisiderados lios plaiios de inaiiejo.<br />
12<br />
15<br />
38<br />
18,96<br />
12<br />
20<br />
128<br />
22,70<br />
18<br />
20<br />
62<br />
18,50<br />
20<br />
15<br />
33<br />
20,21<br />
26<br />
18<br />
oferta<br />
Total<br />
Por se tratarei11 dos recursos com maior deinaiida e eiii cresciineiito (o dobro da<br />
demanda de praias abertas e protegidas) as perspectivas de ateiidiineiito da demanda<br />
implicam lia expaiisão desses recursos coiii a iiistalação de recifes ai?ificiais ou<br />
reciclagem de estruturas para essa fiiialidade coino iiavios e platafoimas desativadas,<br />
53<br />
14,12<br />
24<br />
16<br />
26<br />
10,57<br />
24<br />
12<br />
19<br />
142,88<br />
152<br />
142<br />
357
nesses espaços submersos ao longo das praias. Analisaiido o quadro de diiiieiisões de<br />
recursos (Tabela 25) pode-se verificar que soineiite o Conzpartinzento Cabo Frio - Cabo<br />
Bzízios dispõe de exteiisões de costão, ilhas e recifes superiores às de praias, enquanto<br />
i10 Cor~~partil~~ento<br />
Cc~úit~nas - SEo Torné e SEo Tonzé -<br />
Itnbapunna são iiiexisteiites ou<br />
escassos. Essas medições sugerem que as faixas de praia podem ser inellior utilizadas,<br />
buscando-se alteinativas de aproveitaiiieilto do potencial natusal, que iiiiplicaria na<br />
tiaiisfoi~iiação de &seas desérticas, ein zoiias de propagação e pesca na foi-iiia de<br />
fazendas iiiariiilias, ateiideiido a deiiiaiida de susteiitabilidade das atividades e<br />
priiicipaliileiite a pesca de linha profissioiial.<br />
Tabela 25: Quadro de Dimeiisões dos Recursos Característicos das Frentes - Oferta Locacional<br />
FRENTES (Millins Mnrítiiiins)<br />
Cnrflcterísticns~ilteizsões<br />
FXENTESUL<br />
FRENTE 8 U<strong>DE</strong>STE<br />
tíg,,,,<br />
Clnrns *<br />
E~:\leiisOes Prnrns<br />
Pioteg<br />
1<br />
Aberta<br />
O1.1n Rochosri<br />
8 5 8 7 7 9 6 2 7<br />
Cp Cabo Frio-CÕ B~izios<br />
Cp. Rnsn - 1I4ncné 20 2 8 23 77 22<br />
Cp. Cnbimns - Stio Tonzé<br />
FREIVTELESTE rn -<br />
I-I*I<br />
C,. Stio Tom& - ItaÕapnnn 1 1 I -<br />
TO TAIS<br />
38<br />
34<br />
31<br />
3 1<br />
128<br />
5<br />
5<br />
62<br />
- 1<br />
1<br />
i 53<br />
3<br />
3<br />
26<br />
1<br />
19<br />
46<br />
41<br />
41<br />
357<br />
13<br />
11<br />
11<br />
0 0<br />
I % I;I.entes/Fu ndo )( 40,3 11 16,7 1 56,4 1 26,91 100 1 55,6 1 25,9 1 18,s 1 100 1 I<br />
" ,&rrn Clnrn nredidn erii ririllrns de lirtltn de costa corrio iliistrnç(lo de ZOII~S de ocorrê~~cin, serido ~rn fierife Srrl e Corrip. Cb.<br />
Frio - Cb. Brízios corir vnlor fotnl dn estensiío, Corrrp. Rnsn - Mncné % e n partir de Crrbiirrins - ~Wncné o vnfoi. de 1/10. Os<br />
percerrtirnis siio erii relaçiio n exterrsiio (ln liriltn de costa (261 ririllins) e no fotnl de Frentes e qrrndrícaln de Frrrrdo (357 niillins)<br />
Eiii se coilsiderando que água clara é ~iin fator f~mdaineiital para as atividades de<br />
mergullio e de pouca iiiiportâiicia lias modalidades de pesca de liiilia, sitiiações de<br />
coiiflito e competitividade poderiaiii ser miiiimizadas com planos de maiiejo de iiiúltiplo<br />
uso defiiiido para cada sistei-iia. As zoiias da Frente Sul e Frente Sudeste (1) coili o<br />
maior poteiicial de águas claras seriaiii direcioiiadas para as atividades de inergullio, e as<br />
Frentes Sudeste (2) e Leste plaiiej adas para pesca de lililia.<br />
6 1<br />
Costõcs<br />
Relevo Slrbriiririno<br />
Totciis<br />
Os estudos de diiiieiisioiiaineiito sugereiii que lia elaboração e iiiiplaiitação de<br />
sistemas de iiiúltiplo uso do espaço oceâiiico para produção e serviços, os recursos de<br />
relevo subiiiariilo devem sei. priorizados, observaiido-se outras liiiiitações iiat~~rais e de<br />
Illins<br />
Recife<br />
Banco<br />
iiifia-estsiitura que iiiflueiiciain i10 melhor desenipeidio de cada atividade.<br />
Casco<br />
D<br />
Fninlxn<br />
%
5.1. Aplicação de Metodologia de Constsiação de Sistemas Integrados<br />
A construção de sistemas integrados de múltiplo uso, para possibilitar a<br />
disponibilização de recursos naturais em níveis sustentáveis, depende de avaliações e<br />
medições de potencialidades dos sistemas naturais. Na Região Sudeste foram<br />
observadas orientações básicas de planejamento e gestão (-GREAVES, ESTEFEN<br />
1999"), identificando-se três zonas principais na faixa costeira e oceânica. As propostas<br />
de planejamento e gestão voltadas à construção de sistemas aquáticos ainda dependem<br />
de informações mais precisas e detalhadas para serem elaboradas de forma diferenciada,<br />
visando o uso de recursos biológicos do espaço oceânico. O gerenciamento compõe<br />
rotinas de avaliação do conhecimento (Figura 14) sobre cada espaço de recursos,<br />
definindo a base de zonas homogêneas. Estabelecendo-se assim os principais fatores de<br />
múltiplo uso e formas de organização do espaço oceânico e do plano de manejo de<br />
habitats.<br />
Formulações simplificadas de utilidade pública poderiam ser incorporadas aos<br />
programas e planos governamentais, cuja expectativa foi observada no Capítulo I, em<br />
relação a demanda por resoluções mais objetivas e concordância com deliberações<br />
conjuntas no âmbito internacional. Foram elaboradas considerando a definiqão de ireas<br />
homogêneas de recursos em zonas delimitadas de gestão diferenciada para múltiplo uso,<br />
com o emprego de formas de gerenciamento voltadas a estabilidade de produção,<br />
matrizes de avaliação e metodologia de medição, comrorme apresentado no Capítulo IV.<br />
No zoneamento da Região Sudeste foram estabelecidos parâmetros de medição<br />
de recursos naturais, formando-se os compartimentos e sistemas das frentes sul, sudeste<br />
e Leste. Constatou-se pouco volume de informações disponíveis e as que puderam dar<br />
mais consistência a pesquisa de tese foram provenientes dos processos de levantamento,<br />
inspeção e reparos da indírstria de petróleo. Os mais recentes estudos de impacto<br />
ambienta1 das novas empresas entrando no mercado não têm sustentação de dados sobre<br />
o potencial biológico desses blocos. As reais dimensões do potencial de biomassa, em<br />
forma de peixes e cardumes, foram obtidas através da pesquisa de vídeos de<br />
acompanhament dos trabalhos nas plataformas e poços de petróleo, quando as imagens<br />
focalizavam grandes cardumes de espécies variadas com alto valor comercial.
No planejamento de construção de Sistemas Integrados (Figura 15) pode-se<br />
observar a complexidade de interações de atividades, que para serem equacionadas<br />
dependem de pesquisas interdisciplinares específicas e tecnologia mais avançada<br />
dirigida a cada terna de interesse (HARGREAVES, ESTEFEN 1999"). Pode-se admitir<br />
que a definição de cenários de fatores homogêneos se mostrou satisfató~ia, como a<br />
caracterização das frentes e compartimentos que formam a configuração espacial dos<br />
recursos. Na Frente Sul a predominZncia de águas claras e grandes extensões de praias<br />
abertas, acompanha faixas de grandes profundidades próximas da costa, em contraste<br />
com a Frente Leste de águas turvas caracteiística de estuários, e urna grande extensão de<br />
plataforma com profundidade inferior a 50 metros, estabelecendo-se parâmetros e<br />
limites naturais para cada atividade de produção e serviço.<br />
k viabilidade de organização de Planejamentos Integrados como forma de<br />
gestão a nível governamental e de representação setorial empresarial, avaliada no<br />
Capítulo I, ainda dependente de estudos e pesquisas adicionais, foi tratado de forma<br />
objetiva, acompanhando a tendência indicada pelas matrizes de compatibilidade<br />
apresentadas no Capítulo III. A falta de definição sobre o múltiplo uso do solo e espaço<br />
oceânico pode ser atribuída as dimensões nacionais e aos problemas específicos de cada<br />
área ou setor da economia, provavelmente decorrente da notória falta de conhecimentos<br />
sobre os habitats submarinos e demais fatores ambientais. No caso da Região Sudeste<br />
do Rio de Janeiro pretende-se contribuir com essa abordagem diferenciada e<br />
interdisciplinar, para verificar de forma mais abrangente e precisa, as possibilidades<br />
reais de implantaqão de sistemas sustentáveis, considerando o complexo quadro de<br />
usuários em relação aos grupos mais ativos focalizados no estudo, que interagem<br />
diretamente com os sistemas naturais.<br />
Como foi obsewado no Capítulo III, as formas matriciais de avaliação de<br />
impactos podem ser aplicadas na verificação de compatibilidade de atividades,<br />
apontando as evidências de relacionamento dificultado, como nos casos do cabo Frio,<br />
cabo Búzios, litoral de Macaé e bacia de Campos, avaliados nessa pesquisa direcionada<br />
ao mcltiplo uso de atividades integradas aos ecossistemas.<br />
A formação de Sistemas Integrados deve ser ajustada as condições naturais, no<br />
contexto da proposta de ocupação a partir do corihecimento de seus recursos,<br />
somponenies naturais e estruturais de projeto. Na aplicação do Modelo COSENZA<br />
identificou-se um nível de demanda elevado em relação a disponibilidade de forinações<br />
submarinas, indicando a necessidade de projetos direcionados a expansão de novos
habitats em áreas propícias as formas de múltiplo uso, mas principalmente voltado a<br />
pesca de linha profissional artesanal e outras geradoras de prod~itos e serviços durante<br />
todo ano.<br />
5.2. Composiçiic! de Sistemas Integrados e Vocações de Uso<br />
Seguindo a metodologia proposta (Figura 15) os componentes de planejamento<br />
de sistemas consideram três conjuntos de conhecimentos: o de domínio espacial, o de<br />
manejo e gestão, e o dos sistemas de produção e serviços. As formas de zoneamento a<br />
partir das medições localizadas possibilitaram o equacionamento da oferta e demanda,<br />
dividindo os sistemas naturais em áreas com características homogêneas. A divisão<br />
espacial da disponibilidade de recursos definidos segundo níveis de demanda, serve<br />
para formatação de planejamento básico de manejo, visando a adequação de potencial<br />
de recursos em demanda no litoral submei-so de cada sistema. Nos sistemas costeiros a<br />
avaliação dos recursos se procedeu com a aplicação de modelo locacional de fatores de<br />
oferta e demanda, que definiu o potencial econômico ambiental das fsenies com seus<br />
compartimentos e sistemas.<br />
A formatação de sistemas integrados passa por processos diferenciados de<br />
avaliac,ão dependendo da localização. O enfoque trldimensiona! condiciona a visão de<br />
profiindidade com o seu campo de domínio, restringindo áreas em zonas mais rasas e se<br />
expandindo com o aumento da profundidade. Os espaços, apesar das restrições de<br />
informações no formato proposto do Capítulo m, podem ter a superficie monitorada<br />
com imagens de satélites, um importante inst~umento de amliação ambiental e de<br />
impactos, com aplicação comercial se trabalhadas adequadamente e com regularidade.<br />
Durante a pesquisa dos mapas de temperatura (Figura 35) em diferentes estações,<br />
verificou-se correspondência de temperaturas ideais com os locais onde houve captura<br />
de peixes de bico (Figura 50) em diferentes datas de eventos, indicando possibi!idades<br />
de correspond&xia e viabilidade de distribuição em redes de informação.<br />
A composição do espaço submarino precisa ser melhor estudada para contomar<br />
as dificuldades de processamento de imagens, associando-se as de satélite com as do<br />
contomo do solo submarino e a ocorrência de espécies, compondo cenários com as<br />
informações dispostas nas Fig~iras 40, 37 e 50, A organização da informação neste<br />
formato facilita a interpretação integrada das condições de água sobre determinada área
da plataforma, onde ocorrem espécies de interesse do usuário e outras atividades<br />
exclusivas.<br />
.=.L.. -4 .... +
A Frente Sul se caracteriza pela longa extensão de praias abertas, que apesar da<br />
predominância de águas claras a maior parte do ano não oferece atrativos de relevo<br />
s~ibmarino na sua maior parte e os costões rochosos se situam nos limites entre os<br />
sistemas, o que poderia ser denominado de áreas de transição dos sistemas. Observa-se<br />
na Tabela 26 da oferta de recursos que os índices de ocorrência de quadrículas com<br />
recurso se restringe a uma ou duas por recurso. São os maiores índices de demanda e<br />
incluem os do relevo szobnzmino: com 26 pontos dos recves e 24 dos bamos e cascos,<br />
enquanto o recurso praia aberta chegou ao total de 12 pontos (Tabela 20).<br />
Tabela 26: Oferta de i-mursos nil Frente Sul (em milhas mal-ítimas)<br />
Sistema Saqi~arema 10 1 -<br />
Sistema Itauiia 12 1 2 1 1<br />
Sistema Massambaba 1 15 1 1 1 1 2<br />
Sistemas com relativa distribuição de recursos como o de Itacoatiara, ou de<br />
itaipuaçu com menos atrativos, onde as praias são hostis sem condições de<br />
balneabilidade, tendem a restringir um maior volume de atividades. As condiqões de.<br />
surfe podem ou não serem propícias, enquanto a pesca de linha de lazer pode encontrar<br />
ambiente propício, porém em condições de pouca produtividade.<br />
Entre os aspectos mais relevantes na observação desses dois sistemas foi a<br />
identificação de trechos de orla que foram destruidos durante as ressacas. Na última<br />
década a altura do mar e das ondas foi durante alguns anos superior às médias<br />
destruindo avenidas litorâneas, estacionamentos e calçamentos nas orlas de praias, como<br />
em Piratininga e Itaipuap, e mais recente em Saquarema e Maricá onde também<br />
residências foram destruídas. Nessas praias sem planos adequados de manejo, os custos<br />
da destruição do patrimônio público e privado provavelmente são superiores a<br />
intervenções de obras de recuperaqão e proteção com recifes artificiais, como vem<br />
sendo feito em outros países. A instalação de estruturas devem ser estudadas buscando a<br />
proteção e outros benefícios, com atrativos para pesca, mergulho e prática do surfe.
O sistema Saquarema com poucos recursos, apresenta faixa pouco mais larga com<br />
profundidade menor que 10 metros até as lajes do sistema Itauna, quando encontra sua<br />
faixa mais estreita ao longo da praia da Ivíassambaba. Ao longo dessa faixa se<br />
encontram as águas mais claras e as condições de mar mais hostis, necessitando também<br />
de intervenções que favoreçam a saída de embarcações de pesca artesanal, a<br />
balneabilidade, o mergulho, surfe e outras atividades.<br />
Considerando-se os parâmetros de planejamento e gestão, inicialmente se deve<br />
salientar a ausência de locais de atracação numa vasta extensão da Frente Sul, no espaço<br />
entre os diversos locais disponíveis na baia da Guanabara e a marina dos pescadores<br />
adjacente ao porto do Fomo em Arraial do Cabo. Nesse percurso somente o entorno da<br />
Ponta Negra e o canal de Saquareina apresentam condições preliminares de avaliação<br />
para atracação. No âmbito do planejamento, as relagões de distância na divisão de zonas<br />
deve considerar duas alternativas de aproximação para aproveitamento do recurso,<br />
através do acesso pela orla ou pelo mar com embarcação.<br />
Neste caso, a falta de locais de atracação e saida de canoas, assim como mais<br />
propícios em praias abertas para o surfe ou lazer, devem ser niveladas com outras<br />
prioridades, visando o atendimento do maior n&nero de beneficiados ao longo da orla,<br />
proporcionando mais balneabilidade e locais de atracação.<br />
A alternativa de constmção de recifes artificiais paralelos a praia deve ser<br />
pesquisada devido a sua menor interferência no transporte litorâneo, visando a sua<br />
aplicação na proteção de ondas, criando na sombra das estruturas condições de<br />
balneabilidade e saída de pequenas embarcações de pesca artesanai e lazer. Em suas<br />
outras hnções esses recifes de proteção podem ser projetados com eficiência para<br />
aumentar a piscosidade da área e beneficiar a formação de ondas adequadas a prática<br />
do surfe, inclusive em competições internacionais, devido a qualidade reconhecida das<br />
ondas na região.<br />
As avaliações preliminares de medição dos sistemas da Frente Sul indicaram as<br />
principais deficiências dos sistemas, que podem ser beneficiados com estruturas de<br />
recifes artificiais, formando sistemas integrados com mais recursos e propensão a<br />
sustentabilidade, atendendo um maior número de usuários.<br />
Para se atender essas necessidades básicas sugere-se intervenções com projetos<br />
pilotos localizados de instalações de recifes de proteção, com a composição de módulos<br />
unithrios ou grupos na escala de 50 e 100 m de extensão e largura variável, como<br />
indicado abaixo:
Obras de proteção e recuperação da orla das praias de Piratininga no Sistema<br />
Itacoatiara<br />
de Itaipuaçu, Maricá no Sistema Itaipuaçu,<br />
Obras de proteção e recuperação da orla da praia de Saquarema e Construgão de<br />
área de atracação e Eundeio no canal da lagoa de Saquarema,<br />
Construção de recifes quebra-mar de proteção instalados paralelo a praia, visando<br />
mais dias no ano com saída de embarcações, balneabilidade, pesca, mergulho e<br />
prática de surfe, nas seguintes áreas:<br />
- Praia de Maricá na faixa de menor profundidade entre Itaipuaçu e a ilhas de<br />
Maricá; e na faixa mais larga de 10 metros de fundo entre as ilhas e a ponta<br />
Negra.<br />
- Praia de Saquarema na área central da praia.<br />
- Praia da Massambaba, em três áreas de praia adjacentes aos bairros de Praia<br />
Seca no município de Araruama, Figueira e Monte Alto no de Arraial do Cabo.<br />
Devido a disponibilidade de águas claras o potencial de mergtlho deve ser ampliado<br />
com recursos de mais demanda, como cascos de navio e outras grandes estruturas<br />
desativadas.<br />
A maior dificuldade de levantamento de preço de serviços para avaliação de custos<br />
está relacionada a falia de conhecimento e experiência nesse tipo de empreendimento,<br />
com a maioria das empresas voltadas a indústria do petróleo. Os estudos e projetos que<br />
precedem essas obras varia de R$ 200 a 500 mil e o preço da chata de transporte com<br />
guindaste puxada por rebocador numa empreitada mensal para instalação de recifes está<br />
em torno de R$ 500.000,00, o restante deve ser calculado em função do volume de<br />
estruturas e distância dos canteiros de obra. No caso de Saquarema a obra do quebra<br />
mar foi orçada em R$ 4.000.000,00 pela prefeitura, sendo interrompida devido ao<br />
impacto das ondas sobre o molhe de pedras.<br />
A Frente Sudeste apresenta no Quadro (2) da oferta características distintas em seus<br />
compartimentos, com particularidades mais acentuadas entre os recursos ofertados no<br />
sistema de Cabo Frio que congrega o maior voiume de recursos de maior demanda, com<br />
linha de costão rochoso maior que a de praia, a16m de ilhas e formações do relevo<br />
submarino. Devido ao grande acúmulo de usuários nesse sistema, novas áreas devem<br />
ser abertas para evitar concentrações nos principais atrativos de uso regulamentado.
Casco de navio foi o item de menor relação de oferta e demanda em todos os sistemas, a<br />
melhor siigestão de enriquecimento e atrativo diferenciado, de custo viável em seus<br />
aspectos de oportunidade na obtenção da sucata da estmtura de aço.<br />
Tabela 27: Oferta de recursos na Frente Sudeste (em milkas marítimi~~)<br />
Sistema Rio das Ostras<br />
A partir do sistema Búzios aparece outro cenário, em formato de enseada<br />
denominada Rasa, que indica sua prohndidade média de águas calmas e mais turvas.<br />
Essas características associadas a fertilidade de nutrientes provenientes do rio São João<br />
até o outro extremo de rio das Ostras, tornam toda zona de embaiamento propícia a<br />
diferentes métodos de produção em fazendas marinhas. O sistema São João é o único<br />
que apresenta visibilidade de implantaçiio de métodos extensivos e semi-intensivos de<br />
maricultura, devido a essas características estuarinas próximas a mar aberto, que é<br />
reconhecida por pescadores locais através de seus métodos rudimentares de cultivo. São<br />
aproximadamente 25 IWd de fundos arenosos e rochosos com bancos, costões de ilhas<br />
e cascos, formando um cenário propício para implantação de sistemas integrados de<br />
fazendas marinhas, com possibilidades de escala industrial.<br />
Os custos de projeto de levantamento da área para implantação de sistemas<br />
piloto integrados de fazenda marinha podem ser avaliados entre R$ 1.500.000,OO e R$<br />
5.000.000,OO incl~iindo águas mais nindas e considerando a pouca disponibilidade de<br />
informar,ão e o custo de um módulo de recife de pequeno e médio porte variando entre<br />
R$ 50,OO e R$200,00.<br />
No sistema de Rio das Ostras a linha de costa volta a se projetar em direção ao<br />
mar. k partir do sistema Santana começa longa fieni-e de praia aberta e isolada com<br />
áreas inabitadas e reservas biológicas, ao longo de cerca de 34 milhas de areia. -A falta
de registros de ocorrência de recursos deve ser mencionada, considerando a dificuldade<br />
de acesso aos diversos pontos da costa que possibilitaria levantamento mais adequado,<br />
notoriamente no sistema Quissamã. O compartimento também demanda infiaestrutura<br />
de atracação. Os espigões da barra do Furado são exemplo que as construções de<br />
quebra-mar perpendiculares a praia são inefícientes, interferem no transporte de areia e<br />
devem dar lugar ao estudo de outras alternativas, como os recifes paralelos a praia que<br />
ao menos poderiam permitir o acesso de pequenas embarcações em mais oportunidades<br />
de trabalho e balneabilidade durante o ano.<br />
Tabela 28: Oferta de recursos na Frente Sudeste 2 (em milhas marítimas)<br />
O custo de implantação de recifes de proteção em cada sistema nessas áreas mais<br />
distante tendem a ser mais elevados e devem ser considerados os aspectos sociais e<br />
econ6micos, de interesse e importância estratégica para pesca e navegação, como da<br />
barra do Furado ou a praia de Atafona. O mergulho nesta área começa a ser limitado a<br />
poucos dias durante o ano, exclusividade natural favorecendo a pesca de linha artesana1<br />
de pequena escala, beneficiada também pela extensa plataforma de pouca profundidade<br />
que pode ser enriquecida com módulos de recife especialmente desenvolvidos para<br />
essas condições. Neste caso, devido as dificuldades de instalação e condições<br />
diferenciadas de pouca visibilidade, o custo unitário pode variar de R$ 100,OO a 500,OO<br />
dependendo das relações de dimensões por profundidade e seus objetivos específicos.<br />
A Frente Leste (Quadro 4) mais pobre em formações do relevo submarino, sem<br />
praia protegida nem ilhas, costões ou água clara, apresenta como vantagem a grande<br />
planície de águas rasas propícia para propagação de espécies de moluscos, crustáceos e<br />
peixes, beneficiando diretamente a pesca a~ezanal de linha mais seletiva e com maior<br />
capacidade de geração de emprego em curto e médio prazo após a instalação. A<br />
produtividade observada em experimentos anteriores de recifes artificiais nesse<br />
compartimento (ZANON et al. 1999) e a grande extensão da área sugere três projetos<br />
pilotos em escala de dimensões médias como a construção de 10.000 estruturas vazadas
de 27 a 125 mQe volume, proporcionais a faixa de 20 m de profundidade próximas da<br />
costa. As condições limitadas de água clara, restringindo as operações de instalação e<br />
inspeção, a programação de levantamento e inspeção de instalar,ão devem observar os<br />
períodos de estação com maior visibilidade.<br />
O potencial dos recifes artificiais de proteção e propagação próximos da costa<br />
também deve ser verificado para múltiplo uso, incluindo no projeto a formação de ondas<br />
propícias para prática do surfe, projetando a zona de arrebentação distante da costa. A<br />
instaiação de estruturas nessa faixa mais afastada e menos ocupada, pode se tornar um<br />
atrativo para a população local e turístico, agregando outras fontes de renda e atividades<br />
complementares.<br />
Tabela 29: Ofertia de recursos na Frente Leste (em milhas niai=ítimas)<br />
FRENTE LESTE<br />
Conip. &7o Tomé - Itabnpr~iia<br />
Sistema Paraíba do SKI<br />
Sistema Itabapoana<br />
Programas específicos de maricultura podem ser desenvolvido em diferentes<br />
modalidades, com maricultura semi-intensiva para cultivo de moluscos até 5 m de<br />
profundidade, com investimentos na ordem de R$ 1.000.000,00 considerando projetos<br />
sustentáveis de médio e longo prazo; fazendas marinhas abertas de recifes modulares de<br />
concreto até 10 m de profundidade para grandes áreas de pesca; e os recifes de<br />
profundidade na faixa dos 20 m podendo empregar outros materiais, como sucata e<br />
equipamentos desativados da produção de petróleo, dentro do orçamento acima previsto<br />
na ordem de R$5.000.000,00.<br />
Os totais de investimentos de capital por tipo de intervenção em infi-aestmtura de<br />
proteção e indução de biomassa são indicados na Tabela 10. Os valores foram<br />
dimensionados considerando diferentes possibilidades de aplicação no caso do item<br />
Atracação, e incluindo cascos de navios e fazendas abertas de recifes artificiais no item<br />
Fazenda. Os valores atribuídos aos Recifes de Proteção 1 e 2 se referem a valores<br />
mínimos e máximos, para construção em áreas adjacentes a faixa de marés,<br />
beneficiando a balneabilidade, as condições de pesca e surfe.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
31<br />
3 1<br />
25<br />
6<br />
5<br />
5<br />
-<br />
5<br />
- 1<br />
1<br />
1<br />
3<br />
3<br />
1<br />
2<br />
1<br />
1<br />
1
Ti~bda 30: Totais de Investimentos em infraestilitura de múltipio uso<br />
I FRENTES ~ote~r(o2I Atrac@o / Fazei~rEn I Totais 1<br />
Comp. Pirdri~i~rga-S~~zia~mfra<br />
Sistema Itacoatiara 2.000 3.000 1.000 1.000 9.000<br />
Sistema Itaipuaçii<br />
Sistema Ponta Negra<br />
Coifzp. ilfmsambnbn<br />
Sistema Saquarema<br />
Sistema Itaiina<br />
Sistema Massambaba<br />
Cmu. Cb. Frio - Cb. BrIzios<br />
2.000<br />
3.000<br />
2.000<br />
2,000<br />
4.000<br />
3.000<br />
5.000<br />
4.000<br />
3.000<br />
6.000<br />
1.500<br />
6.000<br />
4.000<br />
1 Sistema Cabo Frio 1 2.000 1 4.000 1 1.500 1 3.000 1 10.500 1<br />
Sistema Sãohão 1 2.000 1 4.000 1 1.000<br />
Sistema Rio das Ostras 1.000 1.500 1 1.000<br />
Sistema Santana 5.000 10.000 1 2.500<br />
Sistema Qiiissamã 3.000 6.000<br />
Sistema Sáo Tomé 3.500 8.000 2.500<br />
Comp. S. Tord - Xtabaponítn<br />
Siste~a Psraíùa do Sul<br />
5.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
1.000<br />
2.000<br />
1.000<br />
3.000<br />
7.500<br />
15.000<br />
As estruturas no Japão tem prazo de depreciação de 15 a 50 anos, embora se<br />
conheça o processo de incsustações que envolvem os módulos que se transformam em<br />
resifes naturais com prazo de estabilidade indeterminado, que praticamente garantem o<br />
retomo dos investime~itos pú'ulicos ou privados.<br />
10.000<br />
3.000<br />
3.000<br />
12.000<br />
6.000<br />
14.500<br />
21.000<br />
Construção de Estruturas Submarinas de Uso Regriilaraientado<br />
As estruturas de recifes artificiais, cascos de navios, sucatas de plataformas e outros<br />
substratos que sirvam para pesca e mergulho podem ser utilizadas de forma<br />
regulamentada, com programa de uso definido. A divisão dos horários de utilização de<br />
acordo com os inte~sses das partes, pode ser facilitado para determinadas atividades, .<br />
como mergulho recreativo nos finais de semana e r'eriados e a pesca de linha comercial<br />
durante os dias de semana, ou de preferência para pesca submarina em horas<br />
determinadas.
No caso das atividades de esporte, recreação, turismo e lazer, a situação do uso do<br />
mar pode ser diferenciada, e o surgimento de sistemas de autogestão municipalizada,<br />
com o quadro de usuários definindo regras com as autoridades municipais,<br />
acompanhando a evolução dos planos setoriais de gerenciamento costeiro proposto pela<br />
CW, como foi apresentado no CAPÍTULO I. Esses empreendimento podem partir da<br />
iniciativa privada, enquanto os programas de construção dos recifes de proteção e<br />
expansão das áreas de pesca, geralmente iniciativas do setor público, são financiadas<br />
por recursos municipais, estaduais, federais ou de programas específicos de proteção<br />
ambienta1 e desenvolvimento da pesca costeira.<br />
As associações de surfe e organizadores de competições consultados durante as<br />
pesquisas buscam apoio para regulamentação de direito de arena, dando exclusividade<br />
por tempo determinado aos patrocinadores de sonstrução de recifes artificiais projetados<br />
para competições.<br />
Atualmente o produto de maior demanda são os navios abandonados na baía de<br />
Guanabara, acompanhando tendência internacional como um dos principais atrativos do<br />
mergulho recreativo. Nos Estados Unidos ao longo das últimas ires décadas pelo menos<br />
uma centena de navios de diversos tamanhos e modelos foram afilndados por<br />
prefeituras, associações de pesca e operadoras de mergulho, que de alguma forma<br />
administram a utilização desses recursos e, em alguns casos, exercem o direito de<br />
exdusividade, num processo de autogestão entre esses usuários.<br />
Na Região Sudeste a iniciativa empresarial parece viável desde que se equacione os<br />
problemas de gestão de controle externo, por parte do governo municipal e de entidades<br />
representativas das diversas atividades, sobre o desenvolvimento desses novos recursos.<br />
O que implicaria em propostas de aproveitamento das áreas desprovidas de recursos<br />
naturais e por isso menos assediadas, que os locais mais disputados entre o cabo Frio e<br />
Búzios, diminuindo a intensidade de uso, facilitando o formulação de regulamentagão<br />
específica e elaboração de plano de manejo adequado sobre área pouco utilizada.<br />
No eixo Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios existem cerca de 30 operadoras de<br />
mergulho estmturadas com capacidade de expansão e possibilidades de ai-recadação<br />
para economia regional, através da aquisição de produtos e serviços, utilização de<br />
hotéis, pousadas, restaurantes e outras formas de consumo. O faturamento das<br />
operadoras pode ser avaliado considerando os preços médios de mercado, os diferentes<br />
fatores operacionais e a dependência de condições ambientais.
Durante o período de um ano ocorrem cerca de 100 dias ou 50 finais de semana e<br />
feriados prolongados, dos quais 20 % podem ser descartados por condições adversas,<br />
restringindo o potencial real a 80 dias ou 40 finais de semana. As operadoras fornecem<br />
dois produtos essenciais, os cursos de especialização e as saídas de mergulho para locais<br />
programados.<br />
A prática de surfe continua a crescer ao longo do litoral brasileiro, com um extenso<br />
calendirio de eventos nacionais e internacionais incluindo provas do circuito mundial,<br />
quando o volume de investimentos e prêmios podem chegar a faixa de R$ 1.000.000,OO<br />
por competição. A atividade talvez seja a segunda mais popular entre os jovens<br />
residentes na faixa litorânea, com diferentes produtos e serviços, incluindo tipos de<br />
pranchas, acessórios, equipamentos, vestuários, cursos e viagens de turismo, girando um<br />
considerável volume de recursos e investimentos de mercado.<br />
Como foi observado, a construção de estruturas submarinas por parte do setor<br />
privado pode ser viável caso seja regulamentada a nível municipal ou estadual, com<br />
funções definidas para cada tipo de modalidade de mergulho ou surfe, que poderiam<br />
incluir direito de arena para os patrocinadores de competições esportivas e dias<br />
definidos para cada usuário.<br />
5.3. Aplicações em Planos de Governo e Projetos Iristitucioniris<br />
5.3.1. Organização de Sistemas Integrados de Produção e Serviços<br />
Nos mares e regiões costeiras problemas e questões similares são encontrados,<br />
com as mesmas caraterísticas gerais em diferentes escalas e efeitos. No modelo<br />
organizacional (Figura 14) observou-se o questionamento da ocupação dos mares como<br />
estratégia nacional e o potencial de desenvolvimento em escala regional. Em<br />
decorrência de problemas de competição e incompatibilidade de atividades, verificou-se<br />
que a viabilidade do múltiplo uso depende da organização de redes de especialistas<br />
formando comissões e grupos de trabalho. Esforços neste sentido poderiam ser<br />
direcionados a formação de um centro de excelência em bioprodução e pesca, onde se<br />
possa concentrar o conhecimento de instituições e pesquisadores interessados no<br />
desenvolvimento e aplicação de novas técnicas. No estágio atual de conhecimento,<br />
inicialmente se torna necessário o equacionamento de problemas crônicos, como a<br />
degradação da faixa costeira e atividades predatórias incluindo algumas modalidades de<br />
pesca.
No caso brasileiro a utilização sustentivel dos mares deve ser analisada de forma<br />
mais abrangente como ocorreu no Japão, França e outros países, visando além da<br />
produtividade pesqueira e da base de recursos de miíltiplo uso, a preservação do<br />
patrimônio natural, cultural e da cadeia de conhecimentos. Como foi mencionado no<br />
Capítulo II e anexos, no Brasil faltou o acompanhamento do desenvolvimento<br />
tecnológico mundial no campo de pesquisa submarina e de gerenciamento, manejo e<br />
planejamento da bioprodução, enquanto na industria do petróleo oceânica destacou-se<br />
no cenário internacional pelo alio nível tecnológico.<br />
Como foi observado no Capítulo III (item 3.4.) os processos de utilização de<br />
corpos aquáticos nas três últimas décadas, provocou a conscientização popular sobre<br />
falhas operacionais em sistemas de produção industrial, que provocaram acidentes<br />
ambientais de diferentes proporções na Região Sudeste. A condição é agravada pela<br />
falta de contrapartida de secursos utilizados para resolver os problemas crônicos de<br />
tratamento de dejetos residenciais ou industriais, de infra-estrutura urbana e sistema<br />
habitacional, gerado mais loteamentos e construções irregulares. O processo de<br />
favelização vem ocorrendo em grande parte da restinga, nos manguezais de Rio das<br />
Ostras e áreas ao norte das frentes sudeste e leste.<br />
Ainda no Capítulo m, com referência na Figura 16 foi representado o conceito<br />
geral das relações de impacto ambiental de dois grupos de atividade, os potencia!mente<br />
degradadores e os que interagem com o meio ambiente. A nível de gestão institucional,<br />
para as avaliações da interação dessas atividades, três grupos temáticos forma definidos,<br />
e aqui são avaliados quanto sua aplicação na Região Sudeste.<br />
No Cnrpo 1 de Regulamentação e Infra-estrutura, os estudos visam a avaliação<br />
do grau de interferência das atividades na capacidade regenerativa e de crescimento da<br />
biomassa de consumo. A sustentabilidade do múltiplo uso complexo como o da Região<br />
Sudeste resulta de medidas regulatorias e de sistemas aparelhados de controle com<br />
infra-estrutura adequada de monitorament-o ambiental, implicando na ação integrada<br />
instituições públicas e privadas, atuando no desenvolvimento dos processos de<br />
gerenciamento, que dependem da criação de redes tecnológicas de informação<br />
regionalizadas. As funções preconizadas devem ser organizadas em programas de<br />
manejo abrangendo os recursos de cada espaço costeiro e oceânico definidos em<br />
sistemas e compartimentos, atendendo demandas pontuais num contexto regional.<br />
Esse grupo se enquadra nos processos e métodos de controle, amparados por<br />
regulamenta~ão adequada a cada sistema diferenciado e para zonas de concentração de
atividades diversifícadas em tomo de centros urbanos costeiros, onde as ações e<br />
intervenções dependem mais de estudos interdisciplinares e aprofimdamento de causas e<br />
efeitos do múltiplo uso.<br />
Com referência a Figura 17 do Capítulo m, procurou-se evidenciar a<br />
importância da ação conjunta de governo e usuários, na busca do equilíbrio de<br />
atividades através da manutenção da capacidade regenerativa dos processos naturais,<br />
que dependem de administração e ações participativas, regulamentação de consenso e<br />
controle da economia ambiental.<br />
No Grupo 2 das Atividades de Grande Impacto em Recursos Naturais,<br />
evidenciou-se os efeitos dos complexos industriais e urbanos ocupando grandes espaços<br />
da faixa litorânea como na baía de Guanabara e em menor escala e efeitos em Arraial do<br />
Cabo e Macaé, expandindo-se para outros municípios, interferindo em diferentes níveis<br />
e formas de dejetos. Os processos industriais, armazenamento e canteiros de obra são<br />
desvinculados e independentes de processos bioeconômicos, restringindo seus interesses<br />
de uso dos recursos aquáticos para navegação de transporte comercial através da<br />
superficie, ou abastecimento de água para refrigeração de equipamentos, sem avaliar<br />
adequadamente as conseqüências dos efeitos sobre os recursos naturais ou estudos de<br />
projetos e obras de recuperação.<br />
O equacionamento da resolução do problema depende do conhecimento das<br />
formas como as atividades industriais podem interagir com outras dependentes da<br />
potencialidade dos recursos naturais. A foma@o de redes de conhecimento<br />
interdisciplinar são necessárias, o que demanda vontade política e inieresse de centros<br />
especializados, conhecimentos globais de interações setoiiais e institucionais, além dos<br />
estudos das relações bioeconômicas.<br />
Observou-se na metodologia que os impacto são dimensionadas de acordo com a<br />
densidade dos efeitos degenerativos e que o problema pode ser equacionado se forem<br />
observadas as possibilidade de regeneração dos sistemas naturais, e dependendo da
amplitude em contextos regionais ou localizados. Para que os sistemas integados<br />
sejam viabilizados com todos os seus componentes de múltiplo uso e de forma<br />
s~istentável, passa a ser fundamental o controle adequado das ações degradadoras, cujos<br />
indicadores de eficiência podem ser medidos pelo aumento da base de recursos,<br />
Na Figura 18 observa-se que a dimensão de inteiferência das indústrias em<br />
níveis de deterioração e contaminação são controláveis. A interferência teria menor<br />
impacto no elo final da bioinassa de consumo devido a mecanismos de controles, como<br />
a implantação de medidas de recuperação de ambientes degradados e criação de<br />
condições para manutenção de recursos paisagísticos da orla e aumento do potencial<br />
biológico de produção.<br />
Figura 18: Postulado do controle degeneerativo pril aumento da oferta de biomassa<br />
O Gi-upo 3 das Atividades Competitivas Interagindo com Sistemas Nat~~rais na<br />
Região Sudeste é o que congrega o maior grupo de atividades de uso da faixa litorânea e<br />
de maior dependência da qualidade e volume de recursos, que envolvem os fatores de<br />
produção pesqueira e dos seguimentos de turismo, esporte e lazer. Embora a indústria<br />
pesqueira, o setor náutico, e o de turístico dependerem da qualidade ambiental, vêm<br />
sendo denunciados por danos aos ecossistemas, com o método predatório de pesca com<br />
arrasto de portas ou paelha, construção de marinas em manguezais e empreendimentos<br />
hoteleiros, principalmente na Região dos Lagos no entorno do cabo Frio e complexo<br />
lagunas de Araruama, evidenciando a falta de csitérios definidos, regulamentação<br />
participativa adequada e de controle ineficiente. A matriz gerencial por princípio<br />
compreende todas essas atividades interdependentes com firnções de uso e dependentes<br />
de reservas biológicas como base de sustentação de recursos de consumo e<br />
paisagísticos, em contrapartida das zonas de ocupação e impactos de múltiplo uso. As<br />
zonas de proteção e uso interativo devem ser restritas e delimitadas para as atividades<br />
dependentes da qualidade ambiental.
Na representação da Figura 19, cada atividade tem sua avaliação de impacto<br />
determinada, cabendo ao gerenciamento participativo determinar os níveis e meios de<br />
utilizaqão dos recursos naturais, estabelecendo-se volumes de impactos específicos de<br />
cada atividade, configurando o cenário regional de impacto de todas as atividades. A<br />
partir de um quadro geral de impactos e efeitos, o processamento facilita a deteminação<br />
de índices de regeneração, através de mecanismos de medição e controle em área<br />
específica de cada sistemas e compartimentos, permitindo intervenções localizadas,<br />
contribuindo para a manutenção de nível geral de recursos proporcional a demanda do<br />
diversificado quadro de usuários da Região Sudeste.<br />
Figura 19: Relação do voliime de atividades e níveis de recursos disponíveis<br />
Como foi observado na base teórica do Capítulo 11, estudos específicos como os<br />
de pesquisa submarina e do máximo nível sustentável da pesca são determinantes do<br />
conhecimento do potencial de recursos, e esquema de infraestrutura, como o<br />
dimensionamento de entrepostos, marinas e empreendimentos hoteleiros, com<br />
metodologia apropriada ao múltiplo uso. Na situação atual, o grau de interferência de<br />
atividades turísticas, esportivas e de lazer sobre os recursos biológicos e ambientais e<br />
paisagísticos ainda são pouco conhecidos, impossibilitando avaliações sobre a<br />
capacidade regenerativa proporcional ao aumento da demanda e número de usuários. As<br />
conclmões do modelo locacional apontaram deficiencias no conhecimento do espaço<br />
oceânico em todas as atividades e recursos avaliados e dimensionados, na forma<br />
espacial qualitativa em escala marítima.<br />
A Matriz de Compatibilidade da Califórnia (Figura 20) cara~terizada como<br />
técnica de análise gráfica de inter-relação e conflitos em áreas de mílltiplo uso, é<br />
limitada em sua amplitude no espaço oceiinico, indicando a necessidade de se<br />
estabelecer parâmetros de extensão de Area de uso em firnção do potencial de usuários,<br />
que por sua vez dependem das bases de infraestmtura de apoio e plataformas de
atracação. A esses fatores são adicionados para avaliação os tipos de embarcação,<br />
facilidades de locomoção e equipamentos, determinantes do raio de ação e condições de<br />
aproveitamento dos recursos. Nas medições e avaliações apresentadas no Capítulo IV,<br />
observou-se essas questões de infraestrutura, destacando-se as restrições das condições<br />
de atracação e de tratamento da produção, confinadas a poucos locais nem sempre<br />
adequados como no caso dos locais píiblicos de desembarque de pescado identificados<br />
ao longo de toda orla da região sudeste, que também servem ao múltiplo uso.<br />
5.3.2. Conclusões e Sugestões de Planejamento e Gestão de Sistemas<br />
Atravks dos levantamentos locacionais, avaliações de dados e estatísticas<br />
disponíveis, verifica-se a marcante diferença de realidades entre a situação da falta de<br />
planejamento ambienta1 existente na região sudeste e as propostas de ocupação costeira<br />
do plano nacional japonês Marinovation (Figura 3), que indica a necessidade de se<br />
estabelecer programas de pesquisa e ações que possam atingir metas visíveis por<br />
usuários que beneficiem as condições sócio-econômicas da atividade, como as mesmas<br />
adotadas no Japão e acompanhadas pela França:<br />
o Estabilidade do volume de desembarque da pesca<br />
e Aumento da produtividade por viagem<br />
Na situação atual, não só do estado do Rio de Janeiro como em outros da<br />
federação, com grandes ossifações nos volumes de produção e no valor de venda dos<br />
produtos, o setor pesqueiro vem congregando a mão de obra menos qualificada e<br />
marginalizada no mercado de trabalho. Mesmo nas famílias de pescadores bem<br />
sucedidos o interesse dos mais preparados se volta para outras atividades. Essa situação<br />
precisa ser melhor estudada e compreendida a nível nacional. No nordeste, onde estão<br />
situadas as escolas de engenharia pesca, pode estar ocorrendo falta de empregos nessa<br />
área, enquanto no sudeste as pescarias são conduzidas por cadeias de conhecimento em<br />
sistemas familiares, que começaram a se romper comprometendo os processos de<br />
transferência de tecnologia.<br />
A atividade recente que mais se desenvolveu nas últimas duas década foi o<br />
mergulho recreativo, fundamentado em programas de formação padronizados e meios<br />
de divulgação importados dos Estados Unidos. Nesta atividade somente as pessoas
credenciadas podem ensinar ou mesmo efetuar um mergulho, enquanto na pesca não há<br />
critérios definidos.<br />
Em vista desses fatores, emergem outras questões sócio-econômicas e a<br />
necessidade de regulamentação adequada incluída em planos de gerenciamento<br />
costeiros, atendendo requisitos que garantam a sustentabilidade de uso dos recursos e<br />
sustentação e desenvolvimento da base tecnológica, possibilitando a implantação de<br />
medidas como:<br />
o Pormação de escalas de pi-odução i nível regional<br />
e Proteção do patrimônio cultural marinho<br />
Considerando-se as metas propostas de se atingir níveis sustentáveis de mfiltiplo<br />
uso, açcies devem ser preconizadas visando a regularidade de oferta dos estoques<br />
natui-ais que favoreçam a estabilidade do volume de desembarque. Nesta tese as ações<br />
propostas se baseiam na recuperação de áreas degradadas e na criação de novos<br />
pesqueiros com a implantação de estruturas de indução de aumento de biomassa para<br />
consumo e como atrativo de esporte e lazer. As medidas e formas de manejo tem como<br />
objetivo a divisão espacial e controle de santuários, zonas de pesca e de múltiplo uso,<br />
enquanto o gerenciamento busca a maximização do múltiplo uso com bases de<br />
sustentabilidade estabelecidas por procedimentos que incluem os processos e métodos<br />
apresentados nos capítulos anteriores. A implementação entretanto depende não só da<br />
base tecnológica de levantamento e mapeamento utilizado na prospecção e exploração<br />
de petróleo como também da transferencia de recursos financeiros operacionais e de<br />
capitalização do setor, com investimentos em infraestrutura de produção e<br />
processamento.<br />
A identificação destes quatro tópicos, sintetizando um conjunto de metas para<br />
atendimento de demandas, num contexto interdisciplinar de equscionamento para<br />
resolução de problemas de sistemas complexos, se deve a necessidade de verificação da<br />
eficiência da aplicação de propostas de gestão e de planejamento e da forma gerencial e<br />
de manejo dos sistemas naturais. Com esses enfoques se pode concluir e sugerir sobre o<br />
atendimento das demanda de mídtiplo uso das atividades em relação aos recursos<br />
existentes, que indicou a necessidade de aplicação de estruturas submarinas para<br />
proteção e aumento da bioprodu@ío.
Devido a insipiência brasileira na aplicação de política governamental e<br />
empresarial na forma de planos integrados de gerenciamento costeiro, amplamente<br />
discutidas no Capítulo I, optou-se como paradigma o Plano Mminovnfion (1984) na<br />
definição de prioridades e objetivos dentro da realidade da Região Sudeste. Neste caso o<br />
plano inclui os aspectos sócio-econômicos e gerenciais, visando a utilização de<br />
instalações submarinas costeiras e oceânicas voltadas a proteção de ecossistemas,<br />
reconstituição de ambientes costeiros, formação de zonas de propagação de biomassa e<br />
para concentração de peixes e cardumes comerciais, visando o atendimento da demanda<br />
das atividades de pesca e mergulho nas formas comerciais e recreativas, considerando a<br />
participação de outras atividades complementares.<br />
Na figura 53 foram consideradas as prioridades comuns e diferenciadas do Plano<br />
Marinovation, em relação ao contexto da Região Sudeste com as seguintes colocações:<br />
1) O aumento do volume de desembarque no caso também é representativo da<br />
necessidade de formação de base de dados e estatísticas de forma mais aberta e<br />
participativa, além dos diversos fatores que afetam os sistemas costeiros, suas<br />
dimensões de impacto decorrentes do múltiplo uso. No âmbito internacional, a pesquisa<br />
de tese identificou que nos países com tradição pesqueira um dos problemas da queda<br />
de produção está relacionado com fechamento de áreas oceânicas decorrentes da<br />
declaraçzo das 200 milhas, levando a busca de outras alternativas como formação de<br />
joint ventures, licenças especiais através de acordos diplomáticos e outras alternativas<br />
comerciais. No Brasil, com o setor de pesca desest~xturado a situação é inversa, a<br />
necessidade de ocupar e explorar a zona economica exclusiva (200 ZEE) levou a<br />
contratos de arrendamento de embarcações de diferentes procedência, com tripulações<br />
estrangeiras e pouco controle sobre a produção.<br />
Essa situação foi levantada no 16" Encontro do ICCAT em outubro de 1999,<br />
quando a delegação brasileira foi questionada devido a contratação de embarcações com<br />
bandeira de conveniência, que ao longo das duas últimas décadas têm sido apontadas<br />
por atuações irregulares e acusadas de efetuarem transbordo de produção para grandes<br />
navios sem as devidas trarnitações legais. Cabe salientar que apesar desse problema os<br />
empresários operando no Brasil não tem demonstrado interesse em desenvolver uma<br />
frota nacional, alegando falta de incentivo do governo, abrindo um grande campo para<br />
discussões.
Efeitos da ZEE 200 milhas I Aumento da produção de I<br />
pescado em nwas áreas e<br />
fim da pesca predatória %lhoria db nhel de<br />
1 Plano de GestZo Costeira e Oceânica<br />
Vtabilizaçiio de Novas Áreas Ocelinicas de Pesca<br />
1<br />
Volume de<br />
Aumento do volume de<br />
desembarque para<br />
rrtilizaçiio da zona<br />
/ costeira e oceíinica<br />
P&L) em Novas Teciiologias de Bioprodução e Pesca<br />
consumo humano sem as<br />
perdas de manipulação<br />
Logisticas de Entiepostos e Maiiqo do Pescado<br />
Programas Integrados de Tiuismo, Esporte e Lazer<br />
Produçdo por<br />
Unidade de<br />
Declinio do nfvel de<br />
trabalho e remuneração no<br />
Fortalecimento das<br />
Colanias e empresas de<br />
pesca<br />
I,. ,<br />
fL& D de nívar sustentáveis, de<br />
estoque e de uso de -+ Gerenciainento Siistetitado de Recursos e Estoquei<br />
Esforço de oiicio da pesca Aumento do rendimento áreas disponiveis Construçâo de Iistnitulas Costeiras de Proteçiio<br />
da produção e<br />
achatamento dos custos<br />
P&D métodos de<br />
pesca econômicos e<br />
Iniplantação de Sistetnas de Previsão Operocional<br />
íntegrac;Bo de Teciiologias de Bioprodiiçio e Pesca<br />
-<br />
condiçies de vida<br />
Deterioraç30 ambienta1 dossistemas<br />
costeiros -'fioteçcio do=<br />
Aumento da demanda por<br />
áreas de lazer na faixa<br />
Esclarecimento e<br />
i<br />
conservapTo de suas<br />
A caraderL~'cas naturais<br />
litorânea importância do mar<br />
Figura 53: Equacionamento dos componentes da demanda de planejamento e gestão de sistemas costeiros e oceânicos
Os outros problemas apontados foram os relacionados a falta de regulamentaqão<br />
e demais problemas abordados no Capítulo I e II, o que implicaria na adoção de uma<br />
legislação especifica para o Mar Territorial Brasileiro. Essa situação sugere que seja<br />
criada uma Secretaria específica no âmbito federal, independente do Ministério do Meio<br />
Ambiente e do Ministério da Agricultura e Abastecimento, visto que em ambos os<br />
órgãos a atividade pesqueira ficou em segundo plano, servindo apenas como<br />
instrumento político sem trazer um desenvolvimento adequado para o setor.<br />
O problema da pesca oceânica com potencial latente neste caso se refere aos<br />
recursos conhecidos e ainda desconhecidos dos espaços compreendidos dentro e fora<br />
dos limites das 200 ZEE, atualmente explorados geralmente em condições de alto risco<br />
e produc,ão armazenada de forma precária. Essa situação além de grave é complexa,<br />
considerando principalmente descapitalização do setor, sem recursos para investimentos<br />
que no caso demanda o desenvolvimento de novas embarcações, incluindo projetos de<br />
modelos e metodologia de construção. Além desses fatores, os órgãos do governo<br />
continuam ignorando os efeitos da pesca indiscriminada de arrasto do firndo, altamente<br />
predatória comprometendo a regeneração dos estoques desde a década de 1960.<br />
Na Região Sudeste para se atingir os objetivos de aumento da produção que<br />
implica no fim da pesca predatória e na descoberta de novas áreas, resultando no<br />
aumento do volume de desembarque com produtos de qualidade para consumo humano.<br />
Nas condições atuais de aparente "auto gestão" se torna necessário a intervenção do<br />
govemo, o que implicaria na restnituração e controle do setor para elaboração de<br />
estudos mais aprofiindados. A proposta de política pública de melhoria do nível de<br />
utilizaçiio da zona costeira marinha e oceanica se volta aos resultados da pesquisa da<br />
tese, com suas considerações sobre a falta de posicionamento das instituições como foi<br />
exposto no Capítulo I, enquanto as condições de oferta e demanda são identificadas<br />
através do modelo locacional oceânico. As ações administrativas preconizadas foram<br />
organizadas e sintetizadas com visão interdisciplinar, sugerindo atuações e intervenções<br />
conforme os tópicos de referência discutidos na tese. As ações administrativas propostas<br />
incluem:<br />
a) Plano de Gestão Costeira e Oceânica visando cobrir as deficiências decorrentes da<br />
falta de uma política governamental dirigida ao desenvolvimento setorial,<br />
principalmente voltadas a coibir a degradação ambienta1 e pesca predatória;
Viabilidade de Novas Áreas Oceânicas de Pesca inclui trabalhos de prospecção para<br />
busca de novas áreas de pesca, acompanhada da instalação de recifes artificiais e<br />
flutuantes atratores de pesca em áreas estratégicas;<br />
Pesquisa e Desenvolvimento em Novas Tecnologias de Bioprodução e Pesca se<br />
refere a aplicação de tecnologias avançadas, como as utilizadas na prospecção e<br />
produção de hidrocarbonetos para identificação de novas áreas e em meios de<br />
produção, assim como as específicas de biotecnologia dirigidas ao aumento e<br />
concentração de biomassa pesqueira.<br />
Proposta de criação de Programas de Construção de Embarcações envolve diferentes<br />
fatores, como a definição de modelos adequados para as condições oceânicas<br />
regionais, equipamentos de pesca e programas específicos de qualificação para<br />
operações em águas distantes e internacionais.<br />
Desenvolvimento de Logística de Entrepostos e Manejo de Pescado se toma<br />
fundamental em qualquer ação que envolva aumento de produção, para que se possa<br />
garantir a qualidade dos produtos evitando perdas ou queda de qualidade corno vem<br />
ocorrendo atualmente.<br />
Programas Integrados de Tu~ismo, Esporte e Lazer incorporam a nova realidade de<br />
utilização dos mares, como as competições de pesca de peixes de bico e o contrato<br />
de embarcações de pescadores para saídas de fim de semana de recreação a lazer, o<br />
que também leva a outras orientações como de infraestmtura integrada de embarque<br />
para essas finalidades.<br />
2) A necessidade de Incremento da Produção por Unidade de Esforqo de<br />
Pesca reflete a realidade da deterioraçiio dos meios de producão, levantando pelo menos<br />
há duas evidências: a da diminuição de produção devido a degradação dos ecossistemas<br />
e a da pesca descontrolada ou predatória, assim como a estagnação ou deterioração dos<br />
meios de produção da pesca artesanal. Estando ou não esses fatores interligados, de<br />
forma generalizada provocou a deterioração do nível de trabalho e perda na<br />
remuneração do pescador, em meio as grandes oscilações na produção. No caso da<br />
Região Sudeste do Estado do Rio de Janeiro estudos específicos de custo prazo<br />
precisam ser desenvolvidos para o equacionamento dessa cpestão. E foi uma das razões<br />
pela qual se optou pelo acompanhamento da longa experiencia japonesa, através do<br />
modelo Marinovatzon, que preconiza o fortalecimento da pesca costeira aitesanal.
O objetivo de fortalecer as organizações de pescadores, principalmente as<br />
tradicionais Colônias criadas a partir de 1910, se deve a constatação de que durante a<br />
instalação do regime militar rio Brasil, as Federações Estaduais e a Confederação<br />
Nacional Íicaram sob o controle de interventores militares ou indicados por eles,<br />
tomado-se instrumento de policiamento político. Como resultado, no início da década<br />
de 1980 quando voltou ao controle dos pescadores, o setor pesqueiro já se encontrava<br />
em franca decadência em meio a escândalos de corrupção que levaram ao fechamento<br />
da SU<strong>DE</strong>PE. Nesse processo houve considerável diminuição do patrimônio das<br />
Colônias, com a perda de extensões de faixas costeiras que serviam para desembarque<br />
de pescado, atracação de canoas e hndeio de embarcações.<br />
Os efeitos do enfraquecimento das instituições desse grupo difeí-enciado de<br />
trabalhadores também merece estudos mais aprofündados, para avaliar a influência no<br />
aumento descontrolado da atividade predatória das embarcações de maior porte<br />
pertencentes a empresários novos no setor. A atuação dessa fkota próximo a faixa<br />
costeira, degrada as áreas de reprodução e crescimento, levando a queda de<br />
produtividade em toda região.<br />
O fortalecimento das instituições pesqueiras também repercute em outros<br />
objetivos, como na abertura de canais mais eficientes de comercializagão, aumentando o<br />
rendimento da produção e maior acesso ao mercado atacadista para aquisic,ão de<br />
insumos, linha, anzol, redes e outros produtos, assim como linhas de crédito em bancos<br />
cooperativistas e créditos subsidiados pelo governo.<br />
Neste caso mais voltado a faixa costeira, as políticas públicas devem ser<br />
direcionadas a programas e planos de pesquisa e desenvolvimento, visando a pesca<br />
sustentável com mecanismos de controle sobre os níveis de estoque correspondentes as<br />
áreas delimitadas nos sistemas e compartimentos. Essas propostas devem ser<br />
acompanhadas por outras propostas de P&D voltadas a estudos praticamente<br />
inexistentes no Brasil, os de economia e administração pesqueira visando métodos mais<br />
eficientes de pesca sobre os habitats e adequados a realidade regional. Neste campo de<br />
ações administrativas se enquadram:<br />
a) Propostas de construção de estruturas costeiras de proteção da orla, garantindo a<br />
estabilidade dos locais de atracação e desembarque da produção;<br />
b) Organização dos grupos gestores regionais para definição de um programa de<br />
regulamentação participativa;
c) Trabalho integrado interdisciplinar com universidades e centros de pesquisas<br />
bilscando novas tecnologias de pesca e aquacultura com sistemas de recifes de<br />
fazendas marinhas e estruturas de cultivo;<br />
d) Desenvolvimento de sistemas de previsão operacional, incluindo informaqões sobre<br />
condições climáticas, locais com melhores possibilidades de pesca e melhores<br />
condições de seguranp e apoio aos trabalhos em atividades que envolvem maior<br />
risco.<br />
3) A Formação de N-ircleos Regionais de Erodriçiio está relacionado com os<br />
objetivos apresentados no item anterior, decorrentes da diminuição e estagnação das<br />
atividades através das Colônias de Pescadores, que neste caso foi associado a falta<br />
escolas especializadas de primeiro e segundo grau, com programas adequados de<br />
formação e qualificação dos pescadores. Neste ponto há uma significativa diferença do<br />
modelo japonês, onde há grande oferta de escolas e cursos de especialização mas não há<br />
recrutamento, elevando a média de idade dos pescadores. Fatores que voltam-se ao<br />
fortalecimento das instituições, sendo neste caso de forma mais abrangente incluindo o<br />
apoio de universidades e centros de pesquisas integrados no desenvolvimento de<br />
sistemas regionais de prod~tçiio e múltiplo uso da faixa costeira.<br />
Mais uma vez deve-se salientar a falta de planejamento setorial, a necessidade<br />
premente de mais seriedade na resolução do problema da estagnação crônica, da<br />
bioprodução encerrando esse ciclo vicioso. Na situação atual a atividade pesqueira<br />
requer muita força e preparo fisico, forçando rima selegão nahiral voltada a mão-de-<br />
obra pouco qualificada e provocando aposentadorias antecipadas. Como foi<br />
anteriormente apontado em estudo no complexo lagunar de Araruama, a atividade<br />
pesqueira é a que melhor remunera as famílias de baixa renda.<br />
As Colônias continuam sendo o principal elo de ligação do pescador com a<br />
sociedade, seu fortalecimento como instituição cooperativista aumentaria as<br />
possibilidades de aumento da oferta de empregos na zona costeira, diversificando<br />
atividades. O desenvolvimento da aquacultura se torna mais viável através da formação<br />
e capacitação dos mais jovens, dispostos ao aprendizado de novas técnicas e menos<br />
resistência a inovações. As mudanças radicais das formas extrativistas para outros<br />
métodos de trabalho, também podem ser mais aceitas pela população mais idosa com<br />
menos alternativas e que poderiam incluir também mulheres e deficientes fisicos.
Dessa forma as políticas públicas visando a melhoria das condições de vida das<br />
populações costeiras dependeriam de várias ações administrativas de intervenqões no<br />
espaço costeiro terrestre e aquhtico incluindo:<br />
a) Desenvolvimento integrado de bases bioeconômicas se referem a linhas de produção<br />
e incluem a construção de instalações de recifes para propagação de espécies de<br />
moluscos, cnistáceos e algas nas faixas águas mais rasas, e a instalação de estruturas<br />
de armzenamento de pescados vivos, formando estoques reguladores, que são<br />
processados de acordo com as demandas, gerando valores agregados.<br />
b) Programa de manutenção da base de produção compreende todos os componentes<br />
dos meios de produção costeira, incluindo infraestrut~u-a de manutenção e reparo de<br />
embarcações, redes e demais equipamentos de pesca.<br />
c) Programa de qualidade de vida do pescador inclui instalações de pronto socorro,<br />
planos de saúde e assistência médica, gabinete dentái-io, assistência social as<br />
famílias, cooperativas de fornecimento de alimentação e cestas básicas, serviços de<br />
higiene nos ambientes domiciliares e de trabalhos e demais atendimentos básicos.<br />
d) Planos de renda e emprego da população pesqueira são direcionados a estabilidade<br />
econômica e financeira doméstica, diante a sazonalidade inerente da atividade<br />
pesqueira; a necessidade de formação de poupanças e reservas individuais ou fundos<br />
míituos para despesas não previstas e períodos de condições climáticas adversas.<br />
Abrange também as novas possibilidades de obtenção de renda complementar com o<br />
atendimento a passeios turísticos e pesca de lazer em finais de semana<br />
4) A Proteção do Patrimônio Culturali Marinho é a síntese da integação do<br />
desenvolvimento sustentável de forma participativa. A consciência da realidade de<br />
convívio com a deterioração ambiental, como conseqiZincia do descaso da sociedade<br />
como um todo em cada localidade e a necessidade de mudança. O inevitável aumento<br />
da demanda por Areas de lazer ao longo da faixa costeira deve ser controlado de forma<br />
democrática, considerando os direitos individuais de cada cidadão em relação ao bem<br />
público, assim como as responsabilidades para sua preservação. Cabendo uma ação<br />
participativa de pescadores, instituições públicas e governamentais de conscientização<br />
para preservação e proteção do patrimônio nacional natural e cultura! marinho.<br />
Em todo mundo tem-se observado a associação da sustentabilidade ambiental a<br />
preservação e recuperação do patrimônio nacional marinho, através da iniciativa privada<br />
e governamental. No Brasil, a iniciativa neste sentido vem sendo promovida pela CIRM
uscando o resgate do patilmônio cultural. No Japão e França Meditelrânea o conjunto<br />
de medidas pontuais visam principalmente o resgate cultural e a recuperação dos<br />
ambientes costeiros para preservação da atividade pesqueira artesanal, sendo o<br />
esclarecimento e a sensibilização da população através da mídia. Nos Países Bascos<br />
(Espanha e França) a ação governamental foi mais complexa, abrangendo a reforma de<br />
todas as instalações pesqueiras para o fortalecimento da atividade e a viabilização da<br />
integraqgo do múltiplo uso.<br />
Essa iniciativa basca parece a mais adequada para as vocações da Região<br />
Sudeste, que também incluem importantes pontos turísticos e de competições<br />
internacionais de surfe. Nesse caso as ações administrativas propostas de preservação<br />
paisagísticas e do patrimônio histórico e cultural são contempladas de forma integrada,<br />
com objetivos definidos para as diversas atividades de múltiplo uso. Em relação a<br />
oferta de recursos de cada sistema e compartimento, seguindo as indicações do modelo<br />
locacional.<br />
5.4. ConsideraçIies e Reeomendaqõles sobre Estratégias de Enqiiadrammto do<br />
Modelo Locacional no Planejamento de Sistemas Siistenthveis<br />
Para que se possa atingir as metas definidas pelo programa de ações<br />
administrativas apresentadas na figura 53, é necessário que se observe no espaço<br />
tridimensional oceânico as capacidades e limitações equacionadas e determinadas de<br />
forma qualitativa e quantitativa pelo MLC (Modelo Locacional Costeiro), segundo a<br />
metodologia aplicada envolvendo seus difwentes aspectos. Na primeira etapa do<br />
equacionamento dos problemas de míiltiplo uso, verificou-se a necessidade de separar<br />
as atividades segundo a compatibilidade de interação.<br />
Entretanto, observa-se na prática que é inviável economicamente o descarte de<br />
atividades industriais em favor do financeiramente restrito quadro de usuários que<br />
dependem da qualidade ambiental, principalmente o maior gnipo composto de<br />
pescadores artesanais. Essa situação sugere em primeira instância a necessidade de<br />
implementação de um Plano de Gestão Costeira e Oceânica, visando a melhoria do nível<br />
de utilização da zona costeira e oceânica, e com medidas adequadas ao aumento do<br />
volume de produção e de atividades. Cabe salientar que no espago oceânico a situação<br />
atual é complexa e de difícil solução, tendo como único fator de análise para<br />
equacionamento, a comparação de duas realidades - a atividade pesqueira liberada na<br />
área de produção de petróleo no Golfo do M6xico e sua proibição na Bacia de Campos.
Através do IviLC verificou-se que os pontos de atracação e desembarque para<br />
embarcações de grande porte e navios, que comportariam as operações de uma frota<br />
pesqueira oceânica visando o potencial latente, estão restritos a baía de Guanabara, ao<br />
porto de Arraial do Cabo e o de Macaé. Entretanto deve-se considerar outros fatores<br />
circunstancias, quando se verifica que atualmente é nas empresas situadas ao longo do<br />
canal de Itajuni, no sistema Cabo Frio, onde ocorre o maior volume de desembarque e<br />
exportação de pescado. Nessas condições é necessário que a Logística de Entrepnstos e<br />
Manejo de Pescado indique que estratégias e medidas necessárias para atingir os<br />
objetivos de aumento do volume de desembarque para consumo humano sem perdas de<br />
manipulaqão, incluindo o dimensionamento viável para cada sistema.<br />
Embora esses fatores observados estejam fora do escopo principal da tese, são<br />
condicionantes fundamentais, assim somo também os Programas de Construção de<br />
Embarcações e os Programas Integrados de Turismo, Esporte e Lazer, que num patamar<br />
tecnológico mais avançado, justificariam as intervenções com construções. As<br />
instalações de estsuturas submarinas, no cenário de sistemas oceânicos, estão incluídas<br />
na Viabilização de Novas Áreas Oceânicas de Pesca e nos estudos de P&D de Novas<br />
Tecnologias de Bioprodução e Pesca.<br />
O MLC identificou três frentes costeiras com características homoggneas<br />
distintas, em relação a qualidade de água, dimensões de plataforma e diferenças de<br />
profundidades; e que esses fatores influenciam de forma direta e indireta na<br />
produtividade e nos meios de produção. No contexto da demanda para incremento da<br />
produção por unidade de esforço de pesca, verificou-se que houve uma estagnação e<br />
declínio do nível de trabalho e da remuneração do pescador. As causas que têm sido<br />
apontada incluem a degradação dos habitats costeiros e a pesca predatória, entretanto os<br />
fatores sócio-econômicos e gerenciais devem ser melhor estudados devido a notória<br />
falta de uma política adequada para o setor sem planos de gestão definido, como foi<br />
apontado no Capítulo I e anexos.<br />
Neste caso, além da necessidade do fortalecimento das instituições,<br />
principalmente as Colônias de Pescadores, sugere-se uma política setoiial voltada a<br />
P&D de métodos de pesca econômicos e eficientes para melhoria dos meios de<br />
produção e P&D de níveis sustentáveis de estoques e de uso de áreas disponíwis na<br />
faixa costeira e plataforma continental até a faixas dos 50 e 100 metros de profundidade<br />
para implantação dos sistemas integrados de míiltiplo uso.
Neste caso as ações administrativas, tendo em vista a implantação de Plano de<br />
Gestão Costeira e Oceânica observada no item anterior, devem ser dirigidas a Gestão<br />
Institucional e Regulamentação, visando o fortalecimento das Colônias de Pescadores e<br />
empresas, assim como a adogão de um plano de manejo participativo, visando o<br />
Gerenciamento Sustentável de Recursos e Estoques. Com esses instrumentos<br />
administrativos e gerenciais, se pode determinar as prioridades e os fatores quantitativos<br />
e qualitativos de viabilidade e suas fiinções sócio-econômicas, delineando o perfil das<br />
ações, planos e projetos de intervenções que possam garantir a sustentabilidade das<br />
atividades pesqueiras e complementai-es.<br />
Na faixa costeira, a destruição de vias de acesso e residências ocasionado por<br />
ondas ao longo da costa da Frente Sul durante a ressaca do dia 6 para 7 de maio de 2001<br />
se somaram aos outros problemas crônicos da orla. Decorrentes de construções e obras<br />
irregulares e da contaminação das lagoas e rios, exigindo medidas mais efetivas que<br />
incluem a Implanta~ão de Estruturas Costeiras de Proteção. Medidas preventivas<br />
também devem ser tomadas com desenvolvimento de mecanismos de defesa civil e de<br />
comunicação com embarcações antes das saídas ou no mar, com aviso de alerta em<br />
decorrência de mudanças atmosféricas, através da Implantação de Sistemas de Previsão<br />
Operacional.<br />
Entre as ações administrativas previstas para o incremento da produçiio por<br />
unidade de esforço que no escopo da tese acrescenta mais inovação tecnológica é a<br />
Integração da Tecnologias de Bioprodução e Pesca. Essa integração compreende a<br />
pesquisa de instalação de diferentes de componentes de fazendas marinhas, que incluem<br />
as estruturas de recifes artificiais de propagação e crescimento, e os de cultivo para<br />
diferentes espécies de moluscos, crustáceos e peixes de valor alimentício e comercial,<br />
relativas a demanda correspondente ao quadro de usuários focalizado no IvILC.<br />
Para que se possa desenvolver os sistemas sustentáveis de míiltiplo uso, se torna<br />
necessário um estudo detalhado das avaliações e medições apresentadas pelo IvíLC, que<br />
definiram a potencialidade de cada compartimento e sistema, apontando suas<br />
características específicas vocações e limitações. Com o domínio dessas informações<br />
trabalhadas em estudos interdisciplinares, se pode determinar que tipos de intervenções<br />
devem ser aplicadas em cada sistema, promovendo-se a integração das tecnologias de<br />
bioprodução com as artes de pesca de cada modalidade.<br />
Para se atender todo escopo do quadro de usuários, deve-se mais uma vez<br />
analisar os resultados apresentados pelo MLC, verificando na vocação natural de cada
compartimento e sistema as possíveis alternativas de incremento do potencial de<br />
recursos que possam ser enriquecidos. Para a atividade de pesca de linha, seja ela<br />
comercial, esportiva ou de lazer, os diferentes tipos de instalações no solo submarino<br />
trazem benefícios, entretanto para pesca submarina é necessário que na área haja<br />
predominância de águas claras. Entretanto, se houver interesse em se atender um quadro<br />
maior de usub-ios a Integsação da Tecnologias de Bioprodução e Pesca deve ser<br />
equacionada levando-se em consideração as propostas dos Programas Integrados de<br />
Turismo, Esporte e Lazer, buscando-se locais adequados e tipos de estruturas<br />
submarinas que também atendam outras demandas, como do mergulho recreativo ou<br />
que possa beneficiar a formação de ondas adequadas para prática do surfe.<br />
5.4.1. Planejamento e Gestão Participativa<br />
A demanda de Formação de Núcleos Regionais de Produção se deve a<br />
necessidade de prover os Sistemas, ou neste caso os Ivíunicípios ou Distritos Municipais<br />
costeiros de um órgão ou centro que seja capas de congregar lideranças ou<br />
representantes dos setores interessados no desenvolvimento e na gestão participativa dos<br />
sistemas integrados de múltiplo uso. Na forma atual, as atividades estão sendo<br />
conduzidas sob diferentes formas de regulamentação, dirigidas para cada tipo de uso e<br />
de forma vertical partindo geralmente de órgãos governamentais federais, como<br />
IBkWA, Ministério da Marinha ou Ministério do Trabalho. Devido a falta de<br />
mecanismos de controle mais abrangentes e eficientes, que estariam no âmbito do<br />
gerenciamento costeiro, os locais mais disputados tem se tornado áreas de confiito.<br />
No Sistema Cabo Frio, que segundo avaliação do MLC é o que concentra o<br />
maior volume de recursos na Região Sudeste, o aumento do niamero de usuários com<br />
maior poder aquisitivo e mais tecnologia, como o mergulho recreativo e a pesca<br />
esportiva culminou com a geração de conflitos com a pesca artezanal. Neste caso, o<br />
intervenção do IBAMA criando a RESEXM causou mais problemas acirrando os<br />
conflitos com medidas autoritárias. Essa situação pode ser atribuída em parte a<br />
Estagnação das Atividades nas Colônias e Empresas de Pesca e a Pouca Qualificação<br />
dos Pescadores, sem as mesmas condições sociais, econômicas e tecnológicas.<br />
No item anterior observou-se que o problema do declínio do nível de trabalho na<br />
atividade pesqueira pode ser solucionado com o incremento da produção atravks do<br />
fortalecimento das Colônias de Pescadores e empresas. Neste item o problema está.<br />
sendo obsesvado através do aumento da oferta de emprego na zona costeira através do
múltiplo uso que aumentaria também as possibilidades de assimilação de mulheres e<br />
idosos no mercado de trabalho. A síntese das políticas públicas estaria voltada a<br />
melhoria das condições de vida das populações costeiras, através de medidas de<br />
fomento que favoreçam o aumento da oferta de empregos.<br />
As ações administrativas previstas nesse cenário partem de iniciativas mais<br />
voltadas ao múltiplo uso, partindo da formação de niicleos de gestão regional<br />
empenhados no desenvolvimento integrado de atividades dependentes de condições<br />
ambientais. Dessa forma, o Desenvolvimento Integrado de Bases Bioeconômicas não se<br />
refere diretamente a bioprodução, compreendendo um quadro mais abrangente, de<br />
fazenda marinhas e outras estruturas, que possam compor um cenário propício as<br />
atividades de turismo, recreação e lazer. Nesse sentido os projetos de desenvolvimento<br />
baseados nas necessidades de demanda apontas no MLC são avaliadas por grupos de<br />
interesse que compõem a estrutura administrativa dos núcleos regionais. Dessa forma<br />
as possíveis sihiações de conflito decorrentes dos efeitos do múltiplo uso podem ser<br />
previstas e contornadas através dos Programas de Manutenção da Base de Produção,<br />
assegurando na medida do possível a sustentabilidade e o equilíbrio das diversas<br />
atividades.<br />
Além das limitações naturais dos sistemas e compartimentos apontadas no MLC<br />
deve-se também considerar as limitações econômicas e financeiras e a dependência da<br />
vontade política. Além de intenções, grande volume de recursos são necessários para<br />
sair da estagnação atual e se possa chegar a eficiência administrativa que cheguem a<br />
implantação de Programas de Qualidade de Vida do Pescador e garantias de estabilidade<br />
com Planos de Emprego e Renda da População Costeira.<br />
O último componente de equacionamento da demanda integra as Proteção do<br />
Patiimônio Natural ao Cultural, pode ser incluído em outras etapas com novos formatos<br />
de avaliação de compatibilidade matricial ou do MLC. Neste caso os níveis de<br />
pertinência locacionais envolve diferentes aspectos, tais como formas mais objetivas de<br />
se confrontar o problema crônico da degradação e contaminação ambiental, procurando<br />
dividir com a opinião píiblica as responsabilidades pontuais sobre a degradação<br />
ambiental e a poluição de rios e lagoas em cada sistema, buscando iniciativas populares<br />
de controle, assim como a associação da progressiva degradação de ruínas com a perda<br />
do patrimônio histórico, cultural e artístico. Esses fatores apontam a necessidade de<br />
uma política pública voltada a proteção do mar e conservação de suas características<br />
naturais, incorporando esses componentes complementares.
Ao longo de toda faixa costeira da Região Sudeste são encontrados sambaquis,<br />
alguns mais pesquisados como em Saquarema, Arraial do Cabo e Cabo Frio mas em sua<br />
maioria praticamente desconhecidos e alguns sujeitos a degradagãn e uma outra grande<br />
parte perdida entre as construções costeiras, Outras obras mais recentes, como o forte de<br />
Arraial do Cabo do final do Século XVU foi totalmente destruido com o tempo, e uma<br />
capela da mesma kpoca foi demolida na década de 1970. É importante salientar que são<br />
locais a beira mar, integrados aos sistemas aquáticos, sendo necessário estudos mais<br />
aprofundados sobre o valor histórico e cultural avaliando a necessidade de intervenções<br />
com construções costeiras proteção.<br />
Esses componentes costeiros associados as características peculia~es providas de<br />
paisagens e belezas naturais são fiandamentais para geração de novas oportunidades de<br />
trabalho e geração de renda. Outros que podem ser incorporados, como a anindamento<br />
de navios e outsas estruturas com alguma passagem histórica ou cultural, como vem<br />
ocorrendo principalmente nos Estados Unidos. As sugestões de ações administrativas<br />
para esses dois fatores são dois programas o de Preservação Paisagística e Turística<br />
Litorânea voltada aos aspectos ambientais e as possíveis intervenções de construção<br />
para essa finalidade, e a Preservação do Patsimonio Histórico e Cultural Marinho<br />
voltado principalmente para os aspectos históricos e culturais das comunidades costeiras<br />
de pescadores, preservando também artes e métodos de pesca artesanais.<br />
5.5. Considerações Finais<br />
No âmbito do governo federal é necessário que no PSRM (Plano Setorial para os<br />
Recursos do Mar) haja mais objetividade na exposição da política de desenvolvimento,<br />
visando o aproveitamento integrado dos recursos do mar, o que implica inicialmente no<br />
conhecimento mais aprofundado do seu potencial. Para que esse objetivo seja<br />
alcançado, os programas de levantamento e pesquisa devem ser conduzidos com o<br />
emprego de tecnologias mais avançadas e instmmentação mais adequada, como na<br />
utilizada para prospecção e exploração de petróleo e ghs em águas profùndas.<br />
No âmbito dos governos estaduais e municipais é necessário mais empenho e<br />
participação na política decisória de formulação do PNGC (Plano Nacional de<br />
Gerenciamento Costeiro). A falta de iniciativas regionais talvez esteja relacionada com<br />
o pouco conhecimento sobre o signiÍicado e a importância do Gerenciamento Costeiro,<br />
ainda limitado e mais atrelado as questões ambientais, o que dificulta a sua<br />
compreensão e importância para o aproveitamento sustentável dos recursos oceânicos.
As propostas abrangentes preconizadas no PSWI e o PNGC, ao que parece<br />
ficaram fora do alcance e de assimilação da política de gestão regional. O que se tem<br />
observado na prática é um continuo processo de degradação dos sistemas costeiros e<br />
oceânicos. Enquanto os órgãos e setores estaduais e municipais de controle ambienta1<br />
inibem o desenvolvimento de projetos hoteleiros e tulísticos, o processo de ocupação<br />
desordenada (favelização) da orla ocorre livremente, assim como os grandes<br />
empreendimentos da indústria do petróleo, por força do poder econômico.<br />
Para que se proceda um desenvolvimento equilibrado e integrado de múltiplo uso<br />
é necessário que inicialmente se faça uma revisão da legislação existente, como propõe<br />
a procuradoria do íBAMA. Na situação atual, com a regulamentação atrelada a questões<br />
ecológicas, qualquer iniciativa empreendedora é inibida pelo radicalismo ambientalista,<br />
abrindo caminho para o oportunismo político e levando a situação de empobrecimento e<br />
degradação dos recursos naturais costeiros.<br />
Os ricos ecossistemas tropicais costeiros poderiam ser uma fonte inesgotável de<br />
reabastecimento dos estoques de consumo, entretanto não há medidas de controle da<br />
degradação ou para recuperação. O alarde com os derrames de óleo produzem algum<br />
efeito para tornada de medidas paliativas de curto prazo, mas a contaminação química<br />
industrial e urbana está fora de controle. Os manguezais e lagoas e demais sistemas<br />
costeiros continuam em processo de deterioração e no solo submarino os barcos de<br />
arrasto continuam devastando o fundo, dizimando os estoques de espécimes comerciais<br />
em crescimento.<br />
Esses fatores ambientais reportam as questões de segurança das atividades<br />
marítimas e deveriam servir de alerta para que as pesquisas sejam direcionadas de forma<br />
mais abrangente, incluindo todas as atividades marítimas de forma integrada. Devido a<br />
queda dos estoques na faixa costeira os pescadores artesanais são obrigados a se<br />
aventurar em águas mais distantes, em meio a rotas de navegação de navios de grande<br />
porte e principalmente próximos às plataformas e instalações de produção, onde os<br />
cardumes e peixes com tamanho comercial se concentram. Em análise de risco mais<br />
complexa, os fatos apontam para conjugação dos fatores pertinentes aos critérios de<br />
avaliação mais atuais, que integram às causas aos seus efeitos, de perdas humanas,<br />
materiais e danos ambientais.<br />
A interdiscipiaridde vem demonstrando ser o principal instrumento para<br />
integração de conhecimentos, principalmente para o equacionarnento e resolução de<br />
problemas que envolvem questões de segurança e sustentabilidade de sistemas
operacionais complexos, como os de múltiplo uso de recursos costeiros e oceikicos. A<br />
louvávei cobrança ambiental no início da década de 1990 talvez tenha tomado rumos<br />
distorcidos e provocado efeitos contrários a estabilidade ambiental, o que merece<br />
estudos mais aprohndados.<br />
No contexto da tese o que ficou constatado no caso do estado do Rio de Janeiro é<br />
que faltou uma interação entre os conhecimentos biológicos ambientais com os<br />
econômicos e gerenciais, como pôde ser verificado na interdição de empreendimentos<br />
turísticos, no caso da RESETX/AC (Reserva Estrativista de Arraial do Cabo) e,<br />
principalmente, na inexistência de disciplinas nestas especialidades nos currículos de<br />
universidades. Como resultado, o poder econômico vem impondo regras,<br />
predominando a política de custos mínimos e lucros máximos, gerando obras de<br />
construção e instalação cujos efeitos sociais e ambientais têm gerado muita discussão,<br />
como os emissários submarinos, obras de dragagem, drenagens e instalações de<br />
produção de petróleo.<br />
Pode-se admitir também que o efeito da falta de estudos interdisciplinares nessas<br />
áreas tenha aberto um grande vazio de percepção de valor de conhecimento, como no<br />
caso do espaço tridimensional submarino e das relações de valoração e uso dos recursos<br />
costeiros e oceânicos, no âmbito da bioprodução e das atividades complementares de<br />
turismo e recreação. Esses fatores se refletem na falta de conhecimentos essenciais para<br />
avaliação de impactos ambientais e sociais, provocados pelo avanço da indústria do<br />
petróleo por toda costa da Região Sudeste do Brasil. Os efeitos recentes da prospecr,ão<br />
já estão sendo percebidos na avaliação dos dados estatísticos da produção pesqueira no<br />
Norte Fluminense.<br />
Embora possam ser consideradas superficiais, principalmente devido a essa falta.<br />
de informações sobre o espaço submarino e ao restrito público alvo, as propostas de<br />
planejamento e gerenciamento da tese foram eficientes para demonstrar a necessidade<br />
de ações integradas com base interdisciplinar. As formas matriciais apresentadas<br />
serviram para demonstrar a necessidade de aprofindamento dos estudos integrados,<br />
com base nas condições e rest~ições ambientais, avaliadas sobre as perspectivas sicio-<br />
econômicas e da disponibilidade técnica de engenharia. Através do modelo locaciona1<br />
pode-se verificar a fragilidade em que se encontra o nivel de conhecimento sobre o<br />
potencial do litoral fluminense, restrito aos pescadores artesanais e mergulhadores, em<br />
firnção da atividade profissional, assim como a maior demanda de estruturas submarinas<br />
projetadas para sistemas de bioprodução comercial e atividades complementares.
5.6. Temas de Relevância para Gestiio, Planejamento e Gerenciamento do Uso de<br />
Recursos Costeiros e Ocehicos<br />
Considerando as questões abordadas nesta tese, são indicados três temas mais<br />
relevantes, que além do direcionamento de disciplinas específicas nas áreas de<br />
Esfrufrmx Oce&?icas, Hidrodinâ-mica de Sisfemas Ocednicos e Projetos de Sistenm<br />
Oce2nicos da Engenharia Naval e ffldrázrlicff Marítimas, Processos Litordneos, Obres<br />
Marítimas e ínstrunzentap70 Oceanogr@ca da Engenharia Costeira e Oceanográfica,<br />
devem ser considerados para hturo o desenvolvimento de pesquisas.<br />
Planejamento e Gerenciameiito<br />
I. Desenvolvimento de yrogrnmas de Gerenciamento Costeiro e Ocecinico em<br />
níveis nacionais, estadz~is, regionais e ,Iczcalizados visando:<br />
- Compreensão e avali ção dos componentes interdisciplinares do Plano de<br />
Manejo de Recursos e Gerenciamento Costeiro.<br />
- Programas de ação participativa na política de Gestão e na elaboração de Plano<br />
de Manejo de Recursos de Múltiplo Uso e do Gerenciamento Costeiro<br />
Pesquisa e FormaçBo de Recursos Humanos<br />
Formação e qualificação a partis da graduação (3" grau) em:<br />
I. Progmn Interdisciylirtm de Uso de Reamos do Mm<br />
- Economia e administração de recursos costeiros e oceânicos<br />
- Estudos Matriciais de avaliação de impactos e condições de múltipio uso<br />
- Conceituação e aplicação de Gerenciamento Costeiro e Oceânico<br />
- Métodos quantitativos e qualitativos de avaliação e locação de recursos<br />
costeiros e oceânicos para definição de quadro de miíltiplo uso<br />
- Modelos Locacionais de avaliação e medição econômico-ambienta1<br />
- Desenvolvimento de infraestmtusa costeisa, modelos de embarcações e<br />
formas de utilização para cada hrea costeira e oceânica. Dimensionadas em<br />
função de demandas sócio-econômicas e efeitos de impacto ambienta1 dos<br />
setores de pesca, turismo e recreação.<br />
- Planos de Manejo de Recursos para o múltiplo uso sustentável do espaço<br />
tridimensional submarino.<br />
- Engenharia da Bioprodução<br />
2. Métodos diretos jin siiu)de pesquisa &I espqo íridinlensional subnmmino:<br />
- Pesquisas dos componentes bioeconômicos da coluna de água, suas relações<br />
com a profundidade e contorno do solo submarino
- Levantamento do solo e relevo submarino diferenciando cada habitat<br />
- Avaliação e medição dos ekitos das redes de pesca de arrasto no solo<br />
submarino<br />
- Avaliação e medição dos efeitos das plataformas e instalações no solo<br />
submarino<br />
- Avaliação de extensão de danos ecológicos subaquáticos<br />
- Inspeção de estruturas subaquáticas que impliquem em riscos ambientais<br />
3. Inten~enções com construções de estruturas subrncwinas:<br />
- Estsuturas para proteção de praias e ancoradouros<br />
- Estnilxras costeiras integradas de proteção e esportes aquáticos<br />
- Estruturas costeiras de recifes artificiais de propagação de biomassa<br />
- Estsuturas de recifes artificiais de pesca<br />
- Flutuantes atratores de peixes e cardumes<br />
4. Cons fruçdo de megnestrut~~ras de pesca oceânica<br />
- Pesquisa de descomissionarnento de instalações de produção de petróleo<br />
- Pesquisa de aproveitamento de cascos de navios e estruturas de construção<br />
- Metodologia de instalação de rnegaestruturas no solo submarino<br />
- Metodologia de instalação de megaestnituras flutuantes em águas profundas<br />
e Gestão e Locação de Recrrrsos<br />
I. Tdpicus de nível governamenlal e institucional<br />
- Criação de conselho regional de prefeituras litorâneas para gestão de uso do mar<br />
- Criação de conselho regional de empresários usuários para avaliação de recursos<br />
e programas de gestão participativa.<br />
- Criação de conselho regional participativo de políticos e representantes da<br />
comunidade para avaliação e gestão da aplicação de royalties do petróleo
PARTE 1:<br />
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <strong>DE</strong> DISCUSSÁO DA POLITICA <strong>DE</strong><br />
GESTÃO DO ESPACO OCEÂNEO, MAPmJO <strong>DE</strong> HABITATS SUBMARINOS<br />
E SUSTENTABILIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> ~ C W ONATURAIS S<br />
1.1.1. Tecnologias do Programa de Pesquisa de Engenharia Oceânica<br />
Como foi observado, nenhum outro setor da indústria nacional acompanhou o<br />
desenvolvimento tecnoíógico da exploração de petróleo no subsolo oceânico, enquanto<br />
ainda é insipiente a área de conhecimento dos sistemas naturais pesqueiros, como foi<br />
identificado no IV PSRM (CLRM, 1994). Nesse sentido, a demanda de pesquisas mais<br />
aprofundadas pode ser avaliada através das imagens trazidas à superfície, nos vídeos de<br />
inspeção submarina que apresentam cenários de interações biológicas de relevada<br />
importância científica e econômica, ainda pouco estudadas visando a bioprodução.<br />
O aproveitamento dos recursos bioeconôrnicos submarinos por conseguinte,<br />
requer a organização de novos sistemas, eficiência de planejamento na gestão e uso<br />
adequado dos recursos, através de um programa de Engenharia Oceânica direcionado a<br />
essas funções. Esses processos incluem as questões abordadas nesta tese, identificando<br />
os temas de pesquisa mais relevantes que indicam a inclusão em disciplinas específisas<br />
nas áreas de Estlzituriras Oceânicas, Hidrodinâmica de Sistemas Oceânicos e Projetos de<br />
Sistemas Oceânicos da Engenharia Naval e Hidráulica Marítimas, e de Processos<br />
Litorâneos, Obras IvIarítimas e Instrurnentação Oceanográfica da Engenharia Costeira e<br />
Oceanográfica, voltadas ao planejamento de sistemas integrados de mhliiplo uso.<br />
Contemplando de forma adequada o planejamento de projetos e obras para regeneração<br />
de áreas degradadas, proteção de zonas estratégicas e sistemas de bioprodução oceânica.<br />
Os mecanismos de sustentabiiidade dependem basicamente da tecnologia<br />
operacional disponível e do volume de conhecimento adicional sobre esses sistemas<br />
naturais, que dependem de levantamentos com tecnologia específica e qualificação<br />
profissional. A situação atual de grande precariedade do setor de bioprodução aquática<br />
nacional, requer primeiramente uma revisão do que existe de informação sobre esses<br />
espagos marinhos costeiros e oceânicos, para que se possa estabelecer os parâmetros<br />
ocean~gr~cos das condições de produtividade e seus diversos tipos de utiliza@o.
Devido a situaqão atual caracterizada de múltiplo uso, como o litoral sudeste do<br />
Estado do Rio de Janeiro, que inclui a pesca, produção de petróleo, tiirismo e lazer, a<br />
necessidade de organização das informações toma-se premente. A partir daí será<br />
possível descrever o perfil de potencialidades da oferta de recursos e meios de<br />
produção, direcionados as suas demandas de múltiplo uso adequado.<br />
O mapeamento da situação dos ambientes aquáticos e de suas características,<br />
facilita a proposição de medidas que possam contemplar o aumento da produtividade<br />
pesqueira e a identificação de cenários propícios ao desenvolvimento de atividades<br />
complementares para geração de emprego e renda, como turismo, esporte e lazer na<br />
faixa litorânea.<br />
O Brasil, ainda carece também de maior empenho em se desenvolver pesquisas<br />
submarinas voltadas para esses setores de produção e serviços, gerando informações<br />
mais precisas sobre esses sistemas naturais. A situação dessa linha de pesquisa evoluiu<br />
muito pouco. Na proposta de implantação do Projeto REVEZE, em seu anexo<br />
(DIAS, 1997), foi necessário uma minuciosa justificativa expondo a necessidade de<br />
mapeamenio do solo submarino através de sistema de sonar de varredura lateral<br />
Outras possibilidades para integração de campos da engenharia devem ser<br />
observadas, como sobre métodos e equipamentos mais modernos e adequados,<br />
incentivando o desenvolvimento de projetos de novos modelos de embarcações voltadas<br />
as pescarias mais sofisticadas e sustentáveis, subsiituindo os métodos primitivos de<br />
arrasto. O país ainda carece de estudos de acompanhamento do aumento do turismo<br />
recreativo e esportivo no espaço costeiro e submarino, e da adequa~ão de construções<br />
litorâneas com Íùnções de proteção e produção de biomassa. Essa questão é<br />
hndamental para aplicação de sistemas submarinos de bioproduqão, considerando-se a<br />
necessidade de se substituir a pesca de arrasto que ainda é amplamente praticada<br />
indiscriminadamente nos fundos arenosos e lodosos ao longo do litoral brasileiro.<br />
Apesar de apontada, inclusive pela mídia, como a principal responsável pela queda de<br />
produtividade das espécies comerciais mais importantes nas áreas mais férteis de<br />
reprodução próximas da costa, o arrasto vem sendo empregado com muito poucas<br />
restrições.<br />
A questão ambienta1 pode ser discutida em outros termos e referenciais,<br />
considerando-se que estruturas submarinas de proteção e produção podem ser aplicadas,<br />
promovendo uma maior produtividade biológica. Suas aplicações no estudo de<br />
impactos ambieniais, podem trazer novas perspectivas para a avaliação de estruturas de
produção de petróleo, devido a seus impactos altamente positivos para a produção de<br />
biomassa de consumo.<br />
1.12. Contexto do Trabalho de Pesquisa<br />
Os métodos de pesquisa submarina que muito se desenvolveram na indústria de<br />
exploração de hidrocarbonetos, ainda são muito pouco utilizadas em outras áreas de<br />
produção e serviços. O conhecimento desse espaço é importante para definição de<br />
fatores geológicos e ambieníais aplicados a bioprodugão e para atender a demanda de<br />
novos serviços complementares, como os de ttlrismo e recreação. As operações de<br />
levantamento espacial viabilizam o mapeamento detalhado da topografia submarina e<br />
suas características fisicas. Essas informações podem ser trabalhadas para levantamento<br />
das áreas disponíveis para a pesca e as diversas formas de bioprodução.<br />
A interdisciplinaridade de componentes tecnoíógicos, cuja organização é<br />
complexa, é inerente das atividades no meio aquático, req~ierendo instrumentos de<br />
gestão e um plano de gerenciamento costeiro em âmbito regional. Atualmente, os<br />
estudos e pesquisas científicas oceânicas têm sido direcionados de forma pontual para<br />
resolução de problemas específicos, como no caso da exploração de hidrocarbonetos, ou<br />
de problemas locais ao longo da costa, como os decorrentes de instalações portuárias,<br />
saneamento básico e proteção contra degradação da faixa litorânea.<br />
k falia de tradigão em linhas kndamentais de pesquisa submarina ambiental, e<br />
principalmente a pouca integração desses estudos, toma a situação ainda mais complexa<br />
para o desenvolvimento da produção, para o eq~mcionamento e solução do problema de<br />
utilização plena do espaço submarino e demais desdobramentos de seus efeitos sócio-<br />
esonômicos e ambieníais. A questão principal nessa dissussão é como formatar modelos<br />
e sistemas que possam sugerir formas adequadas para integrar várias tecnologias, com<br />
propostas viáveis de ocupaqão e utilização sustentável do espaço submarino.<br />
Existem paradoxos na concepção política do gerenciamento costeiro, como os<br />
privilégios da opção por retornos financeiros imediatistas e ocupação oceânica restrita a<br />
indústria de hidrocarbonetos. Este aspecto de aparente exclusividade, considerando-se<br />
os princípios de economia ambiental e de Óioprodução oceânica, no âmbito do múltiplo<br />
uso, inibem o desenvolvimento de outros setores de produção e serviços, como a pesca,<br />
aquaculiura, turismo e iazer.
Na área interdisciplinar de engenharia econômica, as medições dirigidas a<br />
projetos de formação de sistemas oceânicos de produção e serviços dependem dos<br />
resultados das pesquisas básicas de eficiência e sustentabilidade, que demandam estudos<br />
de séries temporais e processos de acompanhamento periódico de parâmetros<br />
ambientais, físicos e biológicos entre outros fatores e, se possível, os mais dinâmicos em<br />
tempo real, para uma rápida localização e avaliação de recursos.<br />
Os sistemas de informações devem ser organizados para orientar os usuários<br />
sobre processos, métodos e impactos, como instrumento de avaliação para o emprego de<br />
estruturas submarinas projetadas com objetivos de proteção e indução da biomassa<br />
oceânica na geração dos sistemas de produção, de forma eficiente, segura e sustentável.<br />
O contexto do trabalho da pesquisa de tese em Sistemas de Bioprodução e<br />
Serviços para o Múltiplo Uso Sustentável do Espaço Oceânico, inclui os seguintes itens<br />
descritos a seguir:<br />
1.1.2.1. Demanda Nacional de Planos de Gest5o<br />
A proposta de criação de modelos para sistemas submarinos sustentáveis de<br />
produção compreendem objetivos específicos, como o estabelecimento de estratégias de<br />
proteção e recuperação de áreas degradadas ou sujeitas a intempéries e a viabilização do<br />
aumento ou indução da produtividade natural, em áreas definidas da plataforma<br />
continental. Estes sistemas beneficiarão principalmente as atividades de pesca<br />
comercial, proporcionando o aumento do índice de retorno de produção com menor<br />
esforço da pesca e servirão de base para futuros estudos de impacto ambienta1 e<br />
bioeconômicos. Atualmente, como decorrência de novas tendências de mercado,<br />
ampliam-se as suas possibilidades, com a incorporação das atividades de pesca<br />
esportiva ou recreativa, como atrativo n~rístico e formas de recreação e íazer.<br />
A perspectiva do modelo inovador não se resume somente ao objetivo específico,<br />
definido por projetos de implantação de recifes artificiais, mas também inclui o<br />
equacionamento dos fatores relacionados aos aspectos econômicos da Engenharia<br />
Oceânica, que podem direcionar critérios de gestão eficiente seguindo moldes de um<br />
planejamento racional do uso das faixas costeiras e oceânicas da plataforma continental.<br />
Na pesquisa de tese para avaliaçgo da viabilidade dos sistemas em relação a<br />
política nacional, verificou-se no IY PSRM (CIRM, 2994) que persistia a necessidade<br />
de se conduzir o levantamento da potencialidade dos recursos vivos da zona econômica
exclusiva, segundo padrões estabelecidos na Convenção das Nações Unidas sobre os<br />
Direitos do Mar. Segundo este documento, os Recursos do Mar são todos os recursos<br />
vivos e não vivos que se encontram na coluna de água, no solo e subsolo marinho e<br />
áreas adjacentes, para que se exerça o direito de soberania e exclusividade de uso. A<br />
interdisciplinaridade relativa à exploração de recursos é observada no item<br />
"Entendimento dos Ecossistemas Marinhos", em termos estruturais e funcionais,<br />
buscando a análise integrada através da caracterização de todos os componentes<br />
ambientais físicos e biológicos. Ratificado em "Recursos Vivos", onde se observa que a<br />
abordagem do problema de sua utilização deve ser feita de forma integrada, como parte<br />
de um sistema produtivo complexo, com componentes bióticos e abióticos de alto<br />
dinamismo, tornando-se necessária a observação da diversificação e relevância de todos<br />
os componentes do sistema natural.<br />
A situação de degradação de ecossistemas costeiros, foi apontada como decorrente<br />
de ocupação desordenada e atividades predatórias em áreas sensíveis de reprodução e<br />
alta produtividade como estuários, manguezais, lagoas, baías e enseadas, tornando-se<br />
necessário medidas para..."além da manutenção do equilíbrio do estoque específico, a<br />
manutenção do equilíbrio do ecossistema como um todo".<br />
Em relaqão ao aproveitamento da plataforma continental, observou-se que as<br />
estimativas de produção nas faixas de profundidade entre 100 e 200 metros são<br />
questionáveis, devido a falta de coleta de dados de produção na metodoíogia de<br />
avaliação, cujos níveis tem se mantido os mesmos nas últimas décadas. Os dados sobre<br />
embarcações e volumes de captura indicam uma acentuada queda de produtividade, sem<br />
que se possa determinar formas mais adequadas de pesca ou dimensões de embarcações<br />
mais adequadas a operarem em áreas específicas, confundindo-se com conceitos sacio-<br />
econômicos tradicionais de pesca artesanal e industrial, sendo mais importante ressaltar<br />
o reconhecimento da depleção dos principais estoques como a sardinha e o camarão nas<br />
Regiões Sudeste e Sul. Quanto ao enquadramento para equacionar esses problemas,<br />
observando-se o caso da região do cabo Frio, pode-se identificar os seguintes aspectos:<br />
a Na faixa litorânea é onde se concentra o maior acúmulo de atividades, destacando-se<br />
a pesca tipicamente artesanal durante todo ano, com eventuais interferências de<br />
embarcações maiores, e atividades complementares (esporte, turismo e lazer) nos<br />
finais e semanas e grandes concentrações nas estações de veraneio e férias escolares,<br />
podendo chegar a três milhões de pessoas em piques de concentração. O nível de
utilização varia de acordo com as características dos atrativos encontrados ao longo<br />
da costa.<br />
NO caso do camarão o problema é mais grave, porque o recurso é demersal,<br />
capi~irado com redes de arrasto que revolvem os fundos arenosos lodosos,<br />
capturando todas as espécies, na sua maior parte em fase de desenvolvimento muito<br />
inferior ao tamanho comercial. Os níveis de proporcionalidade são altamente<br />
predattórios, para cada um ou dois quilogramas de camarão capturados oito de<br />
espécies em crescimento são devolvidos ao mar sem vida. Em grande parte, espécies<br />
de alto valor comercial.<br />
a No caso da sardinha, trata-se de um recurso pelágico capturado com redes de cerco<br />
operando na coluna de água, cuja característica principal é atravessar os mares em<br />
busca de áreas propicias para alimentação e reprodução. Os níveis de captura atuais<br />
podem estar em torno de 10% do nível máximo de décadas anteriores, com o<br />
problema agravado porque os cardumes em crescimento são capturados e servem de<br />
isca viva transportadas nos barcos atuneiros para pesca em alto mar.<br />
(a) Esses três exempios de recursos no âmbito regional, sob a ótica nacional,<br />
procurando enquadrar a proposta dos Sistemas de Bioprodr?ção e Serviços para o<br />
Múltiplo Uso Sustentável dos Recursos do Espaço Oceânicos, como alternativa<br />
para manutenção de níveis de produtividade, geração de empregos e de renda,<br />
serão analisadas as possibilidades de instalação de Estruturas Ecológicas,<br />
segundo os seguintes parâmetros:<br />
Inventário das condições ambientais anteriores e das causas da deterioração para o<br />
equacionamento dos problemas da orla marítima e avaliação das alternativas de<br />
recuperação e melhorias, visando a aplicação de estruturas que possibilitem o<br />
melhor aproveitamento dos recursos de forma adequada ao múltiplo uso mais<br />
intenso e a sustentabilidade dos sistemas projetados.<br />
Identificação das escalas da pesca predatória de arrasto, zonas de atuação,<br />
profundidades, tipos de fundo e efeitos na biomassa, visando definição de áreas de<br />
recuperação dos fbindos degradados, as melhorias das condiqões das áreas de<br />
crescimento e estabilização de espécies demersais comerciais, para substituição do<br />
arrasto por modalidades de pesca siistentáveis, com estruturas de recifes artificiais.<br />
Pesquisa de dados estatísticos de produçiio e localização de capturas de espécies<br />
pelágicas para enquaciramento das zonas produtivas e associação com os novos
ecursos de imagens de satélite, contorno de fundo e equipamentos de localização;<br />
visando a definiqão de áreas propícias a instalação de estsuturas fliituantes atratoras<br />
de peixes em camadas específicas da coluna de água, com o objetivo de criar zonas<br />
de concentração de cardumes, facilitando a captura e propiciando a diminuição do<br />
tempo de busca e de c~~stos de viagens.<br />
1.1.2.2. Parimetros da Pesquisa dos Sistemas de MúltipIo Uso<br />
A situação de degradação das zonas costeiras identificada no IV PSRM, com<br />
recomendações de estudos e pesquisas de Ievzntamento de recursos, pod, ser<br />
considerado um fenômeno mundial, como pôde ser observado pela avaliação da<br />
FAOLJN (1998) nas recomendações do ICAW (r'niepied L"osía1 hen Idnnngemenf),<br />
relacionando uma grande rede de iriformações e conhecimento de diversas áreas de<br />
pesquisa. Para compreensão deste tema, a FAO/UN (1996) organizou um grupo de<br />
trabalho de especialistas, buscando organizar as contribuições científicas para proteção<br />
do ambiente marinho, asticulando em nível internacional a necessidade do<br />
gerenciamento costeiro integrado (ICM - Infegrated C~asfal Mamgement), que<br />
originou o ICArW. O objetivo geral do ICM é melhorar a qualidade de vida das<br />
comunidades que dependem dos recursos costeiros, enquanto mantida a biodiversidade<br />
e produtividade dos ecossistemas costeiros.<br />
O ICM, no contexto holístico de proteção ambiental e gerenciamento, observou<br />
que necessariamente os programas de gestão trabalham com um ou mais fatores<br />
segundo três condições:<br />
Sobr-e-expioraçãri de recursos renovhis, seja através da coleta direta ou pela destruição ou<br />
modific,2ção dos habitds ou rompimento da cadeia aiimenta- e outras relações ecológicas.<br />
Conflitos que surgem quando diversas atividades hiunauas que dependem de uma mesma 5rea<br />
ou recurso são iricompatíveis.<br />
Incidência de degradação, induindo perdas de produtividade bioíógica e diversidade, que<br />
podem resultar de impactos caimulativos de diferentes priticas predatórias.<br />
O escopo e foco dos programas do ICM foram descritos na referida Agenda 21<br />
Capitulo 17.5, destacando os seguintes aspectos:<br />
a Identificação dos usos existentes e projetados das áreas costeiras, focdúizanúo sobre suas<br />
interações e interdependências;<br />
Concentração em um tema (ou questão) bem definido;
Aplicação de proposições preventivas e de precaução em projetos de p1,uiejimento e de<br />
implementar,ão, incluindo as ava2iaqães prP,limùiares e observação sistemática de impactos dos<br />
principais projetos;<br />
Promoçiio do desenvolvimento e aplicação de métodos, como os de contabfiização ambientd e<br />
de recursos naturais que reflitam modificação no valor resultante dos usos das áreas costeiras e<br />
mazinbas;<br />
Viabilizaqão do acesso H infurmaçiio aos nsiiários, gmpos oii organizagões pertinentes e<br />
opoi-tunidades para consulta e pwtici1)açáo no planejamento e tomada de decisães.<br />
No âmbito nacional, o segundo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro,<br />
PNGC JI (CIRM, 1997) também balizado pela Agenda 21, em seus princípios expressa<br />
o comnpromisso do Governo Brasileiro com o desenvolvimento sustentável em sua Zona<br />
Costeira, considerada Gomo patrimônio nacional, dos quais destaca-se os seguintes itens<br />
mais pei-tinentes ao escopo desse trabalho:<br />
E 2.2. A observância dos compromissos internacionais a sddos pelo Bi.asil na matéria;<br />
2.4. A utilização snstentávei dos recursos costeiros, em observância aos critérios previstos em<br />
Lei e neste Plano;<br />
2.5. A gestão integrada dos ambientes terrestres e mariahos da Zona Costeira, com a<br />
cons&ução e manutenção de meccanismos transparentes e participativos de tomada de decisões,<br />
baseada na melhor informaç50 e tecnologia disponívd e na convergência e compatibilização<br />
das políticas públicas, em todos os níveis de aclrnirristraçb;<br />
Nos itens que seguem, observa-se a necessidade do desenvolvimento de estudos<br />
sobre a aplicação de recifes na forma de quebra-mar e fundos artificiais nas zonas de<br />
marés e águas rasas, visando a proteção e recuperação de ecossistemas sensíveis:<br />
2.6. A necessidade de ser integrada, na faixa marítima, a área de abi-mgência locdkada na<br />
platiSoimii~ continental, na qual os processos de ti-ansporte sedimentar e modificaç0es<br />
topograficas do fundo marinho constituem parte integrante substancial dos processos costeiros,<br />
e ainda aquela porção de mar onde o efeito dos aportes terrestres sobre os ecossistemas<br />
maiuhos é mais significativo;<br />
2.10. A presei-vação, consri~ação e controle de ;áreas que sejam representativas dos<br />
ecossistemas da Zona Costeira, com recuperação e reabilitação das áreas degradadas ou<br />
descaracterizadas;<br />
2.11, A apEcaqT,ão do Prkc@io de PrecarcgEo tal coma defmiiIIdo sa Agenda 21, adotado-se<br />
medidas eficazes para impedir ou miniínizar- a degradação do meio ambiente, sempre que<br />
houver perigo de dano grave ou ii-reversíveí, mesmo na falta de dados científicos completos e<br />
atmalkados;
e, como informação complementar, inclui-se a necessidade de uma política dirigida e<br />
organizada, através da coopera~ão nos três níveis de governo, federal, estadual e<br />
municipal.<br />
2.12. A execuçiio em conformidade com o princípio da descentralização, assegurando o<br />
comprometimento e a cooperação entre os níveis de governo, e desses com a sociedade, no<br />
estabelecimento de políticas, planos e programas estaduais e municipais,<br />
Comparando o PSRM, em seus princípios com o PNGC 11, este se apresenta de<br />
forma subjetiva e abrangente, passível de diferentes interpretações relativas ao múltiplo<br />
uso, com salvaguardas às questões ambientais. Os objetivos, com a finalidade de<br />
estabelecer normas gerais voltadas a gestão ambienta1 da Zona Costeira do País, para<br />
formulação de políticas, planos e programas estaduais e municipais, incluem:<br />
= A promoção do ordenamerito do uso dos recursos naturais e da ocupação dos espaços costeiros,<br />
subsidiando e otimizando a apiiêação dos instrumentos de controle e de gestão pró-ativa da<br />
zona costeira<br />
= O estabelecimento do prGcesso de gestão, de forma integrada, desceiitralkada e participativa,<br />
das atividades sócio-economicas na zona costeira, de modo a contribuir para eievar a quiiiidade<br />
de vida de ma ~topulação e a proteção de seu patiirnonio natural, históiico, étnico e cultural;<br />
Esses itens fornecem uma clara visão holística dos processos gerenciais de<br />
múltiplo uso, neste caso convocando a participação de pescadores artesanais,<br />
empresários do setor de bioprodução e das atividades complementares. Assim como<br />
uma participação mais efetiva no levantamento dos recursos e esnidos vocacionais para<br />
o múltiplo uso de forma sustentável, observando-se:<br />
O desenvolvimento sistemático do diagnóstico da qualidade ambienta1 da zona costeira,<br />
identiiicaudo suas potencididades, wherabilidades e tendências predominantes, como<br />
elemento essencial para o processo de gestão;<br />
A incorporação da dimensão ambiental nas políticas setoriais voltadas à gestão integrada dos<br />
'mbientes costeiros e marinhos, compatibiiizando-as com o PNGC;<br />
O efetivo controle sobre os agentes causadores de poluição ou degradação ambienta! so5 todas<br />
as formas, que ,ameacem a qudidade de vida na zona costeira; e<br />
A produção e difusão do conhecimento necessiírio ao desenvohimento das ações de<br />
Gerenciamento Costeiro.<br />
Segundo PARECER No. 488197 da Procm-adoria do IBAIVíA (NUNES, 1997),<br />
as normas legais aplicáveis ao Gerenciamento Costeiro, nos seus aspectos ambientais,<br />
existem dúvidas sobre os seguintes assuntos:
Superposição de concorrência das legislações federais, estaduais e municipais;<br />
Diferenciação entre patiimônio da união e patitiimônio nacional;<br />
a Conflitos entre sistemas de licenciamento;<br />
a Ocul~ação e uso do solo;<br />
e Mata Atlhtica;<br />
Recursos Hídrieos; e<br />
Mar Tenitorial.<br />
As Ações Programadas do PNGC II como orientaqão sistemática para a<br />
continuidade do Gerenciamento Costeiro nos níveis Federal, Estadual e Municipal,<br />
incluem nos objetivos também referências a esta questão legal:<br />
Conqatibilizar as ações do PNGÇ com as políticas públicas que iricidm sobre a Zona<br />
Costeira, entre outras, a industrial, de tr'msporte, de ortlen,mento territorial, dos recursos<br />
híùricos, de ocupação e de utilização dos terrenos de marinha, seus acrescidos e outros de<br />
domínio da Uniiío, de Unidades de Conservação, de Turismo e de Pesca, de modo a estabelecer<br />
pai'cerias, visimdo a integração de ações e si otimizsição de resultiidos.<br />
Observa-se neste item sobre a política de múltiplo uso, que ações relativas a<br />
indústria, transporte, ordenamento territorial e recursos hídricos abrangem atividades e<br />
recursos, são mencionados antes do "domínio da União", seguido também de locais<br />
como unidades de conservação e atividades como o turismo e a pesca, dificultando uma<br />
compreensão clara o objetiva do item para possíveis níveis de integração de ações,<br />
enquanto os seguintes propõem as suas formas gerais, sem especificar as atividades.<br />
Promover, de forma participativa, a elaboração e implantação dos P1,mos Estaduais e<br />
Municipais de Gerencimento e dos Planos de Gestão, envolvendo ações de diagnóstico,<br />
monitor~mento e controle mbiental, visando integrar o poder público, a sociedade organizada<br />
e i1 iniciiitiva privada.<br />
Consolidar o processo de Zoneamento Ecológico Econ6mico Costeiro dos Estados, promovendo<br />
a sua atudkaçiio, quando aecessário.<br />
Dar continuidade à implantação e à operacionalização plena do Sistema de Informações do<br />
Gerenciamento Costeiro (SICTERCO).<br />
Promover o fortalecimento das entidades diretamente envolvidas no 8=ereucianento Costeiro,<br />
com atenqão especial para capacitacão dos técnicos.<br />
Promover a integracão entre deinmdas da PNGC e as a@es das aghclas de fomento científico<br />
e tecnológico e das instituições de ensino e pesqmisa.<br />
No item abaixo, especificamente sobre a normatização e ações no âmbito regional e<br />
nacional;
Compatibilizar e complementar as Iioi'mils legais vigentes, que incidam sobre i1 ocupação ou<br />
utikaçiio de recursos ambientais da Zona Costeira.<br />
Implementar ações visando a manutenção e a valorização das atividades ecorihicas<br />
sustentáveis nas comunidades tradicionais da Zona Costeira.<br />
Planejar as ações do PNGC por meio da definiçiio de prioridades: e elaboração de Plmoo<br />
Operativos Anuais @%A), nos dveis Pederal, Est;Pdud e Municipal.<br />
Sistematizsir a &vdga@o das informagões e resdtados obtidos ni execut$io do PNGC,<br />
ressaltando a hpnrtâiicia do Relatírrio de Qualidade Ambientd da Zona Costeira.<br />
Em vista desses tópicos, pode-se resumir que o PNGC trata de aspectos<br />
normativos e de recomendações generalizadas, mencionando de forma discreta algumas<br />
atividades pertinentes ao uso dos recursos costeiros, levando a busca de informações<br />
diretamente ligadas ao tema dessa pesq~lisa, como as determinações acordadas no forum<br />
internacional, publicadas pela FAO/UN e outras p~~blicaçCles sobre sistemas de míiltiplo<br />
uso do espaço marinho com emprego de estruturas de proteção e bioprodugão.<br />
1.1.2.3. Composição de Sistemas Integrados de Múltiplo Uso<br />
Como foi observado, para que seja implementada uma política nacional voltada<br />
a aplicação de estruturas artiÍiciais interagindo com o ambiente naiurai, se torna<br />
necessário uma justificativa mais aprohndada de sua importância para a<br />
sustentabilidade. Nesse sentido, torna-se necessário a observação da importância dessas<br />
construções para a manutenção da integridade física da linha costeira, a rec~iperação de<br />
áreas degradadas próximas da costa e o enriquecimento e indução da bioprodução na<br />
plataforma continental, buscando a manutenção e crescimento de atividades econômicas<br />
tradicionais como a pesca e emergentes, como mergulho recreativo, turismo ecológico e<br />
lazer cultural.<br />
A principal discussão sobre as estruturas artificiais, apesar de sua indiscutível<br />
eficiência para pesca constatada em práticas seculares, continua sendo em tomo de sua<br />
inieração com o habitat natural. Em estudo recente sobre interagão da pesca marítima e<br />
os habitats (LANGTON E AUSTER, 1999), buscou-se avaliar em qual extensão a<br />
atividade pesqueira e os habitais são interdependentes, levantando novas questões em<br />
relação as medidas gerenciais propostas pelo Código da Pesca Responsável (FAOIUN,<br />
1995). Neste caso sugerem que é mais importante a manutenção da integridade dos<br />
habitats que os padrões de limitação a partir do máximo nível sustentável da pesca,
atualmente em prática para regulamentação de pesca de cada espécie numa determinada<br />
região.<br />
Na pesquisa das recomendações internacionais propostas pela FAO, observou-se<br />
como premissa para o desenvolvimento tecnológico a nível regional, as caracterÍsticas<br />
principais do IC'Vf, como um processo contínuo e dinâmico direcionado ao<br />
desenvolvimento sustentável e a proteção dos habitats das áreas costeiras, cujo conceito<br />
de "integrado" aborda o gerenciamento dessas áreas intencionalmente de forma<br />
abrangente, em função de quatro elementos:<br />
GEOGR~XCOS: na consideraqão de inter-reilaqões e inteadependências (físicas, químicas,<br />
biológicns e ecológicas) entre os eomyonentes terrestres, estuarinos, Litor,ineos e oceânicos,<br />
compreendidos na região costeiry<br />
TEIMPORAIS: sustenta o planejamento e implementação das ações gerenciais no contexto das<br />
estratégias de longo prazo;<br />
SETORIAIS: contaloiliza iIS inter-relações entre os vásios usuários das áreas co~teii*i~s e de seus<br />
recursos, assim como os interesses sócio-econômicos e vdores associados;<br />
POLI~OS~~STITUCIONAIS: fornece de maneira msis zbrmgente possível consultas entre<br />
o governo, setores sociais e economicos, e a comiinidade iiii yoiítica de desenvolvimento,<br />
planejamento, resolução de conflitos e regulamentação ~erthentes à todas as questões que<br />
afetem o uso e proteçgo das áreas coüteisas, i.ecursos e atrativos.<br />
Quanto às questões científicas mais relevantes para degradação e restauração de<br />
habitats costeiros, visando a implantação de Sistemas Sustentáveis de Múltiplo Uso, o<br />
grupo de especialistas do ICMidentificou as seguintes:<br />
Qud a escala de destsuicão do habitat?<br />
Nessa questão primária, as a~ões siibsequentes de gestão e cientíncas devem ser clirigidas a<br />
percepção da magnitude do problema. A deteccão da escala de detesioração do habitat pode ser<br />
obtida por instmneiitos, como seilsoriamento remoto, levantamentos acústicos de sedimentos e<br />
Sistema Geográfico de Informação (GIS), sendo iiidisperisável o lewntatnento de dados lustóricos<br />
para estudos comparativos.<br />
Quais sb os pi*ocessos naturais que mantêm a integsiriarle do habnbitat?<br />
O uso racionai dos recursos, Iilcluindo o da terra, o planejamento e zoneatnento, e premissa no<br />
conhecimnento dos processo naturüis que podem levar u dtew@o das características dos liabitats,<br />
como as topográncas e de produtividade.<br />
Qugs são os elos eotir os hzbitats que preeism ser considerados na uií?o=tenção da<br />
siisientabilidade de asu dos seus recursos?
Os hbitats que são espacialmente separados são com fieqiiência dependentes entre si para troca de<br />
materiais e energia. Como exemplo tem-se o recmtamento de importantes espécies de peixes de<br />
recifes e provavelmente as larvas de coral provenientes de outros habitats ou áreas de crescimento.<br />
Pode a relação entre a degradação dos Inabitats e as atividades humanas serem quantificadas?<br />
Neste caso envolve esttrdos das características das atividades humanas que relacionadas as alterações<br />
na base de recursos nacionais (crescimento, migrações, declínio), como as modincações nos padrões<br />
de uso de recursos e na aplicação de temologia de exploraqão de recursos.<br />
Qumtas espécies são ativamente dependentes dos habitds sob obsei-vação?<br />
Slo todas as espécies igrraliitente importantes para os propósitos de conseríração?<br />
Quais são as escalas espaciais e temporais da recuperaqão do habftat natural?<br />
Quando o manejo considera a extensão espacial e períodos de tempo envolvidos na degradação de<br />
lmbitats, para recuperação natural, decisões têm que ser tomadas considerado a necessidade de<br />
intervenqão. Percepção do processo natim.1 motivaado a recuperaqão (incluindo escala temporal e<br />
espacial) podem ser derivadas de eventos naturais, como por exemplo a observação da colonização<br />
seguida de uiii distúrbio de grande escala (como furacão).<br />
Quais espécies têm o papel mais importaute no processo naturai de recuperação?<br />
Espécies em particular desenipeiiham um papel mais crítico que ornas, em temos de inanutenção<br />
das funções do ecossistema (Ge. Produtividade, ciclo de nutrientes, predação). Este conhecimento vai<br />
guiar as estratégias de restauração, as quais por razões logísticas podem enfocar no mínimo<br />
complemento de espécies para conseguir a recuperação nahuill.<br />
Seguindo esse escopo básico das recomendações do grupo de especialistas do ICM,<br />
surgiram as iniciativas do ICMS para o desenvolvimento e implementação da análise<br />
integrada das atividades de produção e serviço na zona costeira e dos sistemas de<br />
monitoração ambiental. A adoção e a eficiência de bases científicas de estudos do<br />
manejo dos ecossistemas depende da qualidade e extensão da composição da base de<br />
informa~ões e do vigor e eficiência do sistema de suporte de apoio ao processo<br />
decisório, nesses ambientes complexos. Para isso, se torna necessário uma eficiente<br />
infraestrutura de informação com dados espaciais e temporais muliivariáveis, que<br />
dependem de tecnologias avançadas para aquisição de dados, integração, disseminação<br />
e análise, atualmente viáveis através de sistemas computacionais, manipuíação de<br />
imagens de satélite e outros equipamentos para obtenção de dados ambientais.<br />
A interdependênsia dos sistemas costeiros levou a equipe de especialistas da FAO<br />
a incluírem na ação integrada o inter-relacionamento das atividades agrícolas e<br />
florestais, que de forma direta e indireta influem nos ecossistemas costeiros e na<br />
atividade pesqueira, tendo como fator comm o regime de águas e o uso dos rios.<br />
Como foi visto, os manguezais e os estuários tem infiuência direta nos processos de
eprodução e criação da base de produção da atividade pesqueira, e em outras formas de<br />
uso mais recentes como o turismo ecológico e outras atividades recreativas e culturais.<br />
Entre as motivações apontadas pela FAO para essa visão de gestão integrada destaca-se<br />
a resolução de conflitos, buscando alternativas técnicas de colaboração, visando<br />
negociação para implementação de regulamentação de consenso.<br />
Como se pode observar nas questões acima apresentadas, a integridade e as<br />
possibilidades de uso sustentável dos ambientes naturais dependem de conhecimentos<br />
específicos e localizados, em geral de domínio de pescadores e habitantes locais.<br />
Medidas para serem implementadas dependem de negociação direta e definição de<br />
objetivos claros, visando a conciliação de interesses. No caso da Região Sudeste, além<br />
dessas questões específicas de manejo e sustentação de habitats naturais, medidas de<br />
preservação só podem ser aplicadas de forma direta em áreas mais remotas. Outros<br />
aspectos devem ser considerados para locais com maior concentração habitacional e<br />
acúmulo de atividades de recreação e lazer.<br />
No contexto do trabalho de pesquisa voltado as atividades complementares de<br />
turismo e lazer no espaço costeiro, o cenário 6 mais abrangente e as condições<br />
operacionais para intervenções com obras de estruturas de proteção dependem de<br />
fatores sociais relativos aos interesses da população e econômicos, que justifiquem os<br />
custos do investimento. Estudos mais aprofundados dessas relações sócio-econômicas<br />
de múltiplo uso na faixa costeira foram organizados por uma equipe interdisciplinar<br />
financiada pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Alimento, do Reino Unido, que<br />
resultou na publicação "ne Economics of Coasfal Mnnagen~enf" (A Economia do<br />
Gerenciarnento Costeiro) ( PEIWG-ROWSELL et al., 1992), na forma de um manual<br />
onde são apresentados os principais Mores referentes as relações de custos e beneficios<br />
das intervenções de obras de recuperação e proteção da faixa costeira. Este trabalho<br />
inclui métodos de avaiiação de potenciais de perdas e beneficios em casos de erosão da<br />
costa, impactos de projetos de proteção da costa e quebra-mar voltados a áreas de<br />
recreação e sobre os ganhos em potencial de obras de proteção ambienial. As<br />
proposições da publicação serviram de orientação para as iniciativas quanto a sistemas<br />
de múltiplo uso.<br />
As construções costeiras projetadas para proteção de praias e enseadas, associadas a<br />
instalação de zonas de propagação na forma de fazendas marinhas extensivas,<br />
começaram as ser construidas no Japão, através de programas de governo,<br />
reconhecendo a importância do desenvolvimento de habitats artificiais nas faixas a
partir da zona de mar6s, sendo posteriormente aplicados nos Estados Unidos.<br />
Atualmente, em muitas dessas áreas foram instalados laboratórios de larvicultura,<br />
associados as cooperativas de pesca, que promovem a liberação de crustáceos e peixes<br />
para engorda na natureza e captura quando atingem o tamanho comercial.<br />
Praticamente até a publicação do "Código de Conduta para Pesca Responsável"<br />
(FAO, 1995) o reconhecimento da importância dos recifes artificiais como forma<br />
operacional de pesca era restrito aos países que dominavam a tecnologia, apesar de sua<br />
comprovada eficiência. Analisando a forma como está proposta no Código, pode estar<br />
relacionada as recomendações da IMO (Intern~tiona12Ma~'ifime Organization), incluídas<br />
no doc~imento "Decomnissioning of 0Hshoí.e Oil and Gas InstaZations - Fiding fhe<br />
Right Balance" (IOGI, 1995), que resultou no Oflshore Decorilmissioning<br />
Cor~~n~znicntions Projecf patrocinado por mais de 60 empresas da IOGI (7nte~nntioncrl<br />
Oil & Gas I17dustíyl - 2% Internationa2 Offshore OiZ and Natwal Gas Exploration &<br />
Pr.odzftion Indusfry para o descomissionamento de instalações de produção de petróleo e<br />
gás, assim como de navios e outros equipamentos sucateados, como pode ser observado<br />
a seguir:<br />
Artigo 8.10. Ab'mdono de Estruturas e Outros Materiais<br />
8.10,1, Estados devem assegurar que os padrões e recomendaqões para a remoção de<br />
estruturas desdivadas estabelecidas pela IMO devem ser seguidas. Estados devem<br />
também assegurar que as autoridades competentes da pesca sejam consultadas<br />
antes da tomada de decisões sobre o abandono de estruturas e outros materiais<br />
peias autoridades relmsentsitivas.<br />
e sugestões quanto ao destino dessas superestruturas desativadas e fora de uso, como<br />
pode ser observado:<br />
Artigo 8.11. Recifes Ai-tificiais e Equipamentos Agregadores de Peixes<br />
8.11.1. Estados, onde for apropriado, devem desenvolver politicas para o aumento da<br />
população dos estoques e enriquecimento das oportunidades de pesca, atriPvés do uso de<br />
esti-uturas artificiais, colocadas com as devidas recomendaqões para segurança da<br />
navegação, sobre ou acima do solo submarino ou na superfkie. Pesquisa sobre o uso de tais<br />
estruturas, incluindo os impactos sobre os recursos marinhos vivos e o ambiente, devem ser<br />
promovirlos.<br />
8.31.2. Estados devem assegurar que, qilmdo selecionando mderifiis prfi serem usados na<br />
criação de recifes artificiais, assirir como quando sdeciorimdo a locdização ge~gr~~ca do<br />
recife artificial, a previsão das convenções internacionais relevantes concernentes ao<br />
tambiente e segriraoqa da navegação devem ser observadas.
8.11.3. Estados devem, dentro do contedo dos planos de gei-enci'unento das áreas costeiras,<br />
estabelecer sistemas de manejo para a~%fiP,iais e apareihos agregadores de peixe.<br />
Tais sistemas de m'mejo requerem aprovação para colistiução e instalação desses recifes a<br />
agregadores e devem ser considerados os interesses dos pescadores, incluindo i~i-iesm~s e<br />
de subsistência.<br />
8.11.4. Estados devem assegurar que a autoridade i~sponsável pela manutenção de<br />
registros cartográficcos e csirixas pima o propósito de navegação, assim como as autoridades<br />
~rnhientais pertinentes, sejam informadas ates da instdaqãe eii remoção de recifes<br />
artificiais ou aparclfros agregadores de peixe.<br />
Essas recomendações da FAO (1995) sobre o tema, como pôde ser observado,<br />
abrangem todos os segmentos âbordados sobre a instalação de estruturas, seja na fâixa<br />
costeira ou ao largo da plataforma continental. As condições e formas de aplicação<br />
dessas estsuturas submarinas costeiras e oceânicas, como instsumentos operacionais<br />
para formação de sistemas sustentáveis de múltiplo uso serão discutidas neste trabalho.
PARTE 1:<br />
FATORES CONDICIONANTES DA PESQUISA SUBMARINA <strong>PARA</strong> O<br />
MÚLTIPLO USO SUSTENTÁVEL <strong>DE</strong> RECURSOS<br />
Apesar de ainda pouco difundida no Brasil, a pesquisa submarina "in situ" tem sido<br />
nas últimas décadas o principal instrumento de avaliação e coleta de informações sobre<br />
o que ocorre no espaço tridimensional oceânico. Registros apresentados a seguir<br />
indicam que este método vem sendo empregado a mais de dois séculos, desenvolvendo<br />
equipamentos e gerando diversas formas de conhecimento, indispensáveis a qualquer<br />
processo de desenvolvimento de sistemas de bioprodução aquática .<br />
11.1.1. Resumo Histórico da Pesquisa Submarina<br />
. Embora alguns historiadores do mergulho como Jacques Cousteau e James<br />
Dugan (DUGAN, 1959) atribuírem o primeiro mergulho de pesquisa científica a Henry<br />
Milne-Edwards, na realidade esse registro se deve a Felipo Cavolini em 1780, ambos na<br />
Baia de Nápoles. O fato foi relatado em "Memorie per sewire alla storia de polipi<br />
nzarini" de 1785, sobre seus estudos de hidrologia. Devido a esse trabalho, Cavolini foi<br />
considerado o precursor do cultivo de esponjas (ALLEN, 1896), descobrindo que elas<br />
podiam ser replantadas em outros locais.<br />
Nesse período, Augusto Siebe começou a desenvolver o capacete de mergulho<br />
com bomba de suprimento de ar na superfície, permitindo um trabalho mais prolongado<br />
no fundo do mar. Em 1837, evoluiu para o protótipo do escafandro completo, que mais<br />
se adaptava ao clima europeu, nas operações de salvatagem, pesca de esponjas e corais.<br />
Com o uso desse equipamento o mergulho científico passou a ser divulgado, quando<br />
MiIne-Edwards em 1844, passou estudar as comunidades bentônicas "in situ".<br />
Entretanto, o desenvolvimento da pesquisa submarina só começou a ocorrer<br />
quando Darwin em 1857, divulgou sua teoria sobre a origem da vida no mar em<br />
contraponto as teorias de Lamark, provocando a mudança de rumo das pesquisa<br />
tradicionais e acirrando as diferenças entre França e Inglaterra. Esse fato pode ser<br />
verificado, observando-se que em 1859, foi inaugurado na França a primeira estação<br />
biológica marinha, a de Concarneau; e até 1892 outras onze foram criadas em vários<br />
pontos da costa Fancesa. Nesse mesmo período foram criados os laboratórios de
iologia marinha de Plymouth na Inglaterra e o de Woods Hole nos Estados Unidos.<br />
Um forte indício de que as teorias de Darwin tiveram influência na criação dos<br />
laboratórios de pesquisa marinha (além da rápida proliferação dos mesmos), foi seu<br />
próprio interesse em financiar essas instalações, como ocorreu em Nápoles. O cientista<br />
mergulhador Arton Dohrn em 1874, conseguiu com Darwin mil libras esterlinas para<br />
instalação do laboratório de biologia marinha da Estação Zoológica de Nápoles, por ele<br />
inaugurada no ano anterior. Posteriormente Dorhn ajudou Charles Whitman no<br />
planejamento do laboratório de biologia marinha da U.S. Commission of Fisheries em<br />
Woods Hole e trabalhou dois anos com David Robertson, um auto didata que em 1885<br />
hndou a estação de Millport na Escócia (HARGREAVES, 1985).<br />
Os trabalhos gerados por cientistas mergulhadores da Estação de Nápoles<br />
incluíam obras de arte, retratando as formações bentônicas de corais, anêmonas e outras<br />
espécies. As criações de ANDRES (1884) por exemplo, são gravuras ricamente<br />
trabalhadas, transmitindo uma visão de cores realçadas do mundo submarino. Com<br />
extrema precisão de detalhes e cores de importância científica, destacam-se os trabalhos<br />
de BERTHOLD (1882) sobre algas. Na época os pesquisadores conduziam seus estudos<br />
em até 30 metros de profundidade, com equipamentos financiados pelo governo<br />
alemão, que investiu 40 mil marcos. A Baia de Nápoles foi o berço do mergulho<br />
científico e na época já era considerada o principal centro de pesquisa da ecologia e<br />
biologia marinha.<br />
A oceanografia começou a contar com mais recursos, após as viagens do<br />
explorador Ross pelo Ártico, que trouxe espécimes marinhas coletadas a 5 mil metros<br />
de profundidade, numa época em que não se acreditada que houvesse vida a mais de<br />
500 metros. As descobertas foram suficientes para que se organizassem as expedições<br />
do "Challenger", de 1872 - 76 e logo a seguir a de Agassiz a bordo do "Bale" de 1877 -<br />
80. Ambas com o objetivo básico de conhecer a vida marinha. Outros estudos<br />
oceanográficos só foram iniciados no Século. XX, como ciência e não como<br />
complemento a arte de navegação (HARGREAVES, 1985).<br />
O mergulho científico se desenvolveu em decorrência da busca por novos<br />
conhecimentos de biologia e ecologia marinha, enquanto os conceitos tradicionais de<br />
oceanografia e a zoologia foram se modificavam, surgindo novas teorias. Atualmente as<br />
conexões entre Oceanografia e Biologia Marinha são evidentes, como concluiu DRACH<br />
(1982), "A Oceanografia pode portanto ser considerada como sinônimo de Ecologia<br />
Marinha, ou mais exatamente Sinecologia Marinha". Até o Século XIX o mar era
considerado uma continuação da terra, assim acreditava-se que tanto a zoologia como a<br />
botânica podiam com seus conceitos, analisar e definir a vida marinha.<br />
Através do mergulho os cientistas começaram a observar diretamente o inter-<br />
relacionamento das espécies, substituindo os métodos tradicionais com draga e rede de<br />
arrasto, que só traziam a superfície massas sem vida, via de regra com cada espécie<br />
disforme e contorcida. Esses métodos são ainda os principais meios de levantamento<br />
utilizados no Brasil. Surgia também o intercâmbio internacional de técnicos, que gerou<br />
uma nova mentalidade científica, e dessa forma as técnicas do mergulho e linhas de<br />
pesquisa submarina começaram a ser difundidas.<br />
Desde a sua criação, o laboratório de Arago em Banyuls-sur-Mer na França, o<br />
mergulho teve grande influência nas pesquisas e desenvolvimento de técnicas<br />
submarinas de investigação. Louis Boutan por exemplo, pode ter sido na 6poca o único<br />
biólogo a dedicar-se exclusivamente as espécies marinhas, seu interesse pioneiro no<br />
desenvolvimento da fotografia submarina foi trazer a superfície imagens da vida<br />
submersa, de forma mais realista que os elaborados desenhos. Entre outras suas<br />
descobertas, ele foi o primeiro que escreveu sobre o efeito refratário da água nas lentes e<br />
que os objetos tomam-se maiores e mais próximos (BOUTAN, 1898). Conduzia suas<br />
pesquisas em dois laboratórios, com experimentos diferentes, seu trabalho sobre a<br />
produção artificial de pérolas na concha de Haliotis tuberculata foi desenvolvido na<br />
estação de Roscoff. Nesses estudos descobriu a capacidade de fixação dos moluscos<br />
através do bisso, mudando o paradigma da maricultura de moluscos em estacas e outros<br />
tipo de estrutura.<br />
No Laboratório de Plymouth na Grã-Bretanha, os cientistas já discutiam os<br />
problemas do cultivo de esponjas nas Bahamas e os experimentos de transplantes na<br />
Flórida, havendo inclusive a introdução de espécimes exóticas trazidas da Europa,<br />
exigindo dos mergulhadores a elaboração de métodos, procedimentos de coleta e<br />
transporte. Enquanto no Japão, o cultivo de pérolas era desenvolvido por Nikimoto na<br />
ilha de Toba.. A arte japonesa do mergulho foi a que mais evoluiu na época, incluindo o<br />
domínio do uso do escafandro, praticamente dominando toda indústria de pérolas da<br />
Austrália e grande parte do oceano Pacífico (IDRIESS, 1938).<br />
A importância do mergulho científico para pesca comercial deve ter sido<br />
significativo e merece estudos adicionais. Os cientistas nessa época tinham interesse nos<br />
mergulhos de levantamento e coleta de determinada espécie, que acabou por gerar<br />
subsídios para pesca de mergulho comercial, num período em que o mundo submerso
era praticamente desconhecido. Essa discussão se estende quando levamos em conta que<br />
os historiadores procuravam fazer do mergulho um mistério, envolvendo risco, tesouros<br />
e pirataria, criando uma imagem negativa do mergulhador.<br />
Por outro lado, atribuir o desenvolvimento das técnicas submarinas somente à<br />
atividade de salvatagem e pesca parece inválida, visto que foram os cientistas que<br />
criaram as primeiras técnicas de cultivo e de fotografia submarina.<br />
Desde o início do Século XX, o mergulho passou a ser considerado como parte<br />
integrante de qualquer expedição científica marinha, principalmente em águas tropicais,<br />
com fotografias e filmes trazendo a superfície imagens da vida submarina. O Instituto<br />
Carnegie desde 1921 incluiu o mergulho como parte indispensável dos programas de<br />
pesquisas. As expedições por mares tropicais estendiam-se pelas Antilhas, Ilhas Fiji,<br />
Tonga, Palo-Palo e outras regiões, iniciando-se o processo de mapeamento submarino.<br />
Os recifes de corais no mar do Caribe começaram a ser pesquisados com freqüência,<br />
MAYOR (1 924) por exemplo registrou desde 191 1, vários perfiz do relevo submarino<br />
e suas formas de vida.<br />
No início do Século XX, o zoólogo Willian Beebe da New York Zoological<br />
Society, além de sua inestimável contribuição científica, deixou sugestivas idéias de<br />
jardins submarinos entre os corais e pinturas a óleo no fundo do mar; caracterizando o<br />
mergulho como uma atividade de lazer e artística, além de inspiração científica. Durante<br />
a Expedição Oceanográfica Arcturus (BEEBE, 1926) rodaram mais de 3 mil metros de<br />
filme, fotografias e reproduções em gravuras coloridas. Estabeleceram 150 estações e<br />
trouxeram muitas amostras de fundo com dragas e arrastos. Um minucioso estudo foi<br />
conduzido sobre os diversos tipos de equipamentos utilizados, como fotográficos,<br />
pescarias, capacetes de respiração, barcos de suporte, roupas especiais e suas utilidades<br />
(TEE-VAN, 1926), estabelecendo relações com os animais e condições ambientais da<br />
pesquisa de mergulho.<br />
Até essa época o homem não tinha ultrapassado os 150 m de profundidades, e<br />
Beebe buscava o conhecimento em águas mais profundas, quando conheceu Otis Barton<br />
que procurava utilização para sua "batisfera". Em 1930, dentro dessa esfera de aço<br />
atingiram os 420 metros de profundidade na costa do Haiti, iniciando as pesquisas em<br />
águas mais profundas. Em 1932 atingiram os 3000 pés de profundidade (915 m),<br />
trazendo imagens reais do comportamento das espécies abissais em seus habitats<br />
(BEEBE, 1935).
Os primeiros trabalhos de pesquisa sobre substratos de estruturas de aço no<br />
Atlântico Norte incluiu a participação de mergulhadores contratados, (LYLE, 1929)<br />
num levantamento das algas que cobriam os cascos dos navios alemães afundados em<br />
Scapa Flow na costa da Escócia. Esse trabalho é importante porque estabelece os<br />
primeiros parâmetros sobre a cobertura bentônica em estruturas artificiais. Também os<br />
mergulhadores de salvatagem faziam suas contribuições ecológicas, como DAMANT<br />
(1921), que durante paradas de descompressão, dedicou-se a observar o comportamento<br />
plactônico através de uma luneta improvisada, em relação as estratégias das cavalinhas<br />
e arenques, que escondidas a sombra dos navio, podiam selecionar os de sua preferência<br />
para alimentarem-se. Foi provavelmente a primeira pesquisa de plancton através do<br />
mergulho.<br />
A liberdade de mergulho nas áreas tropicais de certa forma contribuiu para<br />
estudos mais intensos nessas regiões. No norte da Europa o clima mais fiio prejudicava<br />
as pesquisas submarinas, exigindo escafandros completos e experiência, para condições<br />
de mar menos propícias para o mergulho científico. No Mediterrâneo começava a surgir<br />
outra forma de mergulho, a caça submarina, com a máscara adaptada dos pilotos de<br />
aviação de seu criador, Guy Gilpatrick, e as nadadeiras de Corlieu.<br />
Começava a nascer também o mergulho autônomo das mãos de Yves le Prieur<br />
em 1924, com nadadeiras, máscara e uma garrafa com ar comprimido de saída<br />
controlada manualmente, que permitia maior liberdade de movimento, dando início ao<br />
mergulho recreativo. Na Califórnia, Glenn Or fundou o clube esportivo de mergulho<br />
"The Botton Scratchers" e na França criava-se o "Club des Sous 1Eau" fundado por<br />
Yves Le Prier. No Brasil não foi possível encontrar referências dessa época, entretanto<br />
podem ter havido importação desses equipamentos e mergulhos no litoral do Rio de<br />
Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Norte.<br />
O fundo do mar começou a despertar o interesse e MINER (1934), trouxe ao<br />
público o exaustivo e minucioso trabalho que vinha sendo conduzido pelo Museu<br />
Americano de Historia Natural. O fabuloso projeto construiu uma enorme reprodução<br />
do fundo coralino, o "Hall of Ocean Life". Para obter maior fidelidade, os artistas<br />
levavam suas reproduções para o fundo do mar e comparavam com o modelo original.<br />
O mergulho abria seu espaço aos artistas plásticos.<br />
Na pesquisa submarina pioneira sobre a cobertura bentônica em superfícies<br />
rochosas na Inglaterra, de KITCHING et al. (1934), o mergulho foi avaliado em seus<br />
vários aspectos, que incluíam as vantagens e restrições do uso de capacete, e os métodos
de coleta e avaliação. O estudo foi conduzido nas imediações do laboratório de<br />
Plymouth na Inglaterra, onde a água é fria, ocorre pouca visibilidade e há constante<br />
interferência de intempérie. Neste trabalho constatou-se a incapacidade de qualquer<br />
outro método convencional, em coletar ou pesquisar as encostas e cavernas de regiões<br />
rochosas. Pode-se analisar com bastante precisão, pela primeira vez na região, a<br />
ocorrência das espécies em várias profundidades e diferentes níveis tróficos, incluindo<br />
estudos de luminosidade, com fotômetro submarino e a influência de fenômenos físicos<br />
na vida submarina. Nos mergulhos do verão de 1931-32 foram levantadas 20 novas<br />
espécies nunca antes registradas nos arredores de laboratório, já na época com 80 anos<br />
de funcionamento.<br />
A técnica de caça submarina foi aplicada em pesquisas ictiológicas, por<br />
IMIRAGLIA (1935), e um interessante glossário de espécimes estudadas com,<br />
comportamento, nichos e hábitos. 8 trabalho comparava outros métodos de pesquisa,<br />
como o capacete de mergulho e o escafandro convencional, que presos a superfície<br />
impossibilitava a mobilidade atrás do peixe. A pesquisa teve início na Baia de Nápoles,<br />
em 1932, onde conheceu Tukumori Agari, proveniente de Okinawa no sul do Japão,<br />
tradicional região de caçadores submarinos. O material básico consistia de um arpão e<br />
óculos de natação, que foram amplamente discutidos pelo autor (pressão, visibilidade,<br />
limites, etc.), além do método de descida e seu emprego para pesquisa científica.<br />
Foi também nesse período que através do mergulho Carl Hubbs constatou a<br />
importância dos recifes artificiais para concentração de pescado em águas interiores, na<br />
época em que se empregava outra terminologia como, atratores, concentradores ou<br />
esconderijo (HUBBS e ESCHMEYER 1938).<br />
O método de mergulho de pesquisas com capacete alimentado por um<br />
compressor e mangueira, o precursor do narguilé atual com máscara e regulador de ar<br />
bocal, com todas as suas restrições já havia sido reconhecido como instrumento<br />
indispensável para pesquisa dos ecossistemas submarinos (CONKLIN, 1933).<br />
Ainda faltam registros sobre pesquisas ecológicas oceanografias submarinas no<br />
Brasil, algumas informações indicam que o escafandro completo foi utilizado na<br />
atividade de coleta do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, sem que se possa<br />
determinar em que escala e por qual período. Talvez o capacete tivesse sido utilizado,<br />
mas cabe salientar dois fatores básicos, as águas nesse quadrante são claras e frias,<br />
enquanto a partir do cabo Búzios para norte a visibilidade é menos favorável. Esse ciclo<br />
se encerra com o início da Ii Guerra Mundial. O novo período é do mergulho autônomo
com o aparelho desenvolvido em 1944, por Jacques-Yves Cousteau e Emile Gagnan, o<br />
"scaphandre-autonoms". Com esse equipamento Frederic Dumas consegue atingir os 60<br />
metros de profundidade, abrindo os mares para era das explorações submarinas.<br />
11.1.2. Evolução da Pesquisa de Sistemas Oceânicos<br />
O equipamento de mergulho autônomo, escafandro autônomo, aqualung, ou<br />
SCUBA (Self Container Underwater Breathing Apparatus), permite total liberdade de<br />
movimentos na coluna de água, acabando com o "cordão umbilical" que ligava o<br />
homem a superfície. Assim pode-se percorrer grandes distâncias, com a liberdade de<br />
movimento de um peixe ou do vôo sobre o fundo do mar. O cientista enfim, estava livre<br />
para flutuar até 50 metros de profundidade.<br />
Ainda no final da Década de 40 o mergulho passou a ser mais respeitado e a<br />
influenciar a comunidade científica européia. Sua área de domínio partiu exatamente de<br />
onde nenhum outro equipamento poderia alcançar, as "faixas rochosas das zonas<br />
litorâneas profundas" como denominou DRACH (1948a), no seu primeiro trabalho com<br />
equipamento de mergulho autônomo. Soube verificar e relatar as principais vantagens<br />
sobre o escafandro convencional ou capacete de mergulho, não mais em pé na posição<br />
vertical. O novo equipamento permitia que se movimentasse com mais facilidade em<br />
qualquer profundidade, viabilizando o mergulho em fundos acidentados.<br />
A importância deste cientista para divulgação do mergulho autônomo como<br />
atividade científica, pode ser aquilatada pelo fato de ter iniciado Jacques Cousteau no<br />
estudo da vida marinha, dando os primeiros estímulos para que o mergulho autônomo<br />
ganhasse o mundo através das mãos de seu criador. Entre o período de agosto de 1947 a<br />
outubro de 1948, mergulhou 40 vezes, iniciando essa campanha no Mediterrâneo,<br />
estendendo-se pelo Canal da Mancha e terminando no Rio de Janeiro, introduzindo esse<br />
método de pesquisa no Brasil.<br />
No contexto da tese esse fato é relevante porque com estas pesquisa a ciência no<br />
pós-guerra começou a conhecer mais as superfícies bentônicas em águas mais profundas<br />
e a se certificar que as faces rochosas eram realmente os mais importantes agregadores<br />
da vida submarina.<br />
Seu segundo relatório sobre essas áreas visitadas, trataram dos limites de<br />
expansão dos espécimes na cobertura bentônica, em cada local e profundidade (DRBCH<br />
1948~). Os dois trabalhos dão destaque ao fato das superfícies rochosas estarem sempre<br />
cobertas de vida, e da quantidade de formas planctônicas de larvas provenientes dessas
espécies, a importância das correntes e as condições topográficas para formação desses<br />
sistemas naturais. Essas informações sugerem que pesquisas devem ser dirigidas a<br />
estudos comparativos desses diferentes grupos de especialistas, incluindo os relatórios<br />
do início do Século XX conduzidos também em águas tropicais, verificando-se<br />
métodos, comparando-se resultados e as condições atuais de cada ecossistema.<br />
Com o avanço dos levantamentos através do mergulho autônomo, o método<br />
passou a ser considerado melhor e mais eficiente para pesquisas bentônicas, no Scripps<br />
Institution da Universidade da Califórnia durante o simpósio realizado em 1956, sobre<br />
os futuros caminhos da Biologia Marinha. Durante o evento, REDFIELD (1958)<br />
questionou a maneira empírica como vinham sendo feitos os experimentos nos<br />
laboratórios de biologia marinha, em condições artificiais fora da realidade do ambiente<br />
submarino; e ZENKEVITCH (1958) sobre os problemas imediatos que dificultavam<br />
seu desenvolvimento. Ambos relataram principalmente as inconveniências e<br />
dificuldades de se conduzir experimentos em laboratórios, de como reconstituir o<br />
ambiente marinho em terra, assim como às dificuldades de conduzi-los diretamente no<br />
mar.<br />
DRACH (1958) em detalhado estudo sobre as desvantagens das dragas e redes<br />
de arrasto, apresentou os inconvenientes dos métodos indiretos de estudos bentônicos.<br />
Demonstrou que o mergulho autônomo era o maneira mais eficiente para se conduzir<br />
qualquer pesquisa científica dessa natureza. Pelo menos até a profundidade onde o<br />
homem pudesse alcançar. Suas críticas as dragas e arrastos, que eventualmente<br />
poderiam ser mais quantitativas, não representavam a totalidade de animais encontrados<br />
em uma determinada área, pois uma grande parte dos animais têm mecanismos de<br />
defesa e sabem como escapar. Além disso, sem uma visão direta, não se pode avaliar<br />
exatamente quais as características dos locais da amostragem, nem sempre<br />
representativos da região.<br />
Tanto as dragas como os arrastos para serem eficientes demandam tipos<br />
especiais de fundo planos e sem rochas, mesmo as redes e aparatos especialmente<br />
desenhados limitam-se a determinadas espécies, nunca trazendo a superfície uma visão<br />
geral do sistema. Por outro lado, esses métodos geralmente trazem à superfície uma<br />
massa disforme, difícil de ser analisada e interpretada corretamente. Tais argumentos<br />
foram fortalecidos nesse simpósio por outro pioneiro do mergulho autônomo, RIEDL<br />
(1958) no seu trabalho sobre a eficiência dos métodos de pesquisa no fundo do mar e a<br />
maior precisão dos seus resultados. Além da simples coleta e observação de populações
entônicas, o mergulho autônomo passou a ser uma forma corriqueira de se locomover<br />
no fundo do mar, o cientista observava o que interessava no seu caminho, afinal tudo<br />
era na época praticamente desconhecido.<br />
No Scripps Institution, em La Jolla, o aqualung fornecido pela marinha começou<br />
a ser utilizado por pesquisadores mais jovens, que passaram a incentivar seus colegas<br />
veteranos, fundando assim um núcleo de mergulho científico na instituição. Em pouco<br />
tempo o Scripps se tornou o maior centro de mergulho científico do planeta,<br />
concentrando o maior número de mergulhadores de diversas especializações que iam<br />
surgindo, como geologia, acústica submarina, física, química, e outras. Dessa forma foi<br />
possível proceder os primeiros mapeamentos completos, com dados pertinentes a cada<br />
áreas de estudo.<br />
A colaboração do pesquisador Limbaugh se destacou porque abrangeu vários<br />
assuntos até então inéditos, em decorrência de sua percepção do fundo submarino, com<br />
bastante originalidade. Nos seus primeiros mergulhos o que lhe interessou foi o<br />
comportamento sexual e hábitos de reprodução dos peixes em recifes de corais<br />
(RECHNITZER e LIMBAUGH, 1952). Posteriormente conduziram um trabalho muito<br />
original, sobre os efeitos visuais em dois gradientes de temperatura, ao mesmo tempo<br />
trazendo informações sobre a biomassa planctônica, que ajuda a identificar e localizar<br />
essa descontinuidade de temperatura e sobre as diferentes densidade das massas de água<br />
em camadas se locomovendo sobre o relevo do solo submarino (LIMBAUGH e<br />
RECHNITZER, 1 9 54).<br />
Como pioneiro do mergulho autônomo, LIMBAUGH (1957) enfatizou o caráter<br />
qualitativo do mergulho autônomo e ficou popularmente conhecido com o trabalho<br />
"Cleaning Symbiosis I' (LIMBAUGH, 196 I), quando colheu imagens e escreveu sobre<br />
pequenos peixes e camarões que limpavam outros peixes maiores; e sobre o<br />
comportamento das focas (LIMBAUGH, 196 1). Também escreveu sobre ecologia e<br />
paleoecologia dos canyons submarinos ( LIMBAUGH E SHEPARD 1957).<br />
A carreira de Conrad Limbaugh foi interrompida durante um mergulho de<br />
pesquisa no Mediterrâneo, um de seus últimos trabalhos foi organizado com a ajuda do<br />
" Conrad Limbaugh Memorial Fund " da Academia Americana de Artes e Ciência,<br />
sobre a vida de peixes pomacentrideos sp. da Califórnia (LIMBAUGH, 1964).<br />
Entre os trabalhos mais importantes dessa época, cabe destacar o de LINDBERG<br />
(1955) sobre as lagosta (P. ininterruptus), seu comportamento, crescimento e dinâmica<br />
de população. Nesta pesquisa empregou um compressor de narguilé, mergulho
autônomo e de circuito fechado, com os quais cobriu uma extensa área da costa<br />
californiana e discutiu o emprego do método na pesca comercial.<br />
A liberdade de movimentos com o aqualung contribuiu com os primeiros<br />
métodos submarinos de estimativa de população de peixes, como os da equipe de<br />
BROCK (1954), que estendiam transects com quase 500 metros sobre as superfícies<br />
rochosas, ao longo dos quais iam fazendo suas coletas e contagens. Nesse trabalho foi<br />
aplicado o critério de contagem de batidas de pés como medida de distância percorrida e<br />
outras de inovações foram apresentada. Brock era um veterano mergulhador, já havia<br />
experimentado todos os tipos de equipamento de mergulho, por toda costa americana.<br />
Nessa época como diretor do Departamento de Caça e Pesca do Havaí, foi a Palau<br />
buscar novas espécies que pudessem ser introduzidas em águas havaianas.<br />
Seus estudos em muito contribuíram para o conhecimento dessa cadeia trófica,<br />
mas sua disposição para caça submarina lhe custou uma prolongada internação devido a<br />
mordida de uma moreia. Foi um grande incentivador do mergulho amador e científico,<br />
tendo sido apontado por DUGAN (1959) como importante instrutor e orientador de<br />
muitos mergulhadores cientistas espalhados pelo Pacífico, mesmo antes da invenção do<br />
escafandro autônomo.<br />
No estudo sobre ecologia dos recifes de coral na Jamaica de GOREAU (1959)<br />
associou as formas de vida encontradas na superfície bentônica à subdivisões de<br />
ocorrência, criando um critério de zoneamento, de acordo com a composição das<br />
espécies encontradas. Mapeou uma área de 400 metros de extensão, fotografando e<br />
cartografando a lista de espécimes que vinham sendo classificadas, desenvolvendo uma<br />
metodologia própria. Um aspecto interessante desse trabalho foram as referências sobre<br />
estudos comparativos dos corais encontrados no Brasil, de VERRTL (1901), que<br />
poderiam ser investigadas para identificar a origem e metodologia desses estudos.<br />
O emprego do escafandro autônomo na Europa para pesquisas ecológicas e<br />
biológicas surgiu pouco depois de sua invenção. Segundo DRACH (1958), que<br />
aprendeu a utilizar o equipamento em 1947 com Jacques Cousteau, o primeiro trabalho<br />
de biologia marinha com o aqualung foi de HASS (1948), que era um mergulhador<br />
experiente. Talvez a antecipação de Hans Hass se deva a sua experiência com mergulho<br />
livre em apnéa. Com a Alemanha em clima de guerra, quando ainda estudante, partiu<br />
pelo mundo fotografando e relatando suas aventuras submarinas. Tornou-se escritor de<br />
narrando suas viagens pelo mundo, no Brasil ficou conhecido pelo livro "A vida<br />
Começou no Mar".
Outros cientistas contemporâneos de Drach eram mergulhadores de águas frias e<br />
tinham mais experiência com o escafandro tradicional, talvez por isso levaram mais<br />
tempo para aprender a utilizar o equipamento autônomo, e a partir daí iniciarem suas<br />
pesquisas em zonas antes inatingíveis. Esses indícios parecem evidentes, Pérès que era<br />
diretor do laboratório de Endoume, talvez só tenha conseguido entrar nas cavernas<br />
submarinas com o domínio da técnica, publicando seu trabalho um ano depois (PÉRÈs<br />
e PICCART, 1949), mas somente sete anos depois um trabalho completo, considerado<br />
um referencial sobre o assunto, "Manuel de Bionomie Benthique de la Mer<br />
Mediterraneé", com todas as definições e comparações com estudos anteriores,<br />
complementado com desenhos ilustrativos sobre as características morfológicas das<br />
cavernas e da cobertura bentônica (PÉRÉs e PICCARD, 1956).<br />
Na Inglaterra, onde as condições de mergulho são bem menos favoráveis que as<br />
do Mediterrâneo, as pesquisas com aqualung no laboratório de Plymouth só começaram<br />
após 1952, quando teve iniciou o treinamento dos pesquisadores, quando foi publicado<br />
o estudo sobre o comportamento de zooplancton (BAn\TBRIDGE, 1952). Esta pesquisa<br />
foi conduzida com equipamento de narguilé, abastecido por dois cilindros de ar<br />
instalados na superfície. É importante observar que para este tipo de pesquisa o<br />
aqualung talvez fosse menos aconselhável, a observação de plancton não exige muita<br />
locomoção e o narguilé, com compressor ou cilindros de abastecimento, possibilita<br />
mergulhos mais prolongados.<br />
Como nos casos anteriores, o mergulho com aqualung na Inglaterra teve como<br />
objetivo o levantamento e mapeamento das superfícies rochosas de difícil acesso.<br />
Segundo relato de FORSTER (1954) houve várias tentativas para chegar aos locais<br />
desejados e posteriormente as condições climáticas dificultaram o acesso da embarcação<br />
e as condições de mergulho. Em continuidade as suas pesquisas, FORSTER (1958)<br />
passou a se dedicar ao estudo da fauna em áreas mais escuras, fora da influência direta<br />
da luz solar para evitar a grande concentração de algas que ocorre nessa parte externa do<br />
canal da Mancha. Durante a pesquisa diferentes locais foram investigados incluindo<br />
casco de navio afundado. Essa pesquisa despertou o interesse pelos hábitos alimentares<br />
dos ouriços, que o levou ao emprego de um transect feito com um cabo de terilene com<br />
50 metros de comprimento, com as pontas presas a uma linha de bóia para indicar o<br />
local na superfície (FORSTER, 1959), mostrando uma evolução na improvisação de<br />
métodos e equipamentos de pesquisa de levantamento de áreas submarinas, similar ao<br />
de BROCKS (1954) no Havaí.
A pesquisa de levantamentos dos bancos de vieiras (escallops) de BAIRD e<br />
GIBSON (1956), também do laboratório de Plymouth, provavelmente foram as<br />
primeiras com mergulho autônomo para investigar os efeitos da modalidade de pesca de<br />
arrasto nos estoques naturais. Concluíram que os métodos convencionais com<br />
diferentes tipos de dragas empregados na coleta do molusco, em fase de crescimento ou<br />
adulta, eram insatisfatórios par esse tipo de pesquisa. Constatou-se inclusive que os<br />
animais tinham mecanismos de defesa e escapavam das dragas e redes.<br />
Na Florida, o U.S. Fish and Wildlijie Sewice no início da década de 1950<br />
começou desenvolver ferramentas e equipamentos específicos para conduzir pesquisas<br />
de avaliação dos métodos de pesca, como o trenó submarino adaptado de maca usada<br />
em resgate pela força aérea. No trenó rebocado por um barco, foi instalado um<br />
dispositivo para máquina fotográfica ou filmagem, com os quais foram registradas<br />
imagens do comportamento de traineiras e barcos de arrasto, com ângulos da redes<br />
vistos de diferentes posições e distâncias, superando tentativas anteriores com<br />
equipamentos remotos de televisão (SAND, 1956).<br />
Entre os fotógrafos submarinos dessa época OWEN (1958) destacou-se com<br />
fotos de qualidade em grandes profundidades, e a aparelhagem que desenvolveu para<br />
pouca profundidade; assim como seu incentivo aos cientistas do Wood Holes Institut<br />
para pesquisas submarinas com ilustração fotográfica. Na época desenvolveu as técnicas<br />
de estereofotografia para analises bioecológicas.<br />
Muitos outros trabalhos foram desenvolvidos na década de 1950 em diferentes<br />
locais e centros de pesquisa, como o levantamento e mapeamento com ilustrações e<br />
fotografias da costa das ilhas Maldivas (KLAUSWITZ, 1958) do Museu Natural de<br />
Fankfurt; ou o mapeamento e estudo de povoamento nas grutas de Marselha conduzido<br />
por LABOREL e VACEIET (1958) do Instituto de Mônaco.<br />
A década de 50 com o mergulho autônomo, pode ser caracterizada como a de<br />
comprovação da eficiência do mergulho científico, principalmente para pesquisa<br />
bentônica, tornando-se praticamente insubstituível, assim como em outras pesquisas<br />
como as geológicas, de transporte de sedimentos e para instalação de equipamentos<br />
oceanográficos (BASCON e REVELLE, 1953) pouco tempo após sua introdução no<br />
Instituto Scripps. Segundo a equipe de geólogos do Scripps ( MENARD et al., 1954) o<br />
nível de detalhamento do levantamento submarino foi muito superior a qualquer outro<br />
método anteriormente empregado.
O pesquisador passou a flutuar livremente na coluna de água, dirigir-se para<br />
onde quisesse, sobrevoando e parando sobre o local de sua conveniência.<br />
11.1.3. Pesquisa Submarina "in Situ" em Alto Mar<br />
A pesquisa submarina oceanografia em correntes oceânicas foi a última fronteira<br />
do mergulho autônomo, trazendo novos elementos e desafios para comunidade<br />
científica. As descobertas anteriores tiveram suas origens nos anos da década de 1950,<br />
passando por vários seguimentos até o início da década de 1970, quando HAMMER et<br />
al. (1975), a bordo do RV Proteus no Golfo da Califórnia, resolveram estudar os<br />
sistemas pelágico utilizando o equipamento de mergulho autônomo.<br />
Como foi observado, a primeira observação de plancton e espécimes pelágicas<br />
foram feitas pelo tenente da marinha inglesa DAMANT (1921), durante os períodos de<br />
descompressão numa operação de salvados. Três décadas depois, o comportamento de<br />
zooplancton foi pesquisado através do mergulho com máscara e nadadeiras por<br />
BADJBRIDGE (1952), com o emprego de um narguilé ligado à garrafas na superfície.<br />
Nessa pesquisa o objetivo era comparar o resultado das investigações de laboratório<br />
sobre o comportamento na natação do Calanus sp., com o que realmente ocorria no mar.<br />
Novas informações sobre visualização e estratégias de pesquisas foram apresentadas<br />
nesse trabalho.<br />
A observação direta de plancton com mergulho autônomo não passou pela<br />
mesma evolução das pesquisas bentônicas em substratos. As pesquisas de plancton<br />
continuaram a ser feitas com redes e garrafas durante os longos cruzeiros a bordo dos<br />
navios oceanográficos. A observação de forma direta dessas ocorrências eram feitas<br />
através de submergíveis como as de BEEBE (1935).<br />
Também durante as descidas em Câmara de Observação Submarina, instalada a<br />
bordo do navio de pesquisa Kuroshio da Universidade de Hokkaido, os pesquisadores<br />
SUZIAKI e KATO (1952) observaram um fenômeno até então pouco conhecido, a<br />
formação de grandes agregações, que pela sua aparência esbranquiçada foi chamada de<br />
"neve marinha". Após ser cuidadosamente recolhida num recipiente de 20 litros, foi<br />
analisada e constatou-se que essas agregações eram constituídas de resíduos de<br />
variedades de plancton em decomposição.<br />
Em estudo fotográfico sobre essas agregações e plancton, também a bordo do<br />
Kuroshio, NISHIZAWA, FUKUDA, INOUE (1954) justificaram a importância do seu<br />
trabalho, devido a sua extrema fragilidade, impossibilitando de se recolher essas
amostras com redes de plancton ou qualquer outro recipiente. Somente a fotografia<br />
possibilitava uma análise para estudos de densidade e tamanho. Esse fato foi muito<br />
importante e a neve marinha despertou muito o interesse dos pesquisadores por essas<br />
campanhas, conduzidas através de submergíveis.<br />
As pesquisas sobre a ocorrência dessas agregações em pouca profundidade e<br />
como eram formadas, assim como verificar se eram consumidas por peixes ou outros<br />
animais superiores, começou a ser esclarecido por JOHANNES (1967), quando<br />
mergulhava no Atol de Eniwetok nas Ilhas Marshall, onde essas agregações ocorrem<br />
em grandes volumes. Os resultados das pesquisas revelaram que essas agregações eram<br />
basicamente formadas a partir dos mucos de coral e que podiam servir de alimentos para<br />
peixes. Posteriormente, COLES e STRETHMANN (1975) não confirmaram essas<br />
observações sobre peixes alimentando-se desses mucos, mas sim que esses mucos<br />
poderiam representar uma substancial fonte de energia, para pequenos animais<br />
adaptados a esse tipo de alimento, formando uma cadeia energética com os peixes.<br />
Essas pesquisas no Atol de Eniwetok abriram uma questão que foi resolvida por<br />
BENSON e MUSCATINE (1974) na Grande Barreira de Corais da Austrália, quando<br />
viram peixes alimentando-se dos mucos desprendidos das colônias de coral. No<br />
laboratório constataram que a cera éster e triglicerinos isolados dos mucos eram muito<br />
importantes para a dieta dos peixes. Esses estudos demonstraram a fragilidade das<br />
informações obtidas pelos métodos indiretos, como os coletados através de redes, ou<br />
associadas as análises de conteúdo estomacal. Além da observação direta do mergulho<br />
autônomo, ficou também constatada a importância da fotografia submarina para o<br />
estudo dessas agregações. O que também nos indica uma outra visão acadêmica<br />
moderna, não preocupada apenas com classificação e descrições de espécies sem<br />
utilidade prática, na verdade sem retratar a razão da existência desses seres catalogados<br />
e dissecados.<br />
A confirmação da importância do mergulho científico em mar aberto, resultou<br />
de cinco anos de pesquisas totalizando 800 horas de mergulho, em áreas do Golfo da<br />
Califórnia, na Corrente da Florida (região de Bikini, nas Bahamas) e em meio ao Mar de<br />
Sargaços. Nos primeiros resultados, GEMER (1972) constatou que gastrópodes<br />
planctônicos da ordem dos Thecosomatas, se utilizam de uma cadeia de mucos aberta,<br />
para coletar os alimentos particulados em meio a coluna d'água. Constatou que esses<br />
animais têm reações muito rápidas, que a estrutura do seu corpo e da sua cadeia<br />
mucótica são muito delicadas. A relativa abundância desses animais nessas zonas
oceânicas revelaram que os métodos tradicionais de amostragem são inadequados para<br />
eles. Csuzeiros anteriores coletaram apenas alguns espécimes danificados.<br />
Pela primeira vez registrou-se a presença de Gleba cordata e Coralla<br />
spectabillis, entre as mais de 500 espécies encontradas na Corrente da Flórida. Algumas<br />
foram fotografadas, manualmente coletadas e estudadas. A análise fotográfica se tornou<br />
indispensável para o estudo dos membros da família Cynbuidae, Gleba e Coralla, todas<br />
gelatinosas com rede mucótica em forma de concha, tão frágeis que quando coletadas<br />
em redes se tornam praticamente impossível reconhecer. Algumas cadeias de mucos<br />
podem atingir 2,O metros de diâmetro. Quando ameaçadas se desprendem dessas<br />
cadeias e fogem rapidamente (45cm/seg), Gilmer observou que podem sentir qualquer<br />
turbulência a mais de 1,O metro, mesmo no período de digestão; e são também<br />
transparentes, evitando o ataque de predadores. Essas observações só foram possíveis<br />
através do mergulho autônomo, corrigindo interpretações erradas das dimensões da<br />
população e sobre a história natural de Glebas sp. e Corallas sp..<br />
Em outra pesquisa ALLDREDGE (1972) interessou-se pelos casulos de larvas<br />
abandonados, que observou serem fonte de alimentos para copepodos. Pela primeira<br />
vez esses casulos foram fotografados, com técnicas especialmente desenvolvidas para<br />
mar aberto. Sua abundância indica que são um importante componente da cadeia<br />
alimentar, como fonte de matéria orgânica particulada. Os tunicados da classe<br />
Appendicularia são comuns, alguns deles constróem casulos a cada 4 horas, outros em<br />
cada 2 horas, que são descartados quando perdem a função filtradora.<br />
As observações de ALLDREDGE entretanto revelaram que os copepodos<br />
alimentam-se das concentrações de nannoplancton nesses casulos, sugerindo uma nova<br />
cadeia alimentar, que terminaria nos carnívoros. Essa fertilidade natural abre um leque<br />
de possibilidades de interação, que sugere uma pesquisa sobre a viabilidade de se<br />
fertilizar os oceanos para concentrar e alimentar os cardumes, com o tigmatopismo de<br />
estruturas artificiais. A concentração desses microorganismos e larvas de eufasideas.<br />
nos casulos abandonados e cadeias mucóticas, nos indicam a existência de um infinito<br />
potencial de micro superfícies sujeitas a ação de zooplancton com características<br />
bentônicas.<br />
Essas formas concentradoras (casulos abandonados, agregações de mucos, neve<br />
marinha) são invariavelmente destruídas ou desintegradas, até mesmo filtradas pelas<br />
redes de plancton convencionais, indicando a necessidade de um maior esforço nas
observações diretas de mergulhos com equipamentos autônomos, para um melhor<br />
esclarecimento desse universo desconhecido pelas pesquisas convencionais.<br />
Muitas vezes a concentração de marés de água viva durante certa época do ano,<br />
chamam a atenção. Algumas chegam a ter densidades de até 275 exemplares por metro<br />
cúbico, abrangendo áreas de até 3.500 milhas quadradas (BERNER 1967), ocorrendo<br />
em até 70 metros de profundidade. Dentre elas, as salpas foram pela primeira vez<br />
estudas com mergulho autônomo por HADIN (1974), em seu ambiente natural na<br />
Corrente da Florida e Golfo da Califórnia, sem o mínimo de perturbação. Pesquisas<br />
anteriores foram conduzidas em laboratório com pouca eficácia, pois esses animais são<br />
frágeis e vivem pouco em tanques ou aquários. As 1.420 salpas das seis espécies<br />
estudadas, filtravam os alimentos através de uma cadeia mucótica periodicamente<br />
renovada. Essas cadeias foram tingidas com uma suspensão de carrnim, que filtradas<br />
com os alimentos tingiam a rede mucótica, tornando-as visíveis. Os dados também<br />
foram analisados pela fotografia e as informações registradas num gravador.<br />
As salpas também foram estudadas em laboratório, onde se verificou uma<br />
modificação nos hábitos alimentares. Estudos anteriores ( FE<strong>DE</strong>LE 1933, CARLISLE<br />
1950) com as salpas em cativeiro não foram confirmados em mar aberto, onde<br />
produziam essa cadeia de muco e filtram muito mais água. As observações submarinas<br />
revelaram uma grande eficiência e habilidade para coletar matéria particulada,<br />
renovando a cadeia mucótica quando demasiado densa, fatos praticamente<br />
desconhecidos pelos cientistas. A ocorrência de grandes densidades de biomassa, com<br />
esse imenso potencial de transformação energética leva a uma complexa implicação<br />
ecológica, pois podem remover todo fitoplancton disponível numa vasta região<br />
oceânica.<br />
O resultado das pesquisas de zooplancton gelatinoso, pela equipe de<br />
mergulhadores (HAMMER et al. 1975) gerou muita especulação sobre a estrutura dos<br />
sistemas bioprodutivos oceânicos tropicais. A equipe sugere que os gelatinosos podem<br />
ser enquadrados em um grupo com estratégia de sobrevivência semelhante. Durante os<br />
cinco anos, estudaram sete grupos de gelatinosos, classificados em diferentes divisões<br />
(filo) e incluídas em dois ou três níveis trhficos. Entretanto, podem formar um só grupo<br />
ecológico, se considerarmos a relação predador / proteção, que esses animais tem em<br />
comum. Os gelatinosos, os tunideos sp, as eufasias sp, e outras espécies pelágicas,<br />
habitam as águas limpidas e iluminadas dos mares tropicais, onde não existem locais<br />
protegidos ou esconderijos.
Segundo a equipe, os organismos vivendo em tais condições, podem ser<br />
enquadrados em quatro categorias:<br />
Dos planctônicos - que são muito pequenos para serem avistados por predadores maiores<br />
(e.g. copepodos sp)<br />
Os de hábitos noturnos - que buscam proteção com migrações verticais (ex. eufasias sp)<br />
Os transparentes - que parecem invisíveis para muitos outros predadores ( ex. ctertoplioros )<br />
Os visíveis ou grandes - que procuram proteção formando cardumes (ex. cavalinhas) ou são<br />
grandes, rápidos e vorazes ( ex. atum, tubarão )<br />
Observou-se que o zooplancton com menos de 1,O milímetro, nadando<br />
livremente, é visível mas difícil de se perseguir. Os cardumes dividiam-se somente<br />
quando perseguidos por peixes maiores ou na presença do mergulhador. Os peixes<br />
maiores são raros em alto mar, apesar de mais frequentes na corrente da Florida,<br />
pareciam curiosos e sem receio de evitar os mergulhadores. Esses peixes não reagiam<br />
em relação aos gelatinosos que estavam em sua volta. Resta saber se os gelatinosos são<br />
invisíveis ou não despertam o interesse dos predadores maiores, REINTJE, KING<br />
(1955) reportaram que a albacora azul alimentava-se também de salpas sp.<br />
O grupo de gelatinosos foi escolhido pela equipe porque não se perturbavam<br />
com a presença do mergulhador e apesar de sua importância são os menos conhecidos,<br />
entre os quatro grupos acima citados. Parte do trabalho também foi dedicada as<br />
agregações orgânicas, que parecem terem origem nos mucos segregados pelos<br />
gelatinosos.<br />
A pesquisa através do mergulho autônomo verificou a desqualificação das redes<br />
de plancton para coleta de agregados orgânicos e animais gelatinosos. Os seres não<br />
chegam intactos e como as agregações, passam pelas malhas mais finas. Além disso,<br />
muitos outros micro animais são rápidos nadadores e fogem da rede. A eficiência do<br />
mergulho autônomo ficou constatada durante a observação das estruturas vivas,<br />
filtrando alimento através da cadeia mucótica. Muitos aspectos do comportamento<br />
foram determinados pela interação trófica. A constatação de que são eficientes na coleta<br />
de matéria orgânica particulada, toma relevante sua representação para todo sistema<br />
produtivo marinho.<br />
Na Corrente do Golfo os mergulhadores encontraram agregações com mais de<br />
50 centímetros de diâmetro, enquanto as partículas obtidas por outros métodos não
ultrapassavam a 100 p (Gordon 1970). Por vezes foi necessário grandes recipientes<br />
ajustados cuidadosamente às agregações, pois qualquer movimento mais brusco, como a<br />
batida das nadadeiras ou mesmo a mão do mergulhador, podiam desfazer toda a cadeia<br />
que formava a agregação.<br />
Outra vantagem do mergulho é a obtenção de fotos ou vídeos para registro e<br />
análise, podendo se obter ampliações a medida do necessário, inclusive por meios<br />
eletrônicos. Ficou também constatado que essa imagem de um ambiente planctônico e<br />
homogêneo não coincidem com a heterogeneidade encontrada, com essa variedade de<br />
micro habitações e formas de superfície macroscópicas de diversos tamanhos e<br />
desenhos.<br />
No Golfo da Califórnia, cerca de 80% dos casulos abandonados continham<br />
organismos visíveis sobre a sua superfície. A observação submarina demonstrou sua<br />
eficiência no estudo da relação predador x preza, pois além de um acompanhamento no<br />
momento do ataque, tinha a coleta facilitada para sua repetição em laboratório. A<br />
entrada nos sistemas oceânicos encontrou um novo cenário, onde as conclusões partem<br />
de uma observação direta da visão geral do ambiente, que ainda é pouco pesquisado na<br />
água azul do oceano aberto.<br />
Sob o ponto de vista econômico e operacional, os métodos desenvolvidos pela<br />
equipe também são bastante eficientes. Via de regra, as instituições carentes de recursos<br />
se vêm na dependência de encaixar seus programas nas atividades de outros órgãos de<br />
pesquisa, com os cronogramas mais rígidos, ao final não satisfazendo complemente<br />
nenhum dos participantes das jornadas.<br />
Os cruzeiros oceanográficos geralmente envolvem considerável volume de<br />
recursos, em navios equipados para muitas finalidades, exigindo pessoal de apoio,<br />
elevados custos de combustível, alimentação, etc.. Por outro lado, respeitam rotas e<br />
cronogramas pré definidos para o lançamento das estações e medições. Desse modo os<br />
pesquisadores não podem se estender por mais tempo em determinados pontos, que<br />
eventualmente merecem um maior interesse, mesmo que essa parada seja essencial para<br />
o sucesso da pesquisa. .<br />
Os métodos cegos também apresentam o inconveniente de não serem<br />
diretamente seletivos; ou seja, sua seletividade está restrita ao tipo de equipamento e a<br />
sua finalidade, e não quanto a determinada espécie, que só pode ser selecionada<br />
visualmente. Fica assim o especialista de certa matéria, buscando entre as amostras
trazidas à superfície o material de seu interesse, dificultando assim a realização de um<br />
trabalho a altura dos anseios de muitos dos pesquisadores.<br />
Diante da diversidade de escalas, a vantagem da pesquisa com mergulho<br />
autônomo é ser adequada aos aspectos de objetividade e seletividade na observação, dar<br />
ao pesquisador um amplo campo visual, onde pode desenvolver sua própria estratégia<br />
para acompanhar, coletar ou fotografar o objetivo do seu estudo. Em qualquer lugar essa<br />
operação pode ser desenvolvida, em condições de tempo favorável à partir de uma<br />
embarcação de médio porte, com o auxilio de um bote. Podendo-se também embarcar<br />
de uma ilha oceânica, ou de qualquer ponto próximo do mar aberto. O gerenciamento<br />
operacional do mergulho científico, em diversas escalas de aplicação, permitem que o<br />
pesquisador programe sua própria pesquisa. A forma tradicional das grandes jornadas,<br />
com exigência de tempo, divisão de espaço, por um importante aspecto não se compara<br />
a este sistema independente de mergulho, o menor custo da jornada.<br />
11.1.4. Referenciais para Discussão da Pesquisa Submarina na Região Sudeste<br />
Como foi observado anteriormente, a atividade com o escafandro tradicional<br />
reporta a uma época em que seu uso estava restrito a pesca comercial, resgates,<br />
salvatagem e operações militares, cujos registros podem ser disponibilizados nos<br />
arquivos da Marinha do Brasil. No contexto desta pesquisa, o objetivo é o início de<br />
discussões sobre o desenvolvimento do conhecimento da atividade subaquática através<br />
do mergulho livre de apnéa ou com o aqualung, voltado as relações ecológicas e<br />
biológicas com o ambiente marinho no campo da bioprodução. No caso do Eixo Rio-<br />
São Paulo, esse conhecimento vem sendo transmitido através de gerações, decorrente do<br />
convívio de jovens e veteranos nos clubes e associações, e referendado nas últimas<br />
décadas pelo resgate histórico de informações promovidos pelas revistas especializadas<br />
em mergulho.<br />
Procurando seguir uma ordem cronológica, na tentativa de se formar uma cadeia de<br />
conhecimento, pode-se concluir que provavelmente um dos primeiros mergulhos com<br />
equipamentos de mergulho livre em apnéa, com nadadeiras, máscara e tubo de<br />
respiração, tenha sido feito pelo velejador Jean Robert Maligo, na piscina do Clube<br />
Guanabara no Rio de Janeiro, em 1946. Uma década depois importou da França o<br />
escafandro autônomo, que talvez também tenha sido o primeiro empregado, no que se<br />
enquadraria no momento atual como recreação e turismo.
Nas lembranças de Arduino Colasanti membro da equipe brasileira de caça<br />
submarina de 1958, os pioneiros da caça submarina surgiram no pós-guerra, como<br />
Miguel Acceta e João Borges Netto na Região do Cabo Frio, e pouco depois outros<br />
mergulhadores como Bruno Hermani, Abel Gazio e Américo Santarelli, membros da<br />
equipe brasileira que em 1960 conquistou o campeonato mundial na Itália.<br />
No campo da pesquisa submarina voltada a ecologia e biologia, seria necessário um<br />
amplo levantamento de publicações científicas do final da década de 40 e início de 50,<br />
para que fosse possível determinar a intensidade e importância dessa atividade.<br />
Provavelmente o primeiro aparelho de mergulho autônomo para pesquisa foi entregue a<br />
Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro em 1949, mas nunca chegou a ser usado para<br />
essa finalidade. Raul Cerqueira, um dos pioneiros do mergulho comercial no Brasil,<br />
informou que sua primeira utilização foi em final de 1961 em Búzios, usando ainda o<br />
"ar francês", durante o primeiro curso de mergulho recreacional promovido pela CPAS-<br />
GBICMAS (Centro Português de Atividades Subaquáticas da Guanabara), e que a<br />
primeira expedição submarina científica ocorreu em 1957, comandada pelo Alm. Paulo<br />
Moreira da Silva, durante o Ano Geofísico Internacional.<br />
Segundo Edmundo Ferraz Nonato (biólogo, professor aposentado da USP -<br />
Universidade de São Paulo), o primeiro contato dos biólogos brasileiros com o aqualung<br />
foi durante o acompanhamento dos mergulhos de DRACH (1948) na Baia de<br />
Guanabara, mas não tiveram a oportunidade de experimentar o equipamento. Os<br />
primeiros aqualungs que chegam à USP foram dois equipamentos completos, em 1953,<br />
através de uma doação da Fundação Rockfeller após sua volta da França, de um estágio<br />
na Estação de Biologia Marinha de Roscoff, quando conheceu Jacques Cousteau<br />
desenvolvendo a versão comercial do aqualung, em 1949.<br />
Nos fatos ocorridos com o equipamento de mergulho autônomo do Dep. de História<br />
Natural da USP, talvez esteja a resposta que se procura para esclarecer a questão da<br />
evolução da pesquisa submarina no Brasil, visto que os pesquisadores não tinham<br />
experiência e surgiram várias dificuldades. De início haviam os problemas com os trajes<br />
de borracha, na época com material semelhante as câmaras de ar de pneus, que exigiam<br />
grande esforço para vestir e retirar colada ao corpo. Entretanto dois outros problemas<br />
podem ter sido decisivos para o progresso da ciência neste campo: não haviam<br />
compressores de alta pressão na base de Ubatuba para recarregar as garrafas, que eram<br />
eventualmente reabastecidas com cilindros hospitalares e não haviam estudos sobre
fisiologia de mergulho ou tabelas de descompressão, limitando os mergulhos na faixa<br />
dos 10 metros de profundidade.<br />
Após uma dúzia de mergulhos os equipamentos deixaram de ser utilizados. No Rio<br />
de Janeiro essa pesquisa foi dificultada devido ao desmembramento da Universidade do<br />
Brasil, transferida para ilha do Fundão, e parte do acervo transferida para biblioteca do<br />
Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Talvez a falta de prática de mergulho em<br />
apnéa, como dos praticantes de caça submarina tenha influenciado na prática para<br />
vencer as dificuldades com uso de aparelho autônomo, assim como contato com outros<br />
mergulhadores, que poderiam fornecer subsídios e manuais especializados que<br />
facilitassem o experimento e a prática.<br />
Segundo o pioneiro Arduino Colassanti, professor de pelo menos duas gerações de<br />
mergulhadores, geralmente os equipamentos eram trazidos ao Brasil sem manuais de<br />
instrução, ficando por conta do mergulhador o auto aprendizado, como em sua<br />
experiência com o primeiro equipamento de circuito fechado importado em 1959. Esse<br />
equipamento mais sofisticado possuía dispositivos especiais e necessitava misturas<br />
químicas para renovar o ar que o mergulhador respirava, levando a tentativas arriscadas<br />
e busca de informações específicas no exterior.<br />
Para se obter maiores informações sobre esse período seria importante por exemplo<br />
pesquisar na coleção da revista Anequim lançada em 1957 no Rio de Janeiro, para<br />
verificar a possível participação de pesquisadores na exploração dos naufrágios que<br />
ocorreram na época, ou no livro "Caça e Exploração Submarina" de Edgar Prochaska<br />
publicado em São Paulo em 1963.<br />
Alguns registros desta época no Rio de Janeiro podem ser encontrados no livro<br />
"SuperSub", no qual SANTARELLI (1983) ilustra seu guia de caçador submarino, com<br />
informações pertinentes à atividade, do nível técnico de conhecimento dos<br />
mergulhadores da época e sugestões sobre planos de gestão atividade subaquática.<br />
Informa por exemplo que a pesca submarina profissional existe pelo menos desde o<br />
final da década de 1940, quando relata uma pescaria corriqueira no pesqueiro de polvo,<br />
ao longo do costão da praia do Leme, no Rio de Janeiro em 1951; assim como a<br />
importância de estruturas afundadas, como os naufrágios para o aumento da biomassa<br />
pesqueira. Também transmite em detalhes como e onde o polvo se esconde e camufla,<br />
mudando a tonalidade da pele acompanhando a coloração do substrato e da cobertura<br />
bentônica.
No campo do múltiplo uso, sugere a importância do mergulho como atividade<br />
profissional de pesca, e complementares de turismo e recreação, citando também<br />
aspectos de incompatibilidade, como a pesca de linha. Sugere que a atividade de<br />
mergulho seja dividida em três setores: de diversão, de competição e de trabalho. No<br />
seu livro, a abordagem foi voltada a diversão e competição. Ressaltou a importância da<br />
prática do esporte de caça submarina na formação profissional, em função da grande<br />
quantidade de trabalhadores do setor subaquático, principalmente para exploração de<br />
petróleo. Sugeria que diante do potencial do litoral brasileiro, o mergulho esportivo<br />
ensinado nas escolas serviria de base para formação de instrutores, estudiosos, técnicos<br />
e trabalhadores. Nesse contexto, deve-se destacar o enfoque do seu livro a ... "com<br />
particular relevo à aquaticidade, técnica de mergulho e medidas ligada a segurança",<br />
abordando dois temas fundamentais para ocupação do espaço oceânico com segurança e<br />
eficiência, a aquaticidade (aquacidade) referindo-se a capacidade do homem interagir<br />
com o ambiente aquático e os aspectos de segurança, tema atual que mais vem sendo<br />
discutido em confiabilidade de sistemas.<br />
Neste campo da formação e capacitação do mergulhador, destacou-se no cenário<br />
internacional não só pelo método que o levou ao recorde mundial de profundidade, em<br />
1961, mas pelo programa de treinamento desenvolvido com os outros membros da<br />
equipe acima citados, com o pioneiro João Borges Netto e o bicampeão mundial<br />
individual Bruno Hermany. Esta metodologia desenvolvida e aplicada pela CBD -<br />
Confederação Brasileira de Desportos, apresentada pelas revistas européias<br />
especializadas como "treinamento secreto" para justificar as vitórias brasileiras, incluía<br />
uma técnica que permitia o mergulho na faixa dos 30 metros de profundidade, onde as<br />
outras equipes não podiam alcançar.<br />
O segundo relato encontrado sobre pesquisa submarina com aqualung é do biólogo<br />
Sérgio de Almeida Rodrigues (PhD, professor da USP) que em 1962 foi convidado pela<br />
equipe do Cousteau a participar de sua primeira expedição na costa brasileira. Aprendeu<br />
a mergulhar com aqualung no litoral de São Sebastião, para servir de guia da expedição.<br />
Posteriormente, quando trabalhava no Instituto de Biologia Marinha do Caribe, em<br />
Curaçao, sofreu um problema no ouvido e ficou impossibilitado de mergulhar.<br />
Diante desse mosaico de informações, procurou-se identificar fatos que fornecessem<br />
subsídios para o esclarecimento da questão do pouco interesse pela pesquisa submarina<br />
no Brasil e suas implicações para o desenvolvimento de técnicas voltadas ao aumento<br />
da bioprodução aquática. Porém, as informações ainda são muito superficiais, o que
demandaria um trabalho mais aprofundado sobre o tema. A informação científica<br />
encontrada é do final da década de 1960, quando o veterano cientista do laboratório de<br />
Mônaco LABOREL (1969), percorreu a costa brasileira fazendo levantamento dos<br />
bancos de corais.<br />
Entretanto, passadas duas décadas, o conhecimento técnico e científico desses<br />
mergulhadores sobre o comportamento do corpo humano na atividade subaquática de<br />
pesca, foi suficiente para desenvolver uma metodologia brasileira para essa atividade,<br />
inclusive com aqualung (SANTARELLI, 1983). Foi possível a criação da empresa<br />
brasileira Subaquática Engenharia, formada por pescadores submarinos ex-membros de<br />
equipes da CBD, que desenvolveu seus próprios manuais com métodos para grandes<br />
profundidades, adaptação, ajustes e regulagens de ferramentas e equipamentos,<br />
tornando-se viável a produção submarina de petróleo.<br />
Esse conhecimento desenvolvido pela "Escola Brasileira de Mergulho", permitiu<br />
tanto a construção do emissário submarino de Ipanema, na década de 1970, que foi a<br />
primeira prática de construção, quanto a instalação dos pilares da ponte Rio-Niteroi,<br />
atingindo mais uma vez o reconhecimento internacional na exploração de petróleo na<br />
Bacia de Campos. Esse processo que pode ser outra vez revertido, transferindo-se desta<br />
vez o conhecimento da exploração do petróleo para bioprodução, o que incluiria os<br />
mesmos processos de inspeção submarina e de instalação de estruturas, facilitando a<br />
compreensão dos processos biológicos de produção pesqueira.
PARTE 2:<br />
ESTRUTURAS SUBMARINAS <strong>DE</strong> <strong>PROTEÇÃO</strong> E <strong>BIOPRODUÇÃO</strong><br />
11.2.1. Introdução aos Sistemas de Recifes Artificiais<br />
Em mares tropicais e subtropicais qualquer estrutura exposta à interação com o<br />
meio aquático durante longos períodos, passa a agregar uma camada de biomassa e<br />
várias formas de vida ao redor, formando os recifes artificiais. A tecnologia de<br />
construção submarina brasileira possui instrumental para construção de estruturas de<br />
proteção e regeneração ambiental da faixa costeira, ou estruturas de estabilização e<br />
indução da bioprodução na zona submersa costeira e oceânica.<br />
Na faixa costeira, em geral as obra são caracterizadas como públicas e aplicadas<br />
em várias formas de manejo ambiental, definidas com bases sócio-econômicas e<br />
ecológicas, levando-se em conta o quadro geral de usuários, aspectos paisagísticos e os<br />
benefícios para comunidade. Devido as suas aplicações na engenharia ecológica<br />
costeira, podem ser classificados em módulos de proteção de praias, enseadas e<br />
estuários; ou para fundos artificiais de formação e crescimento bentônico, induzindo o<br />
crescimento de algas, moluscos e crustáceos.<br />
No caso das estruturas oceânicas de estabilização, além dos módulos pré-<br />
fabricados, muitos materiais podem ser aproveitados e utilizados, como as plataformas<br />
desativadas, sobras de jaquetas, mangotes, templates e manifolds que podem ser<br />
instalados fora das áreas de produção de petróleo, criando zonas de pesca produtivas.<br />
A aplicação desses componentes de construção, instalados no solo submarino segundo<br />
critérios, formam as fazendas marinhas de maricultura extensiva, que podem ser<br />
projetadas para recuperação de áreas degradadas pela pesca de arrasto, promovendo a<br />
concentração de cardumes e atraindo outras modalidades de pesca mais seletivas,<br />
racionais e sustentáveis. A indústria de turismo, mergulhadores, pesca recreativa e lazer<br />
também podem ser beneficiados com esses atrativos diferenciados.<br />
Nas circunstâncias da Região Sudeste, esta alternativa deve ser melhor avaliada<br />
para o aproveitamento dos navios sucateados e outras estruturas, ocupando áreas<br />
estratégicas ao longo da costa e provocando problemas sociais e ambientais. Em várias<br />
partes do mundo, as estruturas descartadas são criteriosamente limpas e trabalhadas,<br />
para serem afundadas em locais previamente avaliados segundo suas finalidades. Esses<br />
empreendimentos tem envolvido grandes volumes de investimento, principalmente
porque as instalações submarinas apresentam uma considerável longevidade,<br />
proporcionando um grande volume de biomassa visual de interesse recreativo e<br />
produtos para consumo humano.<br />
As estruturas podem ser classificadas segundo sua função e posicionamento nos<br />
sistemas, formando grupos que podem ser definidos segundo características básicas de<br />
função (HARGREAVES, 1998) e das áreas de instalação.<br />
1 Grupo 1: Módulos de proteção de ondas em praias, enseadas, estuários e de formação de<br />
fundos artificiais para crescimento de biomassa de uso da pesca, surfe ou lazer.<br />
Grupo 2: Módulos de recifes de pesca fora da ação direta das ondas, construidos em<br />
diferentes formatos e dimensões, servem para cobertura bentônica e concentração de<br />
peixes; induzindo ciclos reprodutivos e maior variedade de espécies.<br />
i Grupo 3: Grandes Estruturas de recifes de pesca, com volume médio variando de 100 -<br />
500 m 3 instalados em zonas mais afastadas da plataforma, com mais profundidade. Ciclos<br />
produtivos eficientes e ecológicos pouco conhecidos, hábitos de reprodução e condições<br />
ambientais.<br />
Grupo 4: Atratores pelágicos, são estruturas flutuantes instaladas a meia profundidade,<br />
com o objetivo de atrair cardumes de passagem e concentrar biomassa bentônica na<br />
estrutura, flutuadores e acessórios, dando maior volume ao atrator, procurando maior<br />
variedade de espécies da microfauna e ciclos reprodutivos.<br />
Grupo 5: Pode ser considerado para estruturas construídas com material sucateado, ou<br />
apenas tratado para condições ambientais e depositado de alguma forma no solo<br />
submarino, com o objetivo de criar pesqueiro. A eficiência pode ser questionada em<br />
relação o modelo e condições ambientais que dependem do nível de estudos preliminares.<br />
Países com Austrália, Japão, Estados Unidos e França desenvolveram legislação<br />
específica sobre o assunto, no Brasil foi incluído no projeto para o setor pesqueiro<br />
nacional, que vinha sendo desenvolvido pelo GEPESICIRM, antes da transferência do<br />
Setor Pesqueiro para o Ministério da Agricultura.<br />
Devido as características específicas de cada região, desenho da costa, contorno<br />
e tipo de fundo, e condições oceanográficas, a bioeconomia dos recifes artificiais<br />
depende de estudos interdisciplinares; incluindo, os da definição de áreas, critérios de<br />
zoneamento, condições ambientais, potencialidade biológica, e demais cálculos de<br />
engenharia e manejo de instalações submarinas, entre outros apresentados nesse estudo.
11.2.2. Estruturas Submarinas de Proteção e Indução de Bioprodução<br />
Como foi observado, muitas estruturas de concreto vem sendo desenvolvidas nos<br />
últimos anos servindo de proteção à praias, mangues, áreas de desova e crescimento,<br />
enseadas e estuários (Figura 54), podendo substituir os tradicionais enrrocamentos e<br />
estacas. Os módulos do tipo tetrapoides tendem a buscar um ajuste de encaixe no<br />
momento da instalação, e no período de acomodação no fundo e movimentos de marés e<br />
ondas.<br />
Figura 54 : Estruturas de Proteção da Linha Costeira<br />
O modelo Netuno com miolo projetado para amortecer impacto de onda, cada<br />
módulo é instalado em linha juntando as faces quadradas e alargado nas laterais<br />
juntando as faces retangulares, formando-se uma linha de cais e quebra-mar. Talvez<br />
devido a complexidade dos estudos de viabilidade diferenciados para cada função, como<br />
proteção, pesca e prática de surfe, e condicionadas por processos litorâneos em<br />
mudanças atmosféricas, acarretam elevados custos de construção e instalação, se<br />
comparados a facilidade e menor custo dos enrocamentos, essa técnica ainda vem sendo<br />
pouco aplicada no Brasil.<br />
Figura 55: Quebra-mar com tetrapoides para proteqão de cais
Neste grande grupo inclui-se também os fundos artificiais, que são utilizados<br />
para propagação de moluscos e crustáceos criados em laboratório para serem coletados<br />
na natureza quando atingem o tamanho comercial (Figura 56). Essas estruturas podem<br />
ser montadas com pequenos, médios e grandes blocos de concreto modulares, que se<br />
ajustam formando quebra-mar, barreiras ou fiindos artificiais. As formas definidas para<br />
o agrupamento no fundo variam de acordo com as condições de mar de cada local e<br />
com as características necessárias a propagação e crescimento de cada espécie que se<br />
pretende produzir.<br />
Como pode-se observar, os módulos Turtle Block são semi-esferas fechadas e<br />
vazadas cujo centro pode servir de abrigo para diversas espécies, inclusive peixes,<br />
enquanto os outros modelos também apresentam áreas protegidas, entretanto mais<br />
abertas e com maior circulação e saídas laterais. As funções dessas estruturas quanto<br />
aos seus objetivos de proteção e estabilização de linhas costeiras são de aplicações<br />
muito específicas, e carecem de estudos mais detalhados sobre cada modelo.<br />
Essas estruturas têm um custo muito elevado, sendo sua aplicação restrita a áreas<br />
prioritárias, geralmente consorciando as necessidades de recuperação ou proteção de<br />
ireas degradadas, as condigões ideais para propagação de espécies<br />
comercial criadas em laboratórios.<br />
Figura 56: Fundos de proteção para propagação de algas, moluscos e crustáceos<br />
11.2.3. Estruturas Submarinas de Estabilização e Indução de Bioprodução<br />
de alto valor<br />
Os módulos de pesca podem ser construídos de concreto ou aço e instalados em<br />
grupos, formando os sistemas de recifes artificiais, que podem se estender até a faixa
dos 150 metros de profundidade. Os módulos variam muito quanto ao tamanho, forma<br />
e desenho, podendo medir de 1,O até 500 metros cúbicos, de acordo com as suas<br />
finalidades, profundidade e condições de mar. Esses recifes atuam mais nas camadas de<br />
maior circulação de água, provocando vórtices que favorecem a bioprodução primária e<br />
por serem vazadas tem menos interferência no transporte de sedimentos, mesmo em<br />
regiões onde há maior intensidade de correntes.<br />
Os projetos de construção variam com as características de cada área, limitações<br />
ecológicas e condições de instalação. Os recifes artificiais visam uma eficiência<br />
econômica - ecológica, em parte compreendida como maior dimensão cúbica possível<br />
com menor custo de construção sem perder a estabilidade, a maior área de superfícies<br />
possível para aderência da vida bentônica e melhor eficiência na mistura de águas no<br />
entorno das estruturas.<br />
Mo'dulos de Concreto<br />
Os primeiros módulos de concreto foram construídos no Japão em 1932 pelo<br />
Laboratório de Pesca de Yamaguchi, e na década de 1960 os mesmos modelos foram<br />
construídos em experimento nos Estados Unidos, como foi observado. Nesta época<br />
tinham formas simples, como molduras cúbicas ou formas retangulares e cilíndricas<br />
vazadas. A evolução desses modelos mudou pouco de forma, entretanto os módulos<br />
passaram a ter maior volume e formas mais elaboradas (Figuras 57). No início dos anos<br />
de 1950 objetivo era conseguir o maior volume possível com o mínimo de custo,<br />
partindo-se da premissa que com o decorrer dos anos a cobertura bentônica tomaria a<br />
maior parte das áreas vazadas das estruturas.<br />
Varia~óes mobemcrs dos módulos dbicos e cRíndrIcos I<br />
Figura 57: Megaestruturas seguindo os modelos tradicionais<br />
A tendência era aumentar o máximo possível o tamanho dos blocos em geral de<br />
um e oito metros cúbicos, fortalecendo as estruturas com armações de vergalhão,<br />
aumentando ao máximo as janelas laterais até se tomarem simples molduras, reduzindo
ao máximo o custo unitário. Constatou-se que o crescimento de diversas formas de vida<br />
sobre as superfícies dificultava a circulação de água diminuindo a taxa de oxigênio e<br />
dificultando a entrada de peixes maiores.<br />
Os desenhos dos módulos foram se tornando mais sofisticados e bem maiores,<br />
como os modelos Jumbo com 130 m3 construídos pelo grupo Ishikawajima em 1972.<br />
Os modelos SK - Reef de até 199 m3 do grupo Sumitomo começaram a ser construídos<br />
em 1977 (Figura 58).<br />
L-<br />
UMBO GYOSHO -<br />
SK-REEF - SUMITOMO COMXETCO.<br />
RhelPs modelas dç? supw eshuiwa<br />
Figura 58: Primeiros modelos diferenciados de megaestruturas<br />
Atualmente há por exemplo mais de 1500 módulos de recifes Jumbo instalados<br />
ao longo da costa japonesa. Esses módulos são construídos em formas de aço seguindo<br />
os procedimentos de uma linha de montagem, em canteiros de obra junto a um cais de<br />
atracação para que os módulos possam ser embarcados para o transporte e instalação<br />
fora da costa. As dezessete principais empresas de grandes construções estão<br />
organizadas em uma associação, com onze representações distribuídas ao longo do<br />
arquipélago japonês (NIGYOKYO, 1997)., operando em conjunto nos assuntos<br />
referentes a aprovação de projetos, condições de financiamento e na discussão dos<br />
planos nacionais, desenvolvidos segundo demandas e prioridades regionais<br />
Atualmente os modelos e formas variam muito entre os fabricantes, saindo de<br />
formas tradicionais cúbicas e cilíndricas, para se tomarem mais sofisticados no<br />
detalhamento de módulos e conjuntos, o que exige técnicas de construção e composição<br />
mais complexas (Figura 59). Nesses novos desenhos os módulos mais compactos<br />
podem ser encaixados e empilhados de forma variada, diferenciando dos módulos<br />
anteriores, com exceção modelo KWK - Piramide, que apresentava esta característica.
Módulos de Aço<br />
Ein(qia dos recks modulcxes be n(per e&~&~as<br />
Figura 59: Evolução dos modelos de megaestruturas<br />
O primeiros experimentos com recife artificiais de aço começaram a ser construídos<br />
na década de 11960 e embora não tenham acompanhado o vohme de construções dos<br />
módulos de concreto, apresentam vantagens reconhecidas. As estruturas metálicas são<br />
mais leves, fáceis de trabalhar e podem ser fabricadas com formas mais variadas,<br />
características que facilitam a construção e instalação de megaestruturas (Figura 60).<br />
I<br />
W3E-SEEL REEF - S MIW KEUIAILTD.<br />
MREE SL4RS REEF<br />
WKCIYAMA SlEEL LID.<br />
N-WPE STEEL REEF<br />
MIISOI ENGWERING & SHif8UILDING CO.. UD.<br />
I ~o~eloç medn!cos de wpar cmhnuras da oco<br />
JMC - SIEEL REEF<br />
!<br />
Figura 60: Megaestruturas de aço em várias dimensões
Quando instaladas em grandes profundidades estão menos sujeitas a problemas<br />
estruturais como rachaduras e trincas, que eventualmente acorrem com o concreto.<br />
As estruturas de aço ganharam importância com a opção por construções de<br />
grandes recifes unitários, que obtinha-se mais volume com menos custos. Essa<br />
orientação se enquadrava aos objetivos da Agencia Japonesa de Pesca, que estabeleceu<br />
volume mínimo de 10.000 m 3 para construção dos sistemas de recifes financiado.<br />
Verificou-se que nos recifes de aço a aderência bentônica é maior e mais rápida,<br />
influindo numa maior atração e concentração de peixes. A relação volume/peso dos<br />
recifes de aço é mais que o dobro das estruturas de concreto, incluindo o lastro para as<br />
estruturas mais altas. Com o aumento da demanda os fabricantes formaram uma<br />
associação em 1984, o Kozai Club, quando passaram a trocar informações e unir<br />
esforços para o aprimoramento tecnológico e desenvolvimento de novas formas.<br />
No inicio da década de 1990 iniciaram-se as instalações em série por iniciativa<br />
desses fabricantes, os primeiros resultados das construções foram apresentados com<br />
eficiência para criação de moluscos e crustáceos (KOZAI, 1993), abrindo a<br />
concorrência com os blocos de concreto. Esses modelos de recife com formato de<br />
plataforma com base concreto e aço (Figuras 61), são ideais para profundidades com<br />
muita incidência de luz para estimular a fixação de plantas e volume de biomassa.<br />
Figura 61: Módulos de aço e concreto para propagação e crescimento<br />
Os novos modelos apresentados (Kozai, 1997) incluem o modelo HZ-TYPE,<br />
similar a um dos modelos de megaestruturas com alturas de 20 metros, com área interna<br />
mais vazada, desenvolvidos com a FEM em 1991 (Figura 62) para um projeto no Norte-<br />
Fluminense, (HARGREAVES, 1994). Nos Estados Unidos as estruturas de aço mais<br />
usadas são cascos de navios sucateados. A associação da longevidade dos cascos de<br />
navio aos recifes de aço ainda é discutida em profundidades de até quinze metros, onde
as estruturas podem ficar comprometidas. Geralmente as ligas empregadas nas chapa<br />
são são de baixo custo e dependendo da localização, tendem a se deteriorar pela ação<br />
direta e indireta de correntes, turbulência, temperatura, luminosidade e outras.<br />
Módulos de Reciclagem<br />
Figura 62: Megaestruturas de aço para grandes profundidades<br />
Durante a década de 1970 as discussões ecológicas sobre o uso de sucatas como<br />
recifes artificiais, teve mais influência nos processos de beneficiamento e limpeza dos<br />
materiais, do que sobre a eficiência prática e econômica. Nos Estados Unidos foram<br />
construídos por associações e clubes, mais de 2000 recifes artificiais com navios,<br />
sucatas e sobras de jaquetas, plataformas, e outros equipamentos com incentivos<br />
regionais, para serem aproveitados por pescadores e mergulhadores. No Golfo do<br />
México a pesca nas plataformas de petróleo é bastante divulgada e muitas plataformas<br />
desativadas já foram transformadas em pesqueiros (Figura 63).<br />
tificiais<br />
A questão do abandono de instalações levantada por órgãos ambientais, no caso<br />
da plataforma tipo SPAR no Mar do Morte em 1995, teve suas repercussões no Brasil<br />
(RODRIGUEZ, 1997) que acompanha as determinações de remoção propostas pela<br />
IMO e FAO e outros acordos internacionais. Observa-se diferentes tendências, em<br />
relação a remoção dessas estruturas que tendo prevalecido, apesar da eficiência de sua
utilização como viveiro de peixes, mas principalmente por ser a alternativa de menor<br />
custo. O problema sugere uma ampla discussão com os diversos setores envolvidos,<br />
visando um planejamento de uso das sucatas em projetos ambientais para atividades de<br />
turismo submarino, pesca profissional e recreativa.<br />
11.2.4. Módulos de Estruturas Flutuantes<br />
As estruturas flutuantes atratoras de peixe, vem sendo empregado através de<br />
gerações em diversas partes do mundo. Segundo os japonês feixes de bambu<br />
começaram a ser utilizados para pesca de dourado no 30 da Era Meiji (1897), no Mar do<br />
Japão. Os flutuantes atratores de peixe (FAP) são em geral constituídos de três<br />
componentes, o do flutuador na superfície, o da coluna de água e o da poita. Os<br />
flutuadores podem ter diversas formas dependendo do material utilizado, são ligados a<br />
pôita por um ou mais cabos, onde podem ser amarrados outros materiais como longas<br />
tiras de plástico ou folhas de coqueiros nas formas mais rudimentares, que também<br />
servem com referenciais para atrair peixes e cardumes.<br />
Figure4.-Fish aggmgaiing device. buoy iype.<br />
Figura 63: Atratores para profundidades de 200 a 500 metros
Os FAPs atualmente são de construídos de materiais especiais mais duráveis como na<br />
Figura 63, instalado em águas profundas na costa havaiana (MATSUMOTO et al.<br />
1981) com sistemas de células fotoelétricas para acionarem lâmpadas durante a noite.<br />
2.5. Módulos de Estruturas de Surfe<br />
A construção de recifes artificiais no Estado do Rio de Janeiro, apesar de ser<br />
uma prática antiga, somente começou a ser estudada em 1982 e poucos experimentos<br />
foram realizados, apesar de sua importância econômico - ecológica, para vários setores<br />
de produção e serviços (HARGREAVES, 1994).<br />
A primeira proposta de construção de um recife artificial para prática do surfe<br />
surgiu na Califórnia ( PRATTE, 1987) e de construção, com a inclusão de um modelo,<br />
foi apresentada no Coastal Zone '89 ( PRATTE, et al. 1989). Entretanto, passado uma<br />
década de negociações com governos regionais e patrocinadores, o projeto não foi<br />
realizado. Segundo divulgação da Surfer Magazin, o início da construção estava<br />
previsto para o segundo semestre de 1997, com patrocínio da CHEVRON, como parte<br />
de indenização pela construção de terminal de petróleo que afastou os surfistas da área.<br />
No Japão, indiscutivelmente o pais que detém a tecnologia mais avançada na<br />
construção de recifes de bioprodução, a proposta de construção de estruturas submarinas<br />
visando o surfe, foi apresentada para a praia de Shonan (OKAJIMA et al. 1993), o<br />
principal ponto de concentração de surfista da região da Grande Tóquio. Na cidade do<br />
Rio de Janeiro, a construção de recifes para surfe e mergulho foi sugerida em 1992,<br />
como complemento de benefícios a população, em função dos projetos desenvolvidos<br />
pela COPPENFRJ, de alongamento e alargamento do Canal do Jardim de Alá, entre as<br />
praias de Ipanema e do Leblon.<br />
No início de 1997, dois trabalhos sobre o tema foram desenvolvidos com<br />
diferentes enfoques. A proposta pioneira exclusivamente para o surfe foi feita pela<br />
ONDA (Organização Nacional de Desenvolvimento de Recifes Artificias), que<br />
compreende um empreendimento para construção de um sistema de recife artificial na<br />
Praia de Copacabana, num tradicional ponto dos surfistas conhecido como "baixio ",<br />
onde ocorre as maiores ondas durante as ressacas. No trabalho sobre o impacto das<br />
obras na faixa costeira da zona sul da cidade, da Praia do Leme ao Leblon<br />
(HARGREAVES, FERNAN<strong>DE</strong>Z, 1997) que prejudicou os esportes aquáticos, o<br />
emprego de sistemas de recifes artificias é apontado como alternativa para recuperação
e criação de zonas propícias para o surfe, mergulho e controle de transporte de<br />
sedimentos. Esse trabalho destaca a potencialidade do canto da Praia do Leme, o baixio<br />
de Copacabana, as lajes de Ipanema e o final do Leblon.<br />
O único projeto concluído de recifes artificiais desenvolvido especialmente para<br />
prática de surfe foi construido na Austrália (JOINT,1997), composto de dois grupos,<br />
possibilitando o surfe para ambos os lados, como pode ser observado na fotografia da<br />
Figura 64.<br />
Figura 64: Foto aérea do recife artificial de Narrowneck, Australia<br />
As estruturas foram projetadas e construídas com sacos e tubos cheios de areia,<br />
acompanhado os contornos do fundo, para que as ondas chegassem à arrebentação<br />
formando tubos, ideal para prática do surfe. Na figura 65 , pode-se observar um canal<br />
rampa entre os dois módulos beneficiando a concentração de massa e o bordo norte<br />
mais prolongado, desenvolvidos dessa forma em decorrência das condições de onda<br />
locais e a possibilidade de ocorrência durante todas as fases de marés durante o ano.
PARTE 3:<br />
CIPITÉRIOS <strong>DE</strong> ZONEAMENTO COSTEIRO E OCEÂNICO<br />
11.3.1. Introdução<br />
Os critérios de divisão do espaço costeiro e oceânico, no sentido de conciliar<br />
informações geográficas espaciais com as do potencial de recursos ambientais, visando<br />
a obtenção de indicadores econômicos, demandam a organização de informações<br />
específicas de diferentes áreas de pesquisa. Essas informações precisam ser organizadas<br />
em relação a espaços definidos em áreas e zonas específicas, para que possam ser<br />
quantificadas e avaliadas, gerando subsídios necessários a configuração de viabilidade<br />
econômica do plano de gestão de múltiplo uso de recursos. A Figura 66 apresenta as<br />
divisões dos oceanos com as grandes zonas abissais e a continental, com suas sub-<br />
divisões litorâneas relativas a profundidade e caraterísticas ecológicas.<br />
Neste item as exposições são complementadas com informações, referências e<br />
figuras para ilustração de diversas origens, pertinentes ao quadro de viabilidade de<br />
desenvolvimento de sistemas sustentáveis de múltiplo uso na Região Sudeste e em<br />
outras áreas onde possa ser aplicado, com características similares.<br />
Figura 66: Perfil Esquemático de zoneamento em taludes do solo submarino<br />
(Fonte: Luíz Saldanha 1978 - Fauna Submarina Atklritica)
11.3.2. Zoneamento de Bacias Hidrográficas<br />
O parcelamento das áreas interiores de influência nos sistemas costeiros pode ser<br />
observado segundo diferentes parâmetros, seguindo a lógica de localização dos pontos<br />
de nascente formando os sistemas capilares que dão origem aos córregos e afluentes que<br />
formam os rios. Os outros referências se devem as encostas dos vales, a ocorrência<br />
sequencial de corredeiras, cachoeiras e outros fatores, criando formações diferenciadas<br />
localizadas. A SERLAIRJ (Superintendência Estadual de Rios e Lagoas) adotou o<br />
critério de divisão integral das principais bacias hidrográficas da Região Sudeste:<br />
- Bacia do Rio Itabapoana<br />
- Bacias Contribuintes da Lagoa Feia<br />
- Bacias Contribuintes do Rio Macaé e São João<br />
- Complexos Lagunares de Araruama, Saquarema, Maricá e Piratininga<br />
No contexto de estudo de embasamento teórico das relações com o espaço costeiro,<br />
considerando-se os aspectos sociais e econômicos que implicam a interferência dos rios<br />
na produtividade dos mares e as possibilidades de múltiplo uso, diversos aspectos<br />
podem ser considerados, desde a ocorrência do testemunho dos sambaquís encontrados<br />
nas margens dos grandes rios as concentrações urbanas atuais, confirmando a<br />
importância desses sistemas para as diversas atividades sejam comerciais, recreativas ou<br />
científicas.<br />
Em se considerando a importância da qualidade da descarga dos rios para riqueza e<br />
condições de múltiplo uso, a preservação de nascentes, matas ciliares e controle de<br />
encostas, se toma necessária. As áreas dos estuários sofrem grande influência do<br />
volume descarga, com pouca água a força do mar tende a a avançar sobre a faixa<br />
terrestre com múltiplos efeitos, que variam de acordo com a característica de sua<br />
formação geográfica. Essas ocorrências, dependendo da intensidade e freqüência,<br />
demandam medidas administrativas.<br />
Com relação aos complexos lagunares, com menos aporte de águas fluviais a<br />
situação de estabilidade depende do aporte de chuvas e a troca de água decorrente dos<br />
movimentos de marés, demandando estudos de economia desse equilíbrio entre as<br />
variações de altura e correntes de marés, índices pluviométricos e aporte dos córregos e<br />
rios contribuintes. No complexo lagunar de Araruama, esses contribuintes estão<br />
deteriorados com altos níveis de poluição, exigindo medidas urgentes, principalmente<br />
porque foi constatado em estudos de 1989, que a faixa salarial do trabalhador não
qualificado engajados na pesca era 3,s vezes superior em comparação com outros<br />
empregos, que em geral são oferecidos em escala durante as estações de veraneio.<br />
11.3.3. Divisão da Zona Costeira<br />
Estas áreas apresentam processos avançados de degradação e eutrofização da<br />
zona costeira, levando ao comprometimento da balneabilidade e queda da atividade<br />
pesqueiro extrativista, com a conseqüente necessidade de depuração da produção<br />
aquícola em áreas contaminadas. Novos projetos devem ser criados para absorver a mão<br />
de obra engajada regularmente na atividade pesqueira, incentivando projetos para<br />
melhor uso das águas, com formas adequadas de pesca, cultivos e constmções de<br />
proteção e enriquecimento da biomassa através de recifes artificiais.<br />
Após a publicação do US. Coastal Zone Management Act de 1972, os estudos<br />
de ecologia dos sistemas costeiros de intensificaram, surgindo os primeiros trabalhos<br />
sobre propostas de gerenciamento dos ecossistemas costerios, evoluindo com formas de<br />
gestão integradas ou direcionadas a temas específicos, como o da FAO de 1998, em<br />
relação ao manejo de habitats elaborados por Grupo de Especialistas e do estudo dos<br />
efeitos da pesca divulgado em 1999 pela American Fisheries Society, apresentados no<br />
Capítulo I.<br />
Segundo o estudo da SEMAIRJ (Secretaria de Estado de Meio Ambiente do<br />
Estado do Rio de Janeiro) de 1998, sobre a caracterização físico-ambienta1 dos sistemas<br />
costeiros do Estado do Rio (MUEHE E VALENTINI, 1998), essa faixa litorânea da<br />
Região Sudeste foi dividida da seguinte forma:<br />
Litoral Oriental: ( macro-compartimento Bacia de Campos)<br />
Compartimento do Rio Itapaboana<br />
(da foz do rio Itabapoana à do rio Paraíba do Sul)<br />
= Compartimento planície costeira do rio Paraiba do Sul<br />
(da foz do rio Paraíba do Sul à foz do rio Macaé)<br />
Compartimento do Rio Macaé ao embaiamento do Rio São João<br />
(de Macaé ao cabo Búzios)<br />
Compartimento do embaiamento cabo Búzios - cabo Frio<br />
(do cabo Búzios ao cabo Frio)<br />
Litoral Sul: (macro-compartimento dos Cordões Litorâneos)<br />
Compartimento Região dos Lagos (do cabo Frio a Niterói)
Os critérios de divisão podem ser definidos e parcelados de acordo com as<br />
dimensões das áreas que se pretende desenvolver os planos de manejo e gestão, desde<br />
que acompanhem uma lógica de características físicas espacial de feições geográficas e<br />
ambientais. O mais importante é que se observe em cada compartimento ou sistema<br />
natural, os processos de interação. Essa concepção de visão integrada e relações de<br />
interdependência já foi observada por CLARK (1977), que pode servir como referência<br />
sobre o tema. Seguindo o que poderia ser no contexto da bioprodução, uma hierarquia<br />
de importância, alguns tópicos devem ser mencionados neste estudo para orientação da<br />
complexidade que envolve a elaboração de planos de gestão desses espaços.<br />
Os sistemas estuarinos são considerados os principais provedores de nutrientes<br />
para base da produção pesqueira, influindo diretamente nos processos físicos de<br />
estabilização e de formação de bancos com transporte de sedimentação. Influi na<br />
alteração e variações de salinidade, luminosidade e temperatura, durante o ano,<br />
compondo os ciclos hidrológicos de circulação de água, ocorrência de estratificação,<br />
composição química da água, gases dissolvidos e carregando os possíveis agentes de<br />
contaminação, alterando o sistema biótico. Grande parte das formas e modos de vida<br />
marinhos dependem do ambiente estuarino, influindo nos ciclos de visa e na<br />
sazonalidade de espécies pelágicas e demersais.<br />
Quanto conceituação econômica-ecológica, exercem grande influência na<br />
produtividade, gerando energia para cadeia alimentar, determinado níveis de estocagem<br />
de alimentos que dimensionam o estoque pesqueiro, repercutindo na sucessão de<br />
espécies, alterações de ciclos e diversidade. A área de transição, a ecotone nas pontas e<br />
nas bordas dos sistemas, são indicadores da capacidade de suporte do limite de<br />
sustentação de vida, como espécies mais sensíveis, inclusive de poluição como o bloon<br />
de algas.<br />
Em geral as faixas costeiras são as que mais sofrem com fatores de perturbação,<br />
como as construções e uso de praias, a conveniência da instalação de industrias<br />
poluidoras, lançamento de esgotos domésticos, fluxos canalizados, fluxos de superfície<br />
e abaixo da superfície, com alto poder de contaminação como as descargas de solos e<br />
as do tipo chorume que pode penetrar pelo meio de barrancos e recifes de proteção.<br />
As faixas costeiras são influenciadas por circulação de correntes, que podem ser<br />
de quatro tipos de diferentes combinações de marés, água doce e de origem oceânica.<br />
Na situação atual na Região Sudeste tudo ainda é pouco conhecido, demandando<br />
levantamentos de reconhecimento em diferentes pontos estratégicos, para se identificar
sentido e velocidade dos fluxos, taxas nos períodos e outros fatores, assim como a<br />
influência das estruturas submersas na mistura de águas, da ressurgência no cabo Frio,<br />
ou da circulação nas lagoas costeiras e estuários não estratificados onde ocorre mistura<br />
de água com mais chuva. Na região sudeste as bacias costeiras variam muito, algumas<br />
com costas mais expostas, em platôs, pequenas enseadas, embaiamento, rios de marés,<br />
lagunas e ciclos de impactos como ressacas e ventos.<br />
Especial atenção deve ser direcionada as "áreas vitais" como mangues, alagados,<br />
vegetação nas faixas de marés e sistemas naturais de drenagem. No litoral submerso os<br />
recifes de corais, as concentrações de moluscos de concha e ilhas; na faixa costeira de<br />
transição os bancos de marés de rio, áreas de reprodução, a cobertura vegetal de bernes<br />
de proteção, dunas e barreiras de restinga de proteção natural. Esses componentes<br />
influenciam na capacidade de reciclagem dos recursos, na recuperação diária, mensal,<br />
anual, dando suporte a sustentabilidade das atividades e explotação e outros usos. Para<br />
isso se torna necessário a avaliação dos sistemas, com áreas monitoradas, de uso<br />
controlado, preservação, proteção e conservação.<br />
O controle visa minimizar alterações das bacias costeiras evitando dragagens e<br />
depósitos; ou prover ações de recuperação de vegetação e habitats com recifes de<br />
proteção; assim com da alocação de uso da água, cobertura vegetal e de áreas<br />
protegidas. O controle maior deve ser exercido sobre usos específicos, como industria<br />
pesada e extrativas, aeroportos, canteiro de obras, estradas, pontes, áreas residenciais,<br />
marinas e piers ou agricultura, que implicam na demanda de tanques de tratamento de<br />
dejetos, esgoto e lixos sólidos. Esses parâmetros servem como base de avaliação dos<br />
critérios qualitativos e quantitativos para o desenvolvimento dos sistemas de múltiplo<br />
uso considerados nesta tese.<br />
11.3.4. Zoneamento da Faixa Costeira Marinha<br />
A faixa costeira marítima considerada é uma referência a sua contrapartida<br />
terrestre, entretanto não há uma definição clara sobre as suas áreas de abrangência,<br />
como pode ser verificado nos planos e programas nacionais de gerenciamento costeiro<br />
ou recursos do mar. Neste caso também, além de limites de referência de três, seis ou<br />
doze milhas, a área pode ter característica por limites de profundidade, variando entre os<br />
10, 20 e 50 metros de acordo com a sua proximidade da costa ou outros fatores<br />
referenciais, dessa faixa de uso mais intenso e complexo. A divisão apresentada na<br />
Figura 67 se baseia principalmente na ocorrência de formas de vida que cobrem os
diferentes setores desse espaço submarino, considerado como zona eufótica devido a<br />
dependência de luminosidade para ocorrência de biomassa mais rica e diversificada.<br />
Figura 67: Esquema de zoneamento da colonização bentônica sobre substratos rochoso<br />
(Fonte: Luiz Saldanha 1978 - Fauna Submarina Atlântica)<br />
Apesar do conhecimento sobre a fragilidade desses sistemas naturais, é a região<br />
que sofre os grandes impactos e onde ocorre maior degradação devido ao acúmulo de<br />
usuários. Na Região Sudeste em quase toda sua extensão apresenta indícios de uso<br />
excessivo e sobrepesca predatória. Seu esgotamento é visível através da diminuição do<br />
tamanho médio dos exemplares capturados, com a notória falta de espécies em volume<br />
economicamente viável. Em menos de duas décadas a pesca costeira tradicional se viu<br />
reduzida à aproximadamente 10% do seu potencial de captura, configurando um quadro<br />
alarmante da situação e sem que se tenha desenvolvido estudos mais aprofundado sobre<br />
o tema.<br />
Dentro das três milhas teoricamente regulamentadas, as artes de pesca como a<br />
rede de emalhar devem ser repensada e as de arrastos banidas, acompanhadas de estudos<br />
dirigidos e projetos viáveis, nos sentidos de regeneração dos sistemas naturais e de<br />
recuperação dos níveis econômicos da bioprodução. Lembrando que na faixa terrestre
adjacente, um controle mais rigoroso deve ser exercido pelas comunidades costeiras<br />
para controle da poluição, construções irregulares e dejetos nos corpos aquáticos.<br />
Apesar do seu potencial conhecido, os lajeados, naufrágios, sítios arqueológicos<br />
e formações de corais, o solo submarino até essas profundidades de fácil acesso, ainda<br />
precisam ser levantados e pesquisados, para que se possa avaliar o real potencial<br />
biológico, turístico e científico da região.<br />
Como foi observado no item anterior, devem ser observados os tipos de<br />
circulação de correntes, e suas combinações de marés, os volumes do aporte de água<br />
doce e os limites de predominância de origem oceânica. Uma conjugação de fatores de<br />
muita importância para região mas de dinâmica pouco conhecida em toda sua extensão.<br />
As de circulação oceânica vêm sendo mais estudadas devido a demanda por parte da<br />
indústria do petróleo, assim como os ventos e ondas, que próximas da costa atuam no<br />
transporte e diluição de contaminantes de origem terrestre. As circulações nos oceanos<br />
abertos são geralmente menos complexas que as estuarinas. No caso da zona do cabo<br />
Frio onde ocorre a ressurgência, muitos estudos já foram desenvolvidos pelo IEAPM.<br />
As faixas submersas da região sudeste variam muito devido as diferentes caraterísticas<br />
das bacias costeiras, algumas com seus costões rochosos mais expostos, e outras em<br />
platôs, lajes e pequenas ilhas. Os fundos de enseadas são de pequenas dimensões,<br />
geralmente restritas a uma praia.<br />
11.3.5. Mar Territorial<br />
A faixa oceânica territorial de 12 milhas e faixa contígua adicional de 12<br />
milhas são conceitos adotados internacionalmente como limite de fronteira marítima.<br />
Foi através dos séculos considerada como a do alcance da uma bala de canhão. Nesse<br />
período foram atribuindo-se maiores distancias passando de três, a seis até as atuais<br />
doze milhas e mais recente adicionada doze milhas de faixa contígua. Esses valores<br />
foram considerados na maioria dos casos por razões militares de segurança, observando-<br />
se que em muitos países vizinhos as fronteiras marítimas são muito próximas, exigindo<br />
a inclusão de outros parâmetros para definição desses limites.<br />
No caso da Região Sudeste do Rio de Janeiro, a plataforma continental pode se<br />
estende até 80 milhas fora da costa com profundidade em torno de 200 metros, onde se<br />
encontra a zona de exclusividade para produção de hidrocarbonetos. A pesca ficou<br />
restrita a faixa mais plana e menos piscosa do talude. Nesta área opera principalmente a
frota de pequeno e médio porte, com embarcações de linha, combinada com espinhe1 e<br />
covos (pescaria nova na região), que representa a maioria da frota pesqueira regional,<br />
acrescida de embarcações provenientes de outros estados da federação, atraídas pela<br />
piscosidade local. O produto da captura é destinado principalmente ao atendimento da<br />
demanda de exportação das quatro principais indústrias instaladas em Cabo Frio.<br />
A concorrência da pesca nesta faixa é acirrada. As áreas mais conhecias já se<br />
encontram em níveis de explotação máximos de sustentabilidade. Próximos as ilhas e<br />
parceis há denúncias de pesca predatória com redes de espera e de linha, capturando<br />
espécies em crescimento. Próximo às plataformas de petróleo a pesca continua sendo<br />
conduzida de forma clandestina e arriscada.<br />
Os sistemas atuais de localização e produção através dos mapas de bordo na<br />
escala de 1 grau sub-dividida em quatro quadrantes precisam ser complementadas, com<br />
informações mais aprofundadas sobre condições ambientais e de contorno do solo<br />
submarino. Considerando a proposta de planejamento e gestão, com objetivo de<br />
aumentar a produção, melhor distribuição da frota e aumento de outras atividades<br />
complementares, como pesca esportiva e de lazer, torna-se necessário a identificação<br />
mais detalhadas das áreas de acordo com a produtividade, visando principalmente o<br />
enriquecimento das áreas desérticas planas sob a ação da pesca predatótia de arrasto,<br />
com a implantação de recifes artificiais e atratores. Neste caso se torna necessário o<br />
estabelecimento de critérios de zoneamento, com sub-divisões de áreas menores de mais<br />
fácil localização, com escalas proporcionais aos tipos de embarcações menores. No caso<br />
de administração municipal, conceitos populares pode ser atribuídos a essa faixa<br />
oceânica territorial, como limite visual da linha de costa no horizonte, como topo de<br />
montes e limites de profundidade, sendo o mais importante.<br />
11.3.6. Espaço Oceânico de Produção e ZEE de Pesca<br />
O espaço oceânico econômico vem sendo considerado como a extensão do mar<br />
territorial de 12 milhas e faixa contígua, até os dos limites da Zona Econômica<br />
Exclusiva (ZEE) de 200 milhas. Com a evolução das negociações iniciadas na década<br />
de 1980, as resoluções da ONU passaram a discutir novos limites que podem se<br />
estender até 350 milhas, segundo critérios baseados nas relações de altura do talude da<br />
plataforma continental (PAIVA, 1985). Dessa forma passou-se a considerar o solo<br />
submarino como referencial da demarcação territorial.
As características do contorno da costa submersa em cada zona oceânica,<br />
associada a ocorrência de correntes, marés e ventos, influenciam nas mudanças da<br />
qualidade da água de cada local, de acordo com a sua procedência e índices de<br />
misturação, que influenciam na ocorrência de cardumes. Esse espaço oceânico é o<br />
menos conhecido, a atividade pesqueira nessa faixa de profundidade teve início nos<br />
anos de 1980. As informações disponíveis se resumem aos mapas de bordo, onde são<br />
lançados os dados de pescaria, com a localização em um dos quatro quadrantes da sub<br />
divisão de um quadrado de um grau, ou 60 milhas.<br />
Figura 68: Zonas de pesca oceânica de atuns e espécies afins (Paiva e Le Gall)<br />
Ainda não há descrições mais detalhadas sobre os critérios de divisão do espaço<br />
oceânico de operação da frota oceânica brasileira própria ou arrendada, que é<br />
relativamente pequena. A divisão do oceano Atlântico adjacente a costa brasileira em<br />
quatro grandes zonas pesqueiras apresentada na Figura 68, foi estabelecida por P UA<br />
e LE GALL (1975) para as áreas de peca de atum e espécies afins exploradas por<br />
embarcações de pesca com espinhe1 de profundidade. Para definição dessas zonas os<br />
parâmetros considerados foram as condições naturais de ocorrência das espécies e o<br />
acesso aos principais portos brasileiros.<br />
Segundo essa configuração, a zona de I a 111 compreendem as águas tropicais,<br />
entre as latitudes de 15" N e 20" S e as longitudes 20" W e 60" W. A Área I se encontra<br />
no espaço de influência de duas correntes, a Norte Equatorial e das Guianas; a Área I1
sob influência das correntes Norte e Sul equatorial; e a Área 111 sob influência das<br />
correntes Sul Equatorial e do Brasil.<br />
A Área IV, corresponde ao espaço que abrange as águas temperadas, entre as<br />
latitudes de 20" S e 35" S e as longitudes de 20" W e 30" W até a linha de costa do<br />
Brasil. Essa área está sob a influência da corrente do Brasil e estudos mais recentes<br />
indicam também a influência da corrente das Malvinas (Falklands), que corre junto ao<br />
fundo com áreas de ressurgência no cabo Frio e nas formações de Abrolhos. Está<br />
também sendo identificada uma corrente costeira no sentido sul-norte, desde a costa do<br />
Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro.<br />
Figura 69: Forma convencional da FAO para estatística Mundial da Pesca<br />
Esse processo de divisão baseado principalmente nas correntes, por onde os<br />
cardumes de atuns se locomovem, as informações do local de captura podem ser mais<br />
abrangentes, na escala de 1" (um grau) ou nos subquadrantes de áreas dispostos na<br />
Figura 69. Para a escala que vem sendo estudada neste trabalho, a faixa oceânica<br />
econômica de interesse se estende até os limites da plataforma continental e adjacências<br />
na distância de 200 ou 350 milhas com profundidade máxima na faixa dos 200 metros,<br />
sendo necessário escalas menores com de 1/4 de MM~ (Milha Marítima) ou inferiores<br />
dependendo da ocorrência de referencial de localização, como relevo, variação<br />
profundidade e tipo de fundo.
ANEXO I11 (Referente ao CAPÍTULO IV)<br />
PARTE I:<br />
INPoRMAÇÕEs COMPLEMENTARES DA COMPARTIMENTAÇÃO,<br />
MEDIÇAO, E AVALIAÇÃO <strong>DE</strong> RECURSOS COSTEIROS E OCEÂNICOS DA<br />
REGIÃO SU<strong>DE</strong>STE DO ESTADO DO RIO <strong>DE</strong> JANEIRO<br />
EI.P.1. Descrição de Lógica Ambienta1 de Avaliação de Recursos<br />
A situação da pesca dentro desse conceito de zoneamento a partir dos oceanos,<br />
no caso da Região do Cabo Frio, pode ser caracterizada em suas particularidades. O<br />
enquadramento de características ambientais em parâmetros espaciais de zoneamento,<br />
distâncias proporcionais aos fatores naturais homogêneos como linhas de praias,<br />
extensões rochosas da orla, ilhas próximas da costa, como tópicos de oferta e demanda.<br />
No modelo de aplicação no litoral da Região Sudeste as características naturais são<br />
medidas em milhas marítimas, observando-se as extensões e áreas homogêneas com<br />
características comuns.<br />
FRENTE SUL<br />
Na FRENTE SUL (Figura 70) a principal característica foi identificada pela<br />
extensa faixa de praias oceânicas abertas, com uma zona de surfe de excelência e<br />
correntes fortes atuantes a maior parte do ano. Segundo o relatório da SEMA, a praia de<br />
Massambaba apresenta alto índice de mobilidade horizontal de sedimentos e<br />
considerável variabilidade topográfica. Essa instável faixa de restinga adjacente a lagoa<br />
de Araruama, vem sendo ocupada de forma desordenada, provocando consideráveis<br />
modificações, inclusive nas bermas limites da faixa de praia adjacentes a zona de surfe.<br />
O mesmo vem ocorrendo em todas as outras extensões de praia, lagoas menores<br />
e nos sistema de Saquarema, Maricá e Iaipú. Nas praias de Itaipu-açu e Piratininga as<br />
ressacas de anos anteriores na década de 1990, derrubaram árvores, destruíram ruas e<br />
casas construídas a beira-mar.<br />
A plataforma continental, a partir de Saquarema se estreita na faixa dos 100<br />
metros de profundidade a pouco mais de 10 milhas da costa. Os limites da plataforma de<br />
200 m de profundidade estão perto de 45 milhas. As longas faixas de praia separadas<br />
por formações rochosas se estendem por cerca de 65 milhas, amortecem a ondulação do<br />
quadrante sul do Atlântico e poderiam ser aproveitadas para prática do surfe.
Corttpart. Piratinirign - Ponta Negra Compartimento Massambaba<br />
Sistemas<br />
Itacoatiara Itaipu-Acú Pt. Negra<br />
Profundidades 150m I 7 100m 7200m 23"<br />
A zona oceânica de pesca na plataforma de 100 e 200 metros de profundidade<br />
tem com como limite o talude onde se localizam os blocos de exploração de petróleo e<br />
as estatísticas indicam como a zona mais piscosa em todo litoral sudeste do país, com<br />
linha e anzol a partir dos 200 metros.<br />
Sistemas<br />
Saquarema Itauna Massambaba<br />
As águas são favorecidas para pesca devido a ressurgência, quando os nutrientes<br />
trazidos pelas correntes frias de fundo chegam as camadas da superfície, enriquecendo a
ase da cadeia alimentar. A pesca nessa extensa faixa oceânica é onde se concentra<br />
grande parte da frota brasileira e estrangeira de pesca, enquanto próxima da costa é<br />
percorrida por diferentes tipos de embarcações onde se pratica várias artes de pesca, sob<br />
regime de auto gestão com livre acesso regido por códigos seculares.<br />
Entretanto, essas condições de mar são desfavoráveis ao mergulho e lazer na<br />
faixa de praia, que na maior parte de ano apresenta condições hostis, inclusive para<br />
prática do surfe . O mesmo para outros esportes e atracação de embarcações, possível<br />
apenas nas áreas protegidas situadas nos dois extremos da região, no sistema de<br />
Jurujuba, na entrada da Baia de Guanabara e no Arraial do Cabo. Em quase toda essa<br />
faixa, as profundidades de 20 metros são encontradas a menos de uma milha da costa. A<br />
de 50 m de profundidade se prolonga, em torno de 5 milhas, favorecendo a ocorrência<br />
de interações oceânicas, físicas e biológicas, próximas da costa.<br />
Na Zona 1.1. do Compartimento de Piratininga - Ponta Negra a faixa com até<br />
50 m de fundo se estende por seis milhas da costa, onde são encontrados recursos<br />
significativos. No Sistema Iacoatiara, as ilhas do Pai e da Mãe no prolongamento da<br />
ponta de Itaipú, formam um fundo com menos de 20 metros de profundidade, com<br />
algumas formações naturais e pelo menos um navio afundado. Até o Sistema Itaipú-<br />
Açu, em meio as formações rochosas, com cerca de duas milhas de extensão para<br />
prática do mergulho, está situada a praia de Itacoatiara, com condições muito favoráveis<br />
a prática do surfe.<br />
As características da praia de Itaipu-açu são menos conhecidas e favoráveis a<br />
prática de esportes. O mergulho se concentra nas ilhas Maricás, principalmente para<br />
pesca comercial. O Sistema adjacente Maricá - Ponta Negra, ao longo da restinga,<br />
possui um lajeado pouco estudado, a cerca de uma milha da costa. Nos limites da Ponta<br />
Negra a faixa dos 50 m de profundidade chega a quatro milhas da costa, e a de 100 m se<br />
reduz em 10 milhas, trazendo as águas oceânicas profundas para mais próximo da costa.<br />
A Zona 1.2. do Compartimento da Praia de Massambaba é a de águas oceânicas mais<br />
próximas da costa, chegando na ponta do Cabo Frio, adjacente a praia Grande (final da<br />
Massambaba) a profundidade de 50 m, e a menos de uma milha da laje da ponta da<br />
Cabeça. Em quase toda sua extensão de praia, a profundidade de 20 metros é em média<br />
de 500 metros, e em alguns locais a 100 metros da orla.<br />
O Sistema Saquarema tem como referência as duas formações rochosas nos<br />
extremos da faixa de praia; a área adjacente a ponta Negra é composta por lajeados e no<br />
outro a ponta de Saquarema, adjacente a entrada da lagoa. O litoral submerso é
desconhecido quanto a sua potencialidade, e somente utilizado por pescadores da<br />
região. As praias são pouco propícias para o lazer, sendo a atividade predominante a<br />
pesca de linha ou com rede, de forma irregular.<br />
No lado oposto a entrada da lagoa de Saquarema, o início de praia do Sistema<br />
Itauna se destaca pelas formações rochosas da laje de Itauna. Esse local onde são<br />
organizados campeonatos é considerado um dos melhores locais do país para prática do<br />
surfe. Quando há condições de mar, a pesca de mergulho e coleta de mariscos é<br />
geralmente produtiva, enquanto a pesca embarcada de linha pode ser conduzida em<br />
condições de mar menos favoráveis.<br />
Após três milhas de extensão de praia, na faixa de 10 metros de profundidade, se<br />
forma um grande banco de areia com pequena formação de lajeado, um local também<br />
pouco conhecido. A maior parte dessa extensão de praia forma um cordão com as<br />
lagoas, adjacentes ao complexo lagunar de Araruama, chegando até o final da praia<br />
Grande, junto ao cabo Frio. O Sistema Massambaba com pouco mais de 20 milhas de<br />
extensão, foi caracterizado pela estreita faixa submarina muito próxima da costa, com<br />
profundidade inferior a 20 metros de profundidade.<br />
As cartas náuticas apresentam um banco de areia a menos de 20 m de<br />
profundidade, a cerca de 6 milhas do banco de praia Seca e com menos 113 de suas<br />
dimensões. A zona de águas oceânicas é uma das mais piscosas do Brasil, atraindo a<br />
frota pesqueira de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o que provoca o<br />
aumento de conflitos entre as diferentes modalidades de pesca. A faixa de três milha ao<br />
redor do cabo Frio está sob administração conjunta com o IBAMA, o que veio a gerar<br />
mais problemas e desta vez incluindo todos os pescadores da região, excluídos pelo<br />
plano de manejo local.<br />
Parte dessa extensão de praia foi pesquisada por técnicos de algumas<br />
instituições, mas principalmente pelo IEAPM, que possui o maior e mais antigo acervo<br />
de informações. O conhecimento sobre o potencial desse sistema submarino pode ser<br />
melhor avaliado com base nessas informações e levantamentos para mapeamento<br />
detalhado do relevo.<br />
A plataforma continental nessa frente de Massambaba está na faixa de 40 milhas<br />
de distância. Nesses limites de plataforma estão as área mais piscosa de peixe de bico<br />
(marlin e peixe espada), onde de outubro a fevereiro são utilizada pela pesca oceânica<br />
esportiva e realização das competições mais importantes do calendário nacional. O<br />
potencial da plataforma continental ainda é muito pouco conhecido, mesmo esses locais
com batimetria e potencial relativamente levantado. Toda essa extensa área demanda<br />
um tratamento mais adequado e diferenciado, com uma avaliação a partir de imagem<br />
mais completa da topografia submarina e suas características bioeconômicas.<br />
FRENTE SU<strong>DE</strong>STE<br />
A parte SUB REGIÃO 2, correspondente a FRENTE SU<strong>DE</strong>STE (Figuras 71 e<br />
72), se estende desde o cabo Frio ao cabo de São Tomé, e pode ser caracterizado pela<br />
extensa plataforma continental, chegando a quase 80 milhas da costa com profundidade<br />
de até 100 metros, seguida de uma faixa de 5 a 10 milhas até atingir o final da<br />
plataforma com 200 m de profundidade, com o início do talude para zonas profundas,<br />
até o platô em torno dos 2000 metros. A maior parte dessa zona altamente piscosa está<br />
fechada para pesca, sendo exclusiva para produção de petróleo e gás.<br />
O Compartimento Cabo Frio - Cabo Búzios engloba duas cidades, a de Arraial<br />
do Cabo no platô do cabo Frio e a cidade de Cabo Frio as margens do canal de Itajuni.<br />
O cabo Frio se projeta no oceano, mudando a direção da linha costeira, do sentido norte-<br />
sul, para o sentido leste-oeste. Esse ponto de inflexão tem na parte sul a praia Grande,<br />
com uma grande faixa de águas rasas devido a fina arreia que é levada com o vento,<br />
quase constante na região. As privilegiadas condições paisagísticas naturais, que deram<br />
fama internacional ao local, estão deterioradas e durante o verão centenas de turistas se<br />
concentram na área afetando mais a cobertura vegetal. Também os trapiches<br />
construídos pelos pescadores, com as rampas de construção improvisadas para as<br />
canos, contribuem para o empobrecimento do visual do local.<br />
O fator mais alarmante que tem se constatado é a considerável diminuição da<br />
produção da tradicional pesca de cerco de praia com canoas, cujas causas devem ser<br />
melhor estudadas e avaliadas, principalmente a ação dos arrastões na formação dos<br />
estoques devido as suas possíveis repercussões, em relação a migração dos cardumes<br />
em crescimento ao longo da costa sul brasileira. Em tomo do cabo Frio o fundo chega<br />
aos 50 metros e somente a partir da ilha dos Porcos, formando a pequena enseada da<br />
praia dos An~os, a profundidade chega aos 20 metros. O cabo Frio é formado de grandes<br />
rochedos, com altura máxima de 390 metros na ilha do Cabo Frio, e de pequenas<br />
enseadas como a dos Anjos, do Fomo e do saco da Praínha. Essas áreas protegidas<br />
favorecem muito as atividades marinhas, devido as facilidades que podem ser<br />
viabilizadas para embarque e desembarque. Devido a essas condições foi possível a<br />
construção do porto do Fomo nesse ponto estratégico da costa.
Conlparti~nento { Sistema Búzio<br />
Cb. Frio - Cb. Búzios Sistema Cabo Frio<br />
Figura 71: FRENTE SU<strong>DE</strong>STE (1) - Compartimento Cabo Frio - Cabo Búzios<br />
A faixa costeira do cabo, com ocorrência de águas claras durante todo ano e<br />
locais privilegiados, são amplamente divulgadas pela mídia especializada, como uma<br />
das mais propícias para o mergulho no Estado do Rio e no Brasil. A ilha dos Porcos,<br />
devido a proximidade de águas mais fundas, vem sendo cogitada para instalação de um<br />
centro de treinamento e pesquisa para operações submarinas.<br />
Apesar das primeiras pesquisas com estruturas para produção comercial de<br />
mexilhão e ostras terem sido iniciadas na enseada do Forno, o volume de produção é<br />
muito pequeno comparado ao que se produz atualmente em Santa Catarina. Entretanto,<br />
devido o estado de preservação do local cercado por matas, a enseada se tomou um<br />
ponto turístico, e as estruturas de cultivo foram adaptadas para também servir como bar<br />
e restaurante flutuante.<br />
A linha recortada do cabo Frio termina na ilha do Pontal, adjacente a praia do<br />
mesmo nome, com aproximadamente quatro milhas de extensão. Com seu outro<br />
extremo, forma um arco de praia protegida pela pedra do antigo forte, que defendia a<br />
entrada do canal de Itajurii contra invasores. Do outro lado do canal, da ponta da
Lajinha, uma encosta rochosa se estende por cerca de duas milhas até a ponta do Peró,<br />
pouco distante da ilha do Vigia, que por ser bem próxima da costa, forma a pequena<br />
praia das Conchas, adjacente a do Peró, onde se localiza uma área com possibilidade<br />
para aquacultura. Esta praia se estende por três milhas até as formações rochosas da<br />
ponta das Caravelas, no Sistema Cabo Búzios.<br />
Ao largo desse litoral há uma formação linear de aproximadamente seis milhas,<br />
com uma dezena de ilhas destacando-se as maiores dos Papagaios, Comprida e Pargos,<br />
com um considerável potencial de uso devido a média de profundidade do local, que no<br />
lado oceânico chega ao máximo de 30 metros.<br />
Todos esses componentes do Sistema do Cabo Frio estão sendo avaliados por<br />
técnicos e autoridades governamentais, devido a ações predatórias e discussões políticas<br />
sobre os direitos de uso. Estudos preliminares do IBAMAICF sobre essa questão de<br />
zoneamento para o múltiplo uso (HARGREAVES, PIMENTA 1999) apontam uma<br />
série de problemas, no campo técnico e jurídico da regulamentação desses sistemas<br />
costeiros, o que toma a situação complexa, com o agravante da falta de informações<br />
mais confiáveis e precisas sobre os componentes dos sistemas naturais.<br />
Apesar da região possuir um programa de coleta de dados estatísticos da pesca,<br />
grupos de técnicos, cientistas e usuários reclamam da falta de interesse das autoridades<br />
em conduzir um levantamento e mapeamento do espaço oceânico, para que se possa<br />
desenvolver um plano de manejo integrado para o múltiplo uso de toda região.<br />
O Sistema Cabo Búzios, com uma aparente semelhança ao de Cabo Frio, tem no<br />
mar diferenças notáveis. A área, sob maior influência da corrente do Brasil, encontram<br />
menos as águas oceânicas claras e frias. As profundidades no entorno do cabo e ilhas<br />
adjacente, a cerca de duas e três milhas da costa, são inferiores a 50 metros. E no seu<br />
lado norte, correspondente a enseada de Búzios, as profundidades não chegam a 20<br />
metros, em fundos de depósitos lamosos provenientes da foz do rio São João e Paraíba<br />
do Sul<br />
A partir do limite norte da praia do Pontal, a formação rochosa com quase três<br />
milhas de extensão, onde se destacam a ponta das Caravelas, a José Gonçalves e a da<br />
Emergência com as suas ilhas adjacentes, termina na praia dos Tucuns. A área ainda<br />
está mais preservada que as próximas do centro e das principais estradas e vias de<br />
acesso, vêm sendo mais utilizadas por pescadores e mergulhadores locais. A mais de<br />
três milhas dessa face rochosa, onde se encontram também duas pequenas praias, está o<br />
cordão de ilhas, formando o canal de Papagaios, com profundidade média em torno de
20 metros e máxima pouco mais de 30 metros. O potencial dessa área ainda precisa ser<br />
adequadamente estudado.<br />
O componente das praias dos Tucuns e de Geribá são separados pela formação<br />
rochosa do morro do Marisco, que se destaca na planície com 120 metros de altura.<br />
Essas praias são as preferidas dos surfistas na região, estão fora da linha de proteção do<br />
cordão de ilhas, permitindo a entrada direta da ondulação num talude com maior<br />
profundidade. 8 componente principal da formação rochosa do cabo Búzios, a partir da<br />
estreita faixa de terra entre as praias de Manguinhos e Geribá é muito recortado por<br />
altos penhascos, que lembram os do ponta1 do Atalaia e da ilha do Cabo Frio.<br />
As formações da face sul do cabo são singulares, como os componentes da<br />
Ferradura, suas praias protegidas e lajeados em pouca profundidade. Após a ponta da<br />
Lagoinha, o saco do Fomo e do Forninho, o primeiro maior e mais protegido, são muito<br />
propicios para o mergulho. Ao largo dessa fiente se encontram, à aproximadamente 3 e<br />
5 milhas, as ilhas de Gravatá, Âncora e filhote na faixa dos 40 metros de profundidade.<br />
O cabo tem dois pontos mais salientes, as formações rochosas das pontas do Olho de<br />
Boi e a do Criminoso, e entre elas a enseada da praia Brava. Contornando o penhasco se<br />
encontra a ilha Branca em a frente a ponta João Fernandes voltada para o norte, em<br />
seguida a praia de mesmo nome. A face norte do cabo Búzios, a partir da enseada de<br />
Búzios, tem características muito diferentes da face sul. As profundidades por exemplo,<br />
ao largo desta enseada são de 10 e 20 metros, as águas são mais quentes e a visibilidade<br />
para mergulho é bem inferior e muitas vezes inviável. O fundo é lodoso, decorrentes do<br />
depósito de sedimentos dos rios São João na faixa interna, e do Paraíba na externa<br />
(Figura 63).<br />
A concentração de construções no entorno da enseada vêm contribuindo para<br />
degradação das faixas de praia afetando principalmente a dos Ossos, Armação e Canto,<br />
com a contaminação das iguas. Após o contorno da ponta da Cmz, no extremo oeste da<br />
enseada de Búzios, as águas se tornam mais rasas ao largo das pequenas praias dos<br />
Amores, Virgens e Tartaruga entre os morretes, com profundidades inferiores a 10<br />
metros, formando a enseada de Manguinhos.<br />
Devido a reputação internacional da cidade, que permite o maior ingresso de<br />
recursos, o aparelhamento de lazer, se resume a atrativos básicos como restaurantes e<br />
passeios de barco, mas pode ser melhorado, mediante um estudo mais qualitativo do<br />
potencial oceânico, procurando aliviar as grandes concentrações nas praias durante as<br />
estações.
A Zona 2.2. do Compartimento Rasa - Macaé (Figura 62) pode ser visualizado<br />
como uma área mais protegida, constituída por arcos de praia, abrangendo os Sistemas<br />
Manguinhos, Rio São João e Rio das Ostras; e outra mais aberta, nos Sistema Itapebuçu<br />
e Sistema Ilha Santana. Após o cabo Búzios, se forma a enseada de Manguinhos, com<br />
profundidades inferiores a 10 metros, e uma faixa dos 5 metros mais larga, em alguns<br />
pontos chegando a uma milha, com inúmeras ilhas e lajeados. A faixa dos 50 metros de<br />
profundidade, seguindo o sentido nordeste a partir do cabo Búzios, começa a se alargar<br />
em relação a faixa costeira passando de 15 milhas adjacente a Barra de São João para 35<br />
milhas em Rio das Ostras.<br />
Figura 72 : FRENTE SU<strong>DE</strong>STE (2) - Corpartirrrentos Rasa - Macaé, Cabiunas - Sào Torné<br />
A pesca de pequena escala nessa região é intensa e a mais produtiva, mantendo<br />
uma numerosa frota pesqueira. Estudos de viabilidade devem ser direcionados para<br />
avaliação do potencial de bioprodução em aquacultura e em fazendas marinhas aberta,<br />
principalmente na área correspondente ao embaiamento do rio São João. As pesquisas<br />
do Departamento de Geografia da UFRJ conduzidas região, apresentam faixas de<br />
sedimentos baseadas no diâmetro médio granulométrico diferenciando as areais mais<br />
grossas dos fundos lodosos, possibilitando a avaliação da influência do aporte dos rios<br />
nessas faixas costeiras (Figura 73).
Dlstancla [UTM (km)]<br />
faixa mais uniforme dos 20 metros, até o Sistema Ilha de Santana. A partir do Sistema<br />
Itapebuçu começam a surgir outros componentes de uso comercial, como os cabos<br />
submarinos a partir da praia de Iriri, o tráfego intenso de embarcações e navios no<br />
Sistema Ilha de Santana, oleodutos submarinos e monobóia no Sistema Carapebús, e<br />
gasodutos e oleodutos no Sistema Barra do Furado, que passaram a ocupar o lugar da<br />
pesca.<br />
O Sistema Ilha de Santana se torna complexo devido ao intenso movimento de<br />
navios e embarcações e aos conflitos entre a atividade pesqueira e petrolífera. As<br />
profiindidades entre a foz do rio Macaé e a ilha de Santana são inferiores a 10 metros,<br />
facilitando a pesca de arrasto com pequenas embarcações, que operam entre navios em<br />
atividade de risco. A repressão a atividade pesqueira é constante, através de multas e<br />
apreensões, que provocaram em 11 de setembro de 1997, a "Moção de Solidariedade<br />
aos Pescadores de Macaé" por parte da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro.<br />
A Zona 2.3. Compartimento de Cabiunas - São Tomé tem como principal<br />
característica o alargamento da faixa com menos de 20 metros de profundidade,<br />
chegando a mais de seis milhas em frente ao canal da lagoa Feia. A área terrestre<br />
adjacente ao Sistema Carapebús é pouco habitada e ladeada por um cordão litorâneo<br />
com pequenas lagoas e canais por toda costa de Quissamã. No Sistema Barra do Furado,<br />
foi construído o canal do Furado para os pescadores terem acesso as águas protegidas,<br />
que está a mais de uma década assoreado, devido a forma e posição dos guia-correntes,<br />
inadequados para a região.<br />
No Sistema Banco de São Tomé, se destaca o alargamento da faixa dos 10<br />
metros de profundidade, a partir do canal da lagoa Feia, que se estende por mais de 15<br />
milhas da costa, assim como a grande intensidade de transporte litorâneo.<br />
A principal questão do múltiplo uso nas zonas 2.2., 2.3. e 3.1, são as limitações<br />
de pesca na zona de 22" - 23" S mais produtivas e das externalidades decorrentes das<br />
inúmeras atividades complementares de apoio as operações de produção de petróleo.<br />
FRENTE LESTE<br />
A formação da FRENTE LESTE (Figura 74) é o último componente da região<br />
sudeste do Estado do Rio, com a Zona 3.1. Compartimento de São Tomé -<br />
Itabapoana, chegando a fronteira com o Estado do Espírito Santo. A característica<br />
mais importante dessa zona é o alargamento da faixa dos 20 metros de profundidade,<br />
chegando a quase 20 milhas na foz do rio Paraíba do Sul. A faixa dos 50 metros de
profundidade em frente ao cabo de São Tomé se estende até 36 milhas da costa,<br />
atingindo seu máximo na altura da foz do rio Paraíba do Sul com cerca de 44 milhas da<br />
costa. Nos limites do Estado, na altura da foz do rio Itabapoana, a faixa se estende até<br />
37 milhas.<br />
Corripart. Sistema Paraíba do Sul<br />
São Torné - Itabapoarta Sistema Itabapuana<br />
Profundidades: 20rh 501b 20d m<br />
Figura 74 : FRENTE LESTE Compartimento São Tomé - Itabapoana<br />
O Sistema Cabo de São Tomé, entre o banco de São Tomé na virada do cabo e<br />
o delta do rio Paraíba do Sul, tem a sua orla influenciada por incidência de ondas em<br />
diferentes direções, sobre uma estreita faixa com menos de 10 metros de profundidade e<br />
grande intensidade de transporte litorâneo. Já a faixa inferior a 20 metros de<br />
profundidade, se alarga a medida que se aproxima da foz do Paraíba do Sul. O Sistema<br />
de Foz do Rio Paraíba do Sul é composto de uma linha costeira em forma de delta, a<br />
partir da ponta de Atafona; e uma larga extensão com profundidade inferior a 20 metros,<br />
de forma sinuosa até alcançar os limites do Sistema de Foz do Rio Itabapoana.<br />
Segundo estudos recentes (ZAMON et al., 1999), a Frente Leste é pouco<br />
propícia para pesca de linha devido a falta de relevos submarinos, como formações<br />
rochosas, lajeados, recifes de corais e barrancos. Por outro aspecto, a fixação de<br />
espécies em crescimento perto da costa parece fortemente dificultada, pela ação de<br />
correntes e ondas. Os trabalhos conduzidos por CASSAR, NEVES (1993) chegaram a
um transporte residual de 3.000 m 3 /dia na faixa acima do delta do Paraíba do Sul, em<br />
direção a norte; e de 4.400 m 3 /dia na faixa abaixo da ponta de Atafona, na direção sul.<br />
Como resultado desses fatores, a atividade de mergulho em toda frente leste se restringe<br />
a poucos dias de verão, quando há ocorrência de águas claras. Ao largo da costa, a<br />
maior parte da plataforma continental incluindo a faixa de O e 50 metros de<br />
profundidade de maior produtividade da pesca de linha, foi dividida em blocos de<br />
concessão para exploração de petróleo.<br />
111.1.2. Identificação e Medição da Oferta de Áreas Costeiras e Oceânicas<br />
III.1.2.1. Medição das Áreas Divididas por Limites Operacionais de Profundidade<br />
A proposta de divisão das áreas oceânicas tem como foco principal a profundidade,<br />
que determina os limites operacionais de trabalho. Essa divisão espacial serve como<br />
base para os estudos interdisciplinares de viabilidade dos sistemas de produção e uso,<br />
em relação as distancias da costa, o tamanho de embarcações e sua autonomia; e a<br />
operacionalidade de equipamentos de pesca e mergulho, como foi observado, áreas<br />
pouco utilizadas e desconhecidas.<br />
Toda Frente Sul (Tabela 3 l), pode ser caracterizada por sua condição de exposição<br />
ao mar aberto, sob constante ação de ondas e correntes a maior parte do ano, por sua<br />
estreita faixa de 0-20 m de profundidade, bem próxima da praia que representa somente<br />
1,2 % da área da plataforma continental. Somente em alguns trechos dessa linha de<br />
costa com mais de 65 milhas de extensão, a distância entre a faixa de maré e a linha dos<br />
20 metros de profundidade chega a atingir uma milha.<br />
Tabela 31: FRENTE SUL: Cotnpartitnentos Piratitzitzga -Ponta Negra e Massa~rbaba<br />
Profundidade<br />
por Zona<br />
O-20m<br />
O-50m<br />
O-200m<br />
No de<br />
quadras<br />
44<br />
15<br />
150<br />
ilha^<br />
quadra<br />
1x1<br />
5 x 5<br />
5 x 5<br />
Zona<br />
ilha'<br />
Zona<br />
~m'<br />
Nessa linha de praia, devido a falta de ancoradouros ou locais para saída de<br />
embarcações, mesmo as de pequeno porte, torna qualquer atividade restrita a poucos<br />
dias de condições de mar favoráveis durante o ano. Como as condições de acesso ao<br />
mar para o banho também depende desses fatores, a principal atividade nessa orla se<br />
44<br />
375<br />
3.950<br />
81<br />
694<br />
6.938<br />
Faixa<br />
Prof.<br />
0-20<br />
20-50<br />
50-200<br />
Faixa<br />
ilha'<br />
44<br />
331<br />
3.375<br />
'!'o<br />
1,2<br />
8,8<br />
90
esume principalmente a pesca de arremesso de linha da praia; e quando possível de<br />
espinhe1 (linha estendida com vários anzóis pendurados) levado para o fundo rebocado<br />
através de uma prancha de surfe.<br />
Em toda essa zona correspondente a frente sul, num total aproximado de 3.750<br />
milhas de extensão, vem sendo explorada principalmente pela atividade predatória da<br />
pesca com redes de arrasto no fundo do mar até os limites de 200 metros de<br />
profundidade da plataforma continental.<br />
O Sistema Itacoatiara situado na entrada da Baia de Guanabara, é o que<br />
apresenta maior área com profundidade inferior a 20 metros, aproximadamente 20% da<br />
área disponível, enquanto no Sistema de Massambaba não chega a 5% da faixa.<br />
Proporções semelhantes são encontradas na faixa de 0-50 metros, que corresponde a 8,8<br />
% da área, indicando um potencial de águas oceânicas perto do litoral.<br />
Esse fator é muito importante, pois havendo um potencial natural decorrente da<br />
qualidade da hgua, outros fatores podem ser agregados para formação de sistemas<br />
indutores de produção mais próximos da orla. Essa faixa mais propícia para o<br />
desenvolvimento mergulho e pesca de linha, corresponde a área de aproximadamente<br />
375 ~ilhas~ (694 Krn 2 ), tem um potencial relativamente conhecido através das<br />
pesquisas realizadas pelo IEAPM desde o início da década de 1970.<br />
A Frente Sudeste (Tabela 32 e 33) é formada por dois compartimentos com<br />
características diferentes. O Compartimento Cabo Frio - Cabo Búzios, cobrindo dois<br />
quadrantes, Sul e Leste; e o Compartimento Rasa - Macaé abrangendo a maior<br />
extensão de orla. Se estende por uma área de 3.750 milhas 2 , as mesmas dimensões de<br />
toda Frente Sul.<br />
Tabela 32: FRENTE SU<strong>DE</strong>STE (1): Compartimento Cabo Frio - Cabo Búzios<br />
A estreita faixa de O - 20 m metros de profundidade com somente 0,4% da área é<br />
decorrente das profundidades em torno dos costões do cabo Frio e do lado externo do<br />
cabo Búzios. A faixa de O - 50 m se alargar após o contorno de proteção da ilha do Cabo<br />
Frio, cobrindo uma grande área que contorna os sistemas insulares e se expande por
mais de 5 milhas para fora do cabo Búzios, correspondendo a 2,9 % da zona<br />
correspondente a esse compartimento.<br />
O Compartimento Cabo Frio - Cabo Búzios se situa numa zona de transição, de<br />
fusão das águas de ressurgência da corrente das Malvinas, com as da corrente do Brasil.<br />
Pode ser caracterizado tanto por sua frente oceânica, formando um grande leque no<br />
sentido sudeste, como pela ocorrência de muitas ilhas e formações submarinas.<br />
Essas formações rochosas, formando costões, reentranças, grutas e fendas, com<br />
grandes variações de profundidade ao longo do litoral, e principalmente a<br />
predominância de águas claras, fazem desses sistemas um dos mais procurados do<br />
Estado do Rio para as diversas modalidades e finalidades de mergulho. Essas condições<br />
se devem a posicionamento geográfico do sistema Cabo Frio, no limite do ponte de<br />
deflexão da costa, de onde se abre esse grande leque compreendendo a parte do<br />
quadrante sul; e incorporando o sistema Cabo Búzios o espaço correspondente a sua<br />
frente leste. No total a área dos 50-200 metros de profundidade representa cerca de<br />
97,7% do espaço desse compartimento.<br />
O Compartimento Praia Rasa - Macaé, referente a Frente Sudeste (2),<br />
apresenta uma formação caracterizada pelo alargamento da faixa dos 50 metros de<br />
profundidade, que chega a cerca de 30% da área de plataforma. O aspecto mais<br />
diferenciado é o embaiamento no sistema Rio São João, abrangendo uma grande área de<br />
águas mais protegida e de pouca profundidade, que é identificado pela ilha Rasa e praia<br />
da Rasa. A faixa de 0-20 metros de profundidade corresponde a 9,4% da área e<br />
acompanha o contorno da linha costeira, com um fundo acidentado formado por grupos<br />
de pequenos lajeados e bancos muito propício para pesca.<br />
Tabela 33: FRENTE SU<strong>DE</strong>STE (2): Corttparti~ttento Praia Rasa - Macaé<br />
I Profundidade I Node 1 ilha' 1 Zona 1 Zona 1 Faixa<br />
por Zona I quadras 1 /quadra 1 milha 2 I k d I prof.<br />
I I I I I<br />
As águas provenientes dos sistemas dos rios São João e das Ostras, no outro<br />
extremo do arco da faixa de praia contribuem para o enriquecimento da biomassa, mas<br />
prejudicam a visibilidade para o mergulho. A faixa dos 10 metros de profundidade<br />
nesses sistemas fica em tomo de 1 milha da costa, e após o Sistema Rio das Ostras
torna-se mais sinuosa e ultrapassa as 3 milhas no estremo norte da formação rochosa de<br />
Itapebuçu, 5 milhas na ilha de Santana e cerca de 15 milhas no banco de São Tomé.<br />
O maior alargamento da faixa dos 20 metros de profundidade ocorre no Sistema<br />
Quissamã, chegando a altura do canal da lagoa Feia, quando também ocorre um<br />
estreitamento da faixa dos 50, 100 e 200 metros de profundidade. Observa-se que após<br />
o ponto de deflexão do cabo Frio, a tendência é de aproximação da faixa dos 100 e 200<br />
metros, chegando a área mais próxima na altura do banco de São Tomé, dentro da área<br />
exclusiva para produção de petróleo.<br />
Tabela 34: FRENTE LESTE: Cortrpartirnento São Tortré - Itabapoana<br />
A Frente Leste (Tabela 34) com mais de 500 milhas quadradas é a menor,<br />
estendendo-se do Farol de São Tomé a foz do rio Itabapoana, na fronteira com o Estado<br />
do Espírito Santo. A principal característica é a grande área com menos de 20 metros<br />
de profundidade, e sua forma sinuosa influenciada pelo aporte de sedimentos do rio<br />
Paraíba do Sul, enquanto a faixa dos 50 metros praticamente limita a plataforma, para as<br />
grandes profundidades. A larga faixa de 50 -100 m de profundidade ao largo do banco<br />
de São Tomé, é ocupada pelo aporte do rio Paraíba do Sul, sendo a altura do seu delta o<br />
trecho no qual a faixa dos 50 m chegas ao limite da plataforma, descendo para os 200<br />
metros e entrando nas zonas profundas com mais de 800 metros.<br />
Na tabela com a área total de cada zona, observamos na Frente Sudeste uma<br />
considerável diferença nas características do Compartimento Cabo Frio - Cabo Búzios<br />
e do Compartimento Rasa - São Tomé, em relação as faixas de 0-20 e 0-50 m, como a<br />
ocorrência em SE (2) de uma grande área 1.575 milhas 2 na faixa de 0-50 m; e a estreita<br />
faixa de 0-20 m com cerca de 15 milhas 2 , decorrentes da proporcionalidade do espaço<br />
oceânico formado pelo leque em relação a uma menor linha da orla de correspondência<br />
que une os dois cabos.<br />
No de<br />
guadras<br />
9<br />
17<br />
21<br />
ilha'<br />
quadra<br />
5 x 5<br />
5 x 5<br />
5x5<br />
Zona<br />
milha 2<br />
Entretanto, se comparado ao Compartimento Massambaba, principalmente no<br />
Sistema Massambaba, a área é proporcionalmente muito maior. Observa-se que<br />
somando toda área com profundidade de até 20 m, ao longo da praia, essa faixa pode ter<br />
225<br />
425<br />
525<br />
Zona<br />
km 2<br />
416<br />
786<br />
971<br />
Faixa<br />
prof.<br />
0-20<br />
20-50<br />
50-200<br />
Faixa<br />
milha 2<br />
225<br />
200<br />
100
no máximo 5 milhas 2 . A Frente Leste é a que apresenta uma maior proporcionalidade<br />
entre as faixas de profundidade 0-20 e 20 -50 m, decorrente da mudança notável das<br />
características da plataforma continental, enquanto na Frente Sudeste (I) cerca de<br />
97,7% de toda área está na faixa de 50-200 m.<br />
Tabela 35: Total das áreas por zonas correspondentes as Frentes e Faixas de profundidade<br />
Profundid.<br />
Por Zona<br />
O-20m<br />
O-50m<br />
O - 200 m<br />
SUL<br />
ilha^<br />
44<br />
375<br />
3.750<br />
SE (1)<br />
milha 2<br />
15<br />
125<br />
3.750<br />
Comparando-se as proporções de faixa por zonas, observa-se que a Região<br />
Sudeste pode ser caracterizada por uma estreita faixa de 0-20 m de profundidade, exceto<br />
para Frente Leste sob influência da foz do rio Paraíba do Sul, enquanto a faixa de 20-<br />
50 m se destaca na Frente Sudeste (2) com cerca de 65,18% da área.<br />
Tabela 36: Percentual por frente em relação as faixas de profundidade (cada Frente =100%)<br />
Profundidade SUL SE (1) SE (2) LESTE Total Média Faixas<br />
por Zona '%O Yo Yo % 'xo Yo Yo<br />
O-20m<br />
20-50m<br />
50 - 200 m<br />
1,2<br />
8,s<br />
90,O<br />
SE (2)<br />
milha 2<br />
375<br />
1.575<br />
4.000<br />
0,4<br />
2,9<br />
97,7<br />
Em termos operacionais, podemos concluir que as embarcações de pequeno e<br />
médio porte encontram mais possibilidades de pesca nesta zona SE (2), o que pode ser<br />
verificado em mapas estatísticos (PIMENTA et al. 1991), embora o fator produtividade<br />
deva ser considerado, uma vez que na Frente Leste o volume capturado foi em torno<br />
10% para área com a mesma profundidade. Estudos mais recentes, que acompanharam<br />
a instalação de experimento com recifes artificiais, apontam como causa de baixa<br />
produtividade a falta de substratos naturais e habitats (lajes, rochas e recifes de coral)<br />
para pesca de linha (ZALMON et al. 1999).<br />
LESTE<br />
milha 2<br />
9,4<br />
30,O<br />
60,6<br />
225<br />
425<br />
525<br />
Total<br />
milha 2<br />
659<br />
2.500<br />
12.025<br />
43,O<br />
38,O<br />
19,O<br />
Total<br />
km2<br />
1.219<br />
4.625<br />
22.246<br />
5,4<br />
20,s<br />
100<br />
Faixas<br />
milha 2<br />
659<br />
1.841<br />
9.525<br />
13,5<br />
19,9<br />
66,8<br />
Faka<br />
5,5<br />
O h<br />
15,3<br />
79,2<br />
53<br />
15,3<br />
79,2
Tabela 37: Percentual por zona de profundidade em relação as faixas (Sul+SE+Leste = 100%)<br />
Profundidade<br />
por Zona<br />
O-20m<br />
20 -50 m<br />
50 - 200 m<br />
SUL<br />
YO<br />
6,68<br />
17,98<br />
35,43<br />
SE (1)<br />
Quanto a pesca fora da costa a situação é bem mais complexa, devido as<br />
restrições na zona de exclusividade para produção de petróleo. Nessa grande área se<br />
concentram grandes cardumes e espécies de fundo com alto valor comercial, induzindo<br />
a prática de uma pesca clandestina arriscada. Outro fator a ser considerado é a qualidade<br />
da água para prática do mergulho que nessas zonas ao norte do cabo Frio, devido o<br />
aporte das águas dos rios São João, das Ostras, Macaé e Paraíba do Sul, desfavorecem a<br />
visibilidade restringindo a atividade a poucos dias em determinadas estações do ano.<br />
JII.1.3. Medição de Recursos Pesqueiros da Região Sudeste<br />
%<br />
2,28<br />
5,98<br />
38,06<br />
SE (2)<br />
Média<br />
As medições dos recursos pesqueiros ficaram limitadas a poucas informações<br />
publicadas segundo critérios científicos e base de dados conhecida; em formato que<br />
permitisse o processamento da informação para as finalidades dessa pesquisa de<br />
medição de recursos. Essas medições tem como objetivo avaliar o potencial biológico<br />
pesqueiro para fins comerciais e de esporte, recreação e lazer, como complemento das<br />
avaliações do modelo locacional de Frentes Oceânicas de orla e faixa litorânea,<br />
divididas em zonas compostas de compartimentos e sistemas.<br />
Tabela 38: Estimativa de desembarque nas frentes oceânicas do Estado do Rio de Janeiro<br />
L -<br />
I Localização I Toneladas ( % 1 % i.r. 1<br />
Frente Sul (Sudoeste)<br />
Parati<br />
%<br />
56,90<br />
65,18<br />
25,46<br />
LESTE<br />
15.468<br />
732<br />
YO<br />
34,14<br />
10,86<br />
1,05<br />
26,85<br />
1.0<br />
1 Angra dos Reis 1 14.4881 25.01 58.701<br />
I Guanabara 1 24.6751 43-01 100.001<br />
(Tabrdaçáo após Marques, Dorta 1998)<br />
Faixas<br />
YO<br />
5,5<br />
15,3<br />
79,2<br />
62,68<br />
2,97<br />
YO<br />
13,5<br />
19,9<br />
66,8<br />
Total<br />
YO<br />
5,4<br />
20,8<br />
100
No contexto estadual, a Região Sudeste polarizada pela baia de Guanabara,<br />
divide a centralização com o entorno do cabo Frio e a baia de Angra dos Reis na<br />
Região Sudoeste como pode ser observado na tabela de desembarque por região<br />
(Tabela 38) em todo litoral do Estado do Rio de Janeiro.<br />
Os recursos correspondentes a Frente Sul sobre os blocos de petróleo, do<br />
Sistema Itaquatiara ao de Massambada, estão distribuídos em tomo das latitude 23" e<br />
24" S e entre 39" e 43' W (Figura 75), separados em duas categorias básicas de pesca,<br />
de linha e com rede de ceco. A pesca com rede de arrasto de fundo foi excluída dessa<br />
faixa por ser altamente predatória e exercida por barcos de diferentes procedências, sem<br />
o devido controle e regulamentação.<br />
Figura 75: Frente Sul - Blocos de pesca e de exploração de petróleo<br />
Os barcos com redes de arrastões de porta ou de parelhas quando raspam o<br />
fundo produzem uma considerável perda de biomassa, em espécies na fase de<br />
crescimento devolvidas mortas na proporção de 60 a 80 toneladas capturadas, por cada<br />
10 toneladas de camarão e fauna acompanhante de diversas espécies de valor comercial.<br />
As perdas para serem calculadas envolvem vários fatores, os dados de pesquisas<br />
pioneiras sobre levantamento de fauna de forma sistemática e plurianual com rede de<br />
arrasto (FAGUN<strong>DE</strong>S NETTO, GAELZER 1991), indicou quase em sua totalidade a<br />
predominância de espécies em crescimento. Nos 69 arrastos realizados nas faixas de 30,<br />
45 e 60 m de profundidade foram capturados 9.382 exemplares pertencentes a 79<br />
espécies, 66 gêneros e 38 famílias.
As atividades de pesca esportiva de peixe de Bico na região do cabo Frio<br />
conduzidas principalmente pelo Iate Clube do Rio de Janeiro, reúnem cerca de 50<br />
embarcações oceânicas, consumindo cerca de 250 mil litros de óleo em cada fim de<br />
semana, com custo de armação por barco de competição entre R$ 1.000 e 1.500 por<br />
viagem. O custo do equipamento especial de pesca, incluindo cadeiras, varas e<br />
molinetes está entre R$ 10.000 e 20.000 (US$ 5.000 e 10.000) o conjunto. O preço dos<br />
equipamentos das embarcações como sondas e comunicação está entre R$ 40 e 60 mil,<br />
incluídos nos preços das embarcações.<br />
As embarcações equipadas para pesca fora da costa tem um preço variando de<br />
menor porte entre R$ 140 a 200 mil, nas maiores entre R$ 1.200 a 1.400 mil e no<br />
exterior as mais sofisticadas podem variar entre R$ 3 a 4 milhões. Considerando-se que<br />
a maior parte desses barcos foram construídos em estaleiros do Rio de Janeiro, podem<br />
ter gerado um faturamento de cerca de R$ 50 milhões. Para economia regional a pesca<br />
esportiva tem sua importância, o custeio por viagem dessas embarcações de competição<br />
em combustível e outras despesas, fica em torno de R$ 130.000 por final de semana.<br />
Cabe salientar que o número de capturas tem se mantido em níveis sob relativo<br />
controle, enquanto o de pescados nas competições vem diminuindo a cada ano,<br />
resultado de regulamentação que premeia os peixes de bico capturados, medidos,<br />
marcados e devolvidos ao mar. Somente os grandes exemplares adultos de tamanho que<br />
possam concorrer a limites taxionômicos de registro tem a captura incentivada,<br />
inclusive para estudos científicos e comparação de DNA das populações do oceano<br />
Atlântico. Essas medidas parecem eficientes, considerando-se o volume de marcações<br />
está em tomo de 1.000 peixes de bico por ano, bem superior a média de estatísticas dos<br />
demais países, sendo superado apenas pelo total de marlim azul, embora com menores<br />
tamanhos, capturados ao largo da costa da Venezuela.<br />
A atividade de pesca comercial com rede de cerco na Frente Sul se restringe as<br />
faixas de pouca profundidade dos blocos 3 e 4 do quadrantes 42'W/23'S e blocos<br />
adjacentes, disputando espaço com outras atividades. A produção local pode ser<br />
avaliada nas condições atuais considerando-se os valores anteriormente apresentados na<br />
Figura 57 e acrescentando informações mais recentes do mercado obtidas na Colônia de<br />
Pesca 2-8, adjacente ao Sistema Itacoatiara e nos locais de desembarque do Sistema<br />
Cabo Frio.
Tabela 39: Estimativa da pesca com rede de cerco na Frente Sul (1993-97)<br />
41.23.1<br />
42.22.3<br />
42.22.4<br />
Total<br />
209,3<br />
560,l<br />
240,9<br />
1.010,3<br />
* Outros Registros: calculado valor mininro em 16.88 % (em outrasfontes 50%)<br />
Os dados de produção apresentados na Tabela 39 foram calculados em função<br />
de tabelas estatísticas (PAIVA, MOTTA, 1999 e 2000) elaboradas com mapas de bordo<br />
do IBAMA para sardinha verdadeira e fauna acompanhante. O total de Outros Blocos<br />
na Frente Sul não foi adicionado devido aos resultados obtidos da comparação com<br />
informações de pescadores, empresários da pesca regional e com as do início da década<br />
de 1990 (PIMENTA et al. 1991), elaboradas pela Prefeitura de Cabo Frio.<br />
Para se calcular o valor do montante da produção atual outros fatores devem ser<br />
considerados em relação a produção, como a mudança do quadro por espécies, devido a<br />
diminuição na produção de sardinha verdadeira e o desaparecimento da cavalinha no<br />
litoral. Segundo a Colônia de Pesca 2-8 nos últimos vem ocorrendo grande<br />
sazonalidade de outras espécies conhecidas como peixe galo, xerelete, mais recente a<br />
corvina que tem sido mais pescada com maior cotação de desembarque, em torno de R$<br />
2,501kg enquanto para outras espécies varia de R$0,30 a 0,351kg. Com esses números<br />
pode-se estimar o valor anual da produção de pesca de cerco na Frente Leste,<br />
considerando-se que 90% da produção vendida no valor médio mínimo de R$ 0,30 e<br />
10% o valor médio máximo de R$ 2,50, chegando-se ao total de R$ 176.509,OO.<br />
Mesmo se considerando a possibilidade dos dados de produção do IBAMA estarem<br />
defasados em 50% em relação ao volume real de captura, chegando ao total de R$<br />
264.763,OO por ano, indicando pouco rendimento nessa zona.<br />
Nas Frentes Sudeste e Leste ( Figura 76) abrangendo a área de exclusividade de<br />
produção de hidrocarbonetos, a pesca de cerco se concentra principalmente próxima da<br />
costa, entre os 22' e 23' Sul, atraindo pescadores da Região Sudeste. Ao contrário da<br />
Frente Leste, a pesca de cerco também ocorre em outros blocos com menos intensidade,<br />
embora algumas vezes a produtividade tenha sido alta.<br />
Os dados de produção da Tabela 40 também foram calculados em função de<br />
tabelas com base em mapas do IBAMA apresentados na (PAIVA, MOTTA, 1999 e<br />
2000) para sardinha verdadeira e fauna acompanhante desembarcada no Rio de Janeiro.<br />
O total de Outros Blocos na Frente Sudeste e Leste foram avaliadas dos resultados<br />
83,6<br />
224,O<br />
96,4<br />
404,O<br />
58,58<br />
156,8<br />
67,5<br />
282,88<br />
351,5<br />
940,9<br />
404,8<br />
1.697,2<br />
70,3<br />
188,18<br />
80,96 ,<br />
339,44
obtidos da comparação com dados recentes de pescadores e estatísticas da pesca<br />
regional (MARQUES, DORTA, 1998), incluindo as do início da década de 1990<br />
(PIMENTA et al. 1991), elaboradas pela Prefeitura de Cabo Frio.<br />
Figura 76<br />
T-<br />
Frentes Sudeste e Leste - Blocos de pesca e de exploração de petróleo<br />
Para sardinha verdadeira foi estipulado total de 10% da média por ser mais<br />
controlada e escassa, enquanto para fauna acompanhante no caso foi estipulado como<br />
50% da média da fauna acompanhante dos demais blocos, mantendo-se a proporção<br />
para outros registros<br />
Atribuindo-se os mesmos valores, com 90% da produção vendida no valor de R$<br />
0,30 e 10% e o valor máximo de R$2,50, chega-se ao total de R$ 942.864,OO para essa<br />
zona; e considerando-se os dados do IBAMA estarem defasados 50% em relação ao<br />
volume real de captura, chega-se ao total de R$ 1.414.296,OO por ano.
I Totais 1 50.087,7 1 17.535,7 1 2,2 1 35,O 1<br />
O faturamento apesar de superior a Frente Sul, indica que a situação econômica<br />
e financeira do setor está enfraquecida, considerando-se na avaliação além da redução<br />
de custos totais desse montante, ou a relação dessa lucratividade com o valor<br />
patrimonial da frota operante, operando sem controle direto da produção, notoriamente<br />
sazonal.<br />
Tab iela 41: Estimativa da pesca com rede de cerco na Frente Sudeste/Leste (1993<br />
Localização do Bloco<br />
Sardittha<br />
verdadeira<br />
* Outros Registros: calculado valor minimo em 16,88 % , em outras fontes 50%<br />
Essas pesquisas preliminares da pesca com rede de cerco indicam inconstância<br />
dos volumes de captura por espécie, e a irregularidade de ocorrência das diferentes<br />
espécies nos últimos anos. A situação está associada a liberação das importações de<br />
sardinha para abastecer as indústrias de enlatados de São Gonçalo, diminuindo ainda<br />
mais o poder de competitividade da frota de pequeno e médio porte, que vêm passando<br />
para pesca de linha, ou sendo desativadas para outras finalidades de turismo e lazer.<br />
Algumas traineiras de maior porte foram transformadas em embarcações de operadoras<br />
de mergulho para acomodação em passeios de grupos.<br />
Fautta Outros Total de<br />
A ~ Registros* ~ ~ Toneladas* ~ .<br />
Média<br />
Anital<br />
A atividade de pesca de linha com pequenas e médias embarcações também<br />
passa por processo semelhante, embora ainda se mantenha em muitos casos nos níveis<br />
de subsistência, o que leva a atividades paralelas de transporte de turistas e pescadores<br />
de lazer. Durante as últimas décadas os pesqueiros mais próximos da costa foram se<br />
tomando conhecidos, principalmente para as embarcações equipadas com instrumentos
de localização de formações submarinas e com alto poder de captura, que incluem as de<br />
pesca esportiva de competição.<br />
Como resultado, as embarcações dos pescadores artesanais passaram a percorrer<br />
maiores distancias, aumentando riscos e incertezas da produção, assim como levando as<br />
embarcações de maior porte a condições mais severas nas bordas do talude da<br />
plataforma continental pescando em profundidades superiores a 200 metros.<br />
(O. R.. * ern 50% da média artua1 - após Paiva e Tubitio, 1998)<br />
Na Tabela 42 as medições foram baseadas em dados estatísticos de mapas de<br />
bordo do IBAMA no período de 16 anos (1979-1995) tabuladas em relação a<br />
localização e profundidades de 1986 a 1995 (PAIVA, TUBINO 1998) e referencias<br />
regionais de avaliação de produção e demanda dos principais locais de venda, como<br />
hotéis, restaurantes e mercados abertos ao consumidor. O destino da produção no caso<br />
da base de dados pode ser considerado dos grandes centros de desembarque no eixo Rio<br />
- São Paulo, mercado de embarcações de maior porte.<br />
Na avaliação de outros registros, neste caso o mercado é mais conhecido e pode<br />
ser estabelecido em tomo de 50%, embora outras fontes cheguem a 80% considerando<br />
todo o contingente com atividade paralela e pesca ilegal na zona proibida que não<br />
registram pescaria, quando ocorrem grande cardumes como anchova, olhete, bonito por<br />
exemplo, ou das espécies de fundo de maior valor comercial. O montante de 50% foi<br />
calculado em parte considerando ponderações de pescadores sobre a concorrência na<br />
venda de pescado por parte dos pescadores esportivos, mais o produto de pequenas e<br />
médias embarcações que abastecem os mercados locais, muitas vezes sem<br />
intermediações.<br />
Os números indicam grande diferença na produtividade da zona compreendida<br />
entre 23' e 24' S ao largo da Frente Leste em relação as outras Frentes, passando de<br />
80% da produção total, principalmente em prohndidades acima de 150 metros com<br />
32,6% e mais a partir dos 200 m com 42,6 % da volume de linha na região (Figura 54).
Nas Frentes Sudeste e Leste as pescarias são em águas mais rasas da plataforma<br />
continental que se forma na faixa dos 100 m de profundidade após o cabo Frio.<br />
As condições de mercado são mais favoráveis aos peixes da pesca de linha,<br />
cujos preços estão em torno de R$ 5,00 e podem chegar a média de R$ 8,00 para<br />
espécies de maior demanda em restaurantes e hotéis na cidade do Rio de Janeiro e<br />
outros pólos da região. Nos piques de verão quando o movimento de turista no eixo das<br />
cidades de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras e nos últimos anos<br />
Macaé, chega a faixa de 3,5 milhões de pessoas os preços dessas espécies (como<br />
garoupa, badejo, cherne, namorado) pode chegar a primeira venda na faixa dos R$<br />
15,00 competindo com peixes mais nobres da pesca de mergulho.<br />
Os possibilidades de avaliação com os valores de produção e venda apresentados<br />
e obtidos durante a pesquisa, levaram a opção de valor médio R$ 6,50 / kg do pescado<br />
de linha de fundo, que para o total de 1.647 toneladas chegam a um volume de<br />
faturamento em mais de 10 milhões de reais por ano. No caso específico do Município<br />
de Cabo Frio, centralizador do comercio de pescado da Região dos Lagos, os dados de<br />
produção podem ser avaliados na Tabela 43.<br />
A principal questão de poucas informações para medições, exige tabulação de<br />
dados e números para atribuição de valores, e índices gerais de avaliação com aplicação<br />
de lógica Fuzzy na equiparação homogênea de dados. As composições estatísticas e<br />
outras informações apresentaram diferenças de valores, denominações e fontes, levando<br />
a busca de métodos que pudessem ser adequados às equiparações com outros<br />
componentes de medição e consultas para conferência.<br />
I<br />
Total 8.762,5 7.522,7 7.253,l 7.268,O 13.303,3 6.716,3<br />
I<br />
I Totais % I 12.41 10.6) 10,21 10,21 18,81 9,5<br />
( 9 principais espécies, * Xaréu; após Marques, Dc<br />
Municí io de Cabo Frio<br />
3.061,6 894,5 2.487.6 350<br />
1.336,5 1008,9 1.203,7<br />
rta 1998)<br />
16,O 12,3 70.938,l 100<br />
Como pode-se observar nas estatísticas do Município de Cabo Frio, o (Tabela<br />
22) predomínio dos grande volumes da pesca de cerco se manteve, apesar das oscilações
de produção estadual e nacional, mantendo média somente com sardinha e peixe galo<br />
em mais de 44% do total, outras espécies como a cavalinha, xerelete e bonitos<br />
apresentaram grande sazonalidade, com produção bem inferior as décadas anteriores.<br />
Na avaliação da produção, considerando-se os mesmos preços de primeira venda, o<br />
valor médio das principais espécies de cerco acima, 5.660,4 ton x R$ 0,301kg chegando<br />
a R$ 1.698.120,OO excluindo pargo, dourado, enchova e corvina que tem preços<br />
diferenciados. O pargo pode-se atribuir a média de R$ 5,00 chegando a R$3.839.000,00<br />
e R$ 2,501kg para as restantes no montante de R$ 2.586.000,OO e o adicional de 730,2<br />
ton. de outras espécies a R$ 2,50 no valor de R$ 1.825.500,OO totalizando para o<br />
município um montante de aproximadamente R$ 10.000.000,00 de pescarias por ano.<br />
Esse montante se refere a valores pagos pelo produto no desembarque, sendo de<br />
diferentes formas e percentuais acertados com empresas ou intermediários, enquanto<br />
valores agregados e custos demandam outros estudos por um produto de exportação<br />
com preço de venda que pode ser trabalhado em pelo menos R$ 10,OOlKg.<br />
A produção vem decrescendo desde o final da década de 1980 e ainda<br />
pouco se conhece sobre os bancos, barrancos e recifes de pesca de espécies nobres de<br />
exportação com o pargo, cherne, namorado e outras espécies também em fase de<br />
sobrepesca com estoques em alto risco. Os habitats são avaliados de forma rudimentar<br />
com auxílio de eco-sondas para localização de cardume e formação do relevo<br />
adjacentes, perfiz sem informações complementares de temperatura, salinidade,<br />
produtividade biológica e outros recursos visuais de imagens em três dimensões e vídeo<br />
para identificação e caracterização de cada sistema. O quadro de localização de<br />
pescarias e produtividade (Tabela 44) no período de 1990 indica grandes concentrações<br />
para diferentes modalidades decorrente de condições ambientais dos habitats de cada<br />
bloco, propícias em seu espaço tridimensional a ocorrência de espécies demersais em<br />
condições de relevo adequada, ou pelágicas em camadas de massa de água mais<br />
produtivas formando os ciclos da cadeia alimentar e reprodutiva de concentração.<br />
A composição da operação da frota municipal nos blocos da Tabela 44 encontra<br />
diferentes âmbitos de correspondência na localização com os dados da Figura 76, no<br />
contexto da frente leste bloco 41.23.1 de dimensão regular. No caso da pesca de cerco<br />
nesta área foi < 1% bem inferior aos principais blocos de concentração da pesca de rede<br />
nos 41.22.1 e 41.22.3 correspondendo 86% do total de viagens da frota em patamares<br />
proporcionais, exceto no bloco 41.22.2 e nos 42.22.3 e 4 no levantamento de Cabo Frio<br />
não houve registro no período. Poucos municípios dispõe de levantamento estatísticos
de pesca padronizados devido a falta de continuidade na disponibilidade de recursos<br />
para chegar a todos locais de desembarque com equipe qualificada.<br />
Tabela 44: Estimativa operacional d<br />
%Prodrcção %Prodrrção<br />
% Bloco Total Purgo Litrila<br />
I Totais I 95,28 87,48<br />
pesca nos Blocos da Região Sudeste<br />
% Viagerrs 1 %Viagens 1 %Viagem 1 % Viagem 1<br />
A pesca de linha começou a se expandir com o início das exportações,<br />
agregando valores a melhor qualidade do pescado embarcado, coincidindo em parte<br />
com o desaparecimento dos grandes cardumes de sardinha e cavalinha entre outros<br />
fatores, como injeção de capital.<br />
A quadra 41-23 privilegiada em qualidade do produto e maior concentração de<br />
atividades, se situa a leste do cabo Frio (no canto direito superior) cortada pela linha<br />
diagonal dos limites das bacias petrolíferas de Campos e Santos, distante da costa nas<br />
faixas limites de 100 e 200 metros de profundidade. Apesar de mais pesquisada que<br />
outras áreas da região através do IEAPM e outras instituições, a representação<br />
tridimensional submarina disponibilizada cobre somente a área principal de<br />
ressurgência, nos limites da quadra 42-23 bloco 2 nos limites dos Sistemas de<br />
Massambaba e Cabo Frio.<br />
Neste quadrante, os blocos de pesca 1 e 2 se encontram na faixa dos 200 metros<br />
e fora dos limites de blocos licitados para exploração de petróleo e gás, com condições<br />
adequadas para implantação de sistemas de bioprodução com tecnologia de construção<br />
de fazendas marinhas. No bloco 3 a situação é mais complexa envolvendo recurso<br />
econômico ambienta1 comum, a pesca profissional, esportiva e recreativa, num quadro<br />
ainda indefinido de gestão, gerenciamento e planejamento.
Fig. 75: Quadra 41-23<br />
A zona de transição apontada no estudo locacional a partir do Sistema de São<br />
João e de Santana, seguindo por zonas desabitadas e reservas até o cabo de São Tomé,<br />
forma a poligonal da pesca de cerco e linha, entre as quadras 41-22 e 41-23 em destaque<br />
devido a demanda locacional oceânica. Os recursos da costa são disputados pelas<br />
principais atividades e a viabilidade do mergulho em águas profundas, o que é pouco<br />
provável com a tecnologia disponível atualmente.<br />
A pesquisa de tese identificou oferta significativa nessa vasta área pouco<br />
explorada, ou explorado na forma rudimentar, como a de maricultura em pequena escala<br />
de ostras no embaiamento do Sistema São João. A diversidade da granulação de<br />
sedimentos nessa área (Figura 73) correspondentes as quadras, indicam a possibilidade<br />
de grande variedade de composições bentônicas e nectônicas agregadas, sob influência<br />
dos rios Macaé, São João e das Ostras. As águas protegidas da enseada formada pelo<br />
lado norte do cabo Búzios é singular na Região Sudeste, propício para fazendas<br />
marinhas.<br />
A<br />
Sistemas I<br />
Fig 76: Quadras 41-22 e 41-23<br />
m a IVTM (knll<br />
^ -I,,, .,L<br />
Fig.73: Recobrimento Sedimentar<br />
situação privilegiada do bloco 41.2 2.3. e adjacências que comporta os<br />
mais expressivos em níveis de oferta, apresenta características potenciais de
aproveitamento em diferentes formas de maricultura extensivas e intensivas, que<br />
demandam estudos de transferencia de tecnologia operacional de cultivo e estruturas<br />
adequadas aos tipos de habitats propícios a propagação de cada espécie.<br />
Fig. 52: Bloco 41.22.3 e adjacências<br />
A faixa rasa com profundidade inferior a 50 m que se forma ao largo dos grupos<br />
de ilhas dos cabos Frio e BUzios, concentra recursos necessários ao desenvolvimento de<br />
novos componentes de oferta. Esses acréscimos podem atender a demanda das<br />
atividades de pesca de linha e mergulho, apesar das condições menos favoráveis de água<br />
sob influência de estuário mais próximas da costa. Esforços integrados a nível<br />
municipal precisam ser definidos para utilização dessa zona, equacionando os planos de<br />
levantamento de recursos naturais, logística, manejo, gestão e custos, entre outros<br />
fatores.
N\TP>ER-SOIù, LL. G., 1973 - "??;e Econonaics tifFisheries IuInn~genzent "<br />
The John Hopkins University Press, London. 214 p.<br />
klúDRES, A, 1884 - "Fauna und Fiora âes Golfes von Neapel" Zoologischen Stafion<br />
zu NeapeJ. Vol. I, IX Monographie, V. W. Engelmann, Leipzig, 455 p.<br />
AGE-WJA 21, i992 - " Protection of&e oceans, ali kinds of seas, iiicluding enclosed<br />
and semi-enclosed seas, md coastal areas and tlle protection, rational use and<br />
development of their living resources". h: Agenda 21, Rio Declmation, Chapter 17. UIU<br />
Conference on Environment and Develogment. UNCED Preparatory Committee, New<br />
York.<br />
ALLDREDGE, A., 1972 - "Abandoned Larvacean Houses: A Unique Food Sourse in<br />
the Pelagic Environment" Science, Vol. 177, pp. 885-887<br />
ALLEId, E., i 89 5 - "Keport on lhe Sponge Fishery of Florida and the arti5cial Cuiture<br />
of Sponges". JownaI ofMarine Biology Associafion. Vol. PV, No. 2. Plymouth, U.K.<br />
pp. 188-194<br />
BANBRDGE, R., i952 - "Underwater Vbservation of the swimming of Ivíarine<br />
Zooplancton. Jozmmf qrMar. BioZ. Assoc. Vol. XXXI pp. 1 O7- 1 1 2<br />
BAINE, Ivi., 1999 - "AI haiysis of the Iùorth Sea Rigs-to-ReefDebate, Countering on<br />
ihe United Kingdom Continental Shelf'. Proceedings of Seventh Internotionnl<br />
Conference on ÁrtiJlcial Reefs md Relateti Aqzmic Haabitafs, Sammo, Italy, pp. 424-<br />
432.<br />
BAIRD, R., GBSON, F., 1956 - "Underwater Ci'lservation on Scallop (Pecten<br />
n~axin~us L.) Beds". Journal of Mm. Biol. Ass. UK. Vol. 3 5 pp. 555-562<br />
BASCOIù, -w., KE'WLLE, R., i953 - "Free-Diving: A I\;lew Exploratoly Tool"<br />
Americnn Scienfist Vo!. 4 1, No. 4 pp. 624-627
BAMOFF, L. I., 1918 - "On the Question of Biological Basis of Fisheries"<br />
Translated by W.E. Ricker of Fisheries Research Board of Canada, and issued in<br />
mimeographed form. (in GOKUON, H.S., 1954)<br />
BLRAIUOFF, S. I., 1925 - "On the Question of the Dynamics of the Fishing Industry"<br />
Translated by W.E. Ricker of Fisheries Research Board of Canada, and issued in<br />
mimeographed form. (in wmOIU, H. S., 1954)<br />
BEEBE, W., 1926 - "Tne Arcturus Oceanographic Exgedition" Zoologicn, Vol. WI,<br />
No. 1. New York Zoological Society. Pp. 1- 52.<br />
BEEBE, W., 1935 - "Haifi@iIe DQI~ ". Joh Lane the Bodey Head Ed., London 350~.<br />
BERTHOLD, G., i884 - "Die Cryptonemiaceen des Golfes von IYieapel" Zooíogischen<br />
Stanon zza Nenpel. Band 'a, Monographie, V. W. Engelmann, Leipzig, 529 p.<br />
BOUTAiN, L., L898 - "L'hstantané dans ia Photographie Sous-Ivíarine" Archives<br />
Zoologipe Experimenfaíe ef Generale., 3" Série, T. VI, No, 26pp. 299-330<br />
BUZZATI - TMWRSO, A. H., 1958 - Eds. Perspectives in iclíarine Biology -<br />
Universiiy of California Press, Los Angeles, U.S. 622p.<br />
CKRI)EIyTAS, E.B., I3ENUmEZ, J., ALfiMdA, J., 1999 - "Oil Activity and<br />
Artificial Reefs Programs in Campeche, Mexico" Pmceedings qf Sevenfh Iníernnfioncri<br />
ConJCrence OR ArrLj'cial r?e@ and I?êlnfed Apatic Iíáríisars, Sanremo, Italy, pp. 396-<br />
406<br />
CaISLE JX., J., LTKiWR, C., EBERT, E., 1964 - "ÁrfiJfciaI Habitnf in the Marirte<br />
Environmenf ". The Resources Agency of California, Fish Bulletin 124, 93 p.<br />
CAR1\;TEIRO, A. Iví., 2000 - "Uma K~ordagem Diaiógka da Pesca" In: O Trabalho dn<br />
Pesca: Segurnnp, Scride e Infega@o. Ed. Próuni-Rio, pp. i l- 1 7
CEIPIB, 1982. - "Spéciai Récifs Artificieis Marins" Ceriú Actzraiités. No. 23 . Centre<br />
dYÉtudes et de recherches de lYIndustrie du Béton Manufact~iré. 4 p.<br />
CIEUví, 1986 - I1 Plano Seforia] para os Reczrrsos do Mar QY86-í989). Comissão<br />
Interministeria.1 para os Recursos do Mar, MM, Brasília. (whife pnper) 34p.<br />
CIlRTvI, 1994- N ?imo Setoriai pma os Recursos do ~tíar (2994-1338). Comissão<br />
Inierrninisterial para os Recursos do Mar, MM, Brasília. (ori nais) 19p<br />
CIRivI, 1 997- Eiaízo N'acionai de Gerenciamento Costeiro rí: Comissão Intemiinisteria!<br />
para os Recursos do Mar, MM, Brasília. (whifepaper) 22p<br />
CLARK, J., 1977 - "Coastd Ecosystems fManagev22enf ". Wiiiey Interscience N.Y. 178~.<br />
CLB, C., WLJI-O, G., i994 - 'Renewabie Resources as Natural Capital: The<br />
Fishery. Invesfing in Nafzcrd Capifnl. Ed. A. Jansson, M. Hammer, C. Folke and R.<br />
Constama, hternationaí Soçiety for Ecoiogical Economics. island Press, Washington<br />
D.C. pp.343-361<br />
CNIO, 1998 - "Os Usos dos Vcennos ízo 3ecztío XX- - A Conrriúui@o Brasileira".<br />
Relatório Final à Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos, Comissão<br />
Nacional Independente sobre os Oceanos, 2" Ediçao Rio de Janeiro.<br />
COLLIi\JS, K., JXNSEN, A,, IvíKLLLIiqSGIq, J., IvI"u5SE, S., ROEfùELLE, V.,<br />
RUSSEL, A., SMITH, I., 1999 - "'Environmenial Impact Assessrneni of A Scrap Tire<br />
Artificial Reef'. Pr~ceedings of Seventh Internarional Conferente on ArfiSicial ReeJS<br />
nnd Relafed Aquatic Hnbitafs, Italy, pp. 3 56-3 63<br />
CONCEICÃO, R.N., MONTEIR0 NETO, C .M., 1999- "Recifes Artificiais Pdariilhos"<br />
Biotecnologia Ciência $ Desenvolvimento" pp. 14- 1 3<br />
COIúKLIN, E., 1933 - "Tine Use of the Diving ~eimet in Bioiogic Stuciy" 711e Xcie~~tijk<br />
Moníhly Vol., 37, pp. 380-382
COSENZA C. H., et ali, i977 - 'locai2zação InaZostriai no i ho Esrado do Rio de<br />
Janeiro" Relatório Final do Projeto COPPEEC ET - 466/75, C0PPEkJFR.l<br />
COSEIYZA, C. A, i98i - "A Zndmtriai Location Iviodel" - Working paper, Adin~tiul<br />
Ceníerfor Architecturd ~ nd Urhm Shdies, Cambridge Uriiversity, U.K.<br />
CKLPPS, S., AABEL, J., HO'VBA, J., i999 - - "Environmental and Socio-Economic<br />
Impact Assessmeni of Ekoreef - A Multiple Platform Rigs to Reefi Developmeni".<br />
Proceedings of Seventh ínternational Co~1J"ereme on Art$t?ciai Reefs and Related<br />
Aquatic Hnúitats, Italy, pp, 444-453<br />
CHPJSTY, F., SCOTT, H., i965 - "TTe Common wéairh itz Gcean Fisheries". John<br />
Hopicins Press, Baltimore. 28 1p<br />
CRUTCHFIELD, J., i965 - "Economic Objectives of Fishery Nlanagement". In 7;Se<br />
Fisheries - Problen/zs in Resource Management, Ed. J. Cnitchfield, Fart II, Chapter 2.1.<br />
Univ. of Washington Press. Pp. 43-65<br />
DMvMYT, G.C., i921 - "Iiiumination of Pia&tonY' Nature, Vol. 108, No. 2706 pp.<br />
42-43<br />
DIAS, G.T.IvI., 1996 - "'Justificativa para Aquisição de um Sistema de Sonar de<br />
Varredura LateraV Perfilador de Sub-fundo para o Programa REVIZEE". "Projeto<br />
REiIZEEW- hea Central, Anexo. CRM, Brasília. Pp. 77-79<br />
DRACH, P., 1948" - "Limite d'expansictn des peupkments benthiques sessiles en zone<br />
littorale profonde (faciès rocheux)" Comptes Rendzis He6d Séance du 20 Déc. 1948.<br />
Académie des Sciences du Faris. pp. i397-i399<br />
DRACH, P., 1948~ - '"aremière recl~erches en scaphandre autonome sur le peuplement<br />
des facies rocheux de la zone littorale profonde" Comptes Rendzrs Hebd Séance du 29<br />
Nov. 1948. Acadérnie des Sciences du Paris. pp. 1 176-1 i 78
DMCH, P. i958 - "Perspective in the Study of Bentiúc Fauna of the Continental<br />
Shel?' In: Perspectives in Marine Biology ed. A. Buzzati-Traverso. University of<br />
California Press. Pp. 33-47<br />
DMCH, P., 1982 - "Premiers Développements de i'Oc6anographie au Laboratoire<br />
hago". Vie efhliiíieu Vol. 32, No. 4. Banyus-sur-Mer, France pp. 225-233.<br />
DUGAS, R., GymLORY, V., FISCEEK &I., 1979 - "Oilrigs and Gffshore Spon<br />
Fishing in Louisiana". Fisheries Vol. 4, No. 6., herican Fisheries Sosiety, pp.2-10<br />
DUGm, J., 1959 - "Explora~ões Sulirnarinas". Ed. em língua portuguesa da Penguin<br />
Books Ltd., Editora Ulisseia, Lisboa - Rio de Janeiro. 490 p.<br />
FABEK iví., K~-OOl\T, I., BA'rZY, D., S00i - "Risk kssessment of Decommissions<br />
Options Using Bayesian Net Works". Proceedings of OMAE 2001. Paper No. 21 15, 3-8<br />
June 2001 - fio de Janeiro. i0 p.<br />
FKBI, G., GMTI, r., LUCCEEITI, li., TROVARELLI, L, 1999 - "Evolution of the<br />
Fish Assemblage Around a Gas Platform in the Northern Adriatic Sea)". Proceedings of<br />
Xeventh Inter~?ationai Confereme on Ârt7JIciaí Reefs aná Reiated Aquafic hraúifafs,<br />
Italy, pp. 454-461<br />
FAGWWES IWITO, E. B., GAEUEK, L.R., 199í - "AssociaçZo de Peixes<br />
Bentônicos e Demersais na Região do Cabo Frio, RJ, Brasil", Neríficcr, No. 6 (1-2)<br />
Curitiba, Editora da UFPR.<br />
FAOm\T, 1962 - 'Econonzic EHects of Fishet-y Regdation ". FAO, Fisheries Reports<br />
No. 5, Food and Agriculture Grganization of the United Nations. (Relatório da<br />
Conferência Internacional de Quebec, junho i 99 i j. 560 p.<br />
FAO/ZTN, i995 - "&de of Zonduct for Respomibíe fiheries ". FAO, Fisheries<br />
Department, Food and Agriculture Organization of the United Nations. 32 p.
FAO/Uiù, 1996 - "The Sontribintions of Science to Inregrared Coastal ~ancgeenmf ".<br />
GESAMP ( MO/ FAO/ 'WSCO-IGC/ WMO/ WHO/ IAEN UNI UNEP ). Report<br />
and Studies No. 61, Kome, 24p<br />
FAO/UI\T, 1998 - "íntegrated Coastal Área i.4anagenzenf and Agricultinre, Fores fry<br />
and Fisheries: FAO Guidelines". Environment and Natural Resources Service, FAG,<br />
Rome. 250 p.<br />
FORSTER, G., 1954 - " Preliminary Note on a Survey of Stoke Point Kocks with self-<br />
contained Diving Apparatus". Joz~rnal ofMar. Bid. Ass. U K. Vol. 33 pp. 341 -344<br />
FORSTER, G., 1958 - "Underwater Observation on the Fauna of Shallow Rock keas<br />
in the Neighboi-hood of Plymouth". Joznnal ofMw. Biol. Ass. UK. Vol. 37 pp, 473-<br />
43%<br />
FORSTER, G., 1959 - "The Ecology of Echinzns escuíentus L. Quantitative Eistribution<br />
and Rate ofFeeding7'. Jozrnal ofMm. Biol. Ass. UK. Vol. 3 8 pp. 36 1-367<br />
GERBER, R., I vMSmL, N., 1974 - "Injection of Uetritus by the Lagoon Peiagk<br />
Somrnunity at Eniwetok Aioll" LimnoIogy and Oceanographj~,Vol. 19, No.5 pp. 8 15-824<br />
GEkEIi, R., 1972 - "Free-Fioating Mucus Webs: A novei Feeding Adaptation for the<br />
Open Sea. Science, Voi. 176 pp. 1239-1240<br />
GOmON, H., S., 1954 - "The Economic lheory of a Common Property Resource"<br />
Jozkrnal of Political Econonzy, Vol. 62, No. 2, pp. 124-142<br />
GOREAU, T., 1959 - "The Ecoiogy of Jamaican Coral ReeiS" I. Species Composition<br />
and Zonation. Ecologyf Vol. 40 No. 1. pp. 67-90
OTO, 1935 - "On shallow water reefs bands'? Huga Fisheries Ivfisceilany Stories -3 ,<br />
Fisheiy Sfz& ~Mngnzine No. 30, Part 1, pp. 44-1 73<br />
JORGENSEN, T., LOIctíEBORG, S., SOLDAL, A., i999 - "Residence of Fish in the<br />
Vicinity of a Decommissioned Oil Platform in the Norih Sea". Proceedings oJ'A'eveníh<br />
Iufernationní Conference on ArtiJlcid Keefs and Related Aquatic Habitats, Sm-emo,<br />
Italy, pp. 424-432<br />
IdAKAi?, A, L000 - "Case History: Decommissioning, reefing and reuse of Guif of<br />
1Víexico Platform Complex. 2000 OHshore Technol~gy Conference, Texas 1-4 May,<br />
2000,OCTí%OSi, 7p.<br />
HHIvIIvfER, W., i975 - "Undenvater observation of biue-water plancton: Logistic,<br />
techniques, and safety procedures for divers at sea. Limnokogy nnd<br />
Gcemogaphy,Voi. i 9, No. 5 pp. 8 1 5-824<br />
HAMMEK, W., i\IIHI)ILù, L,, ALLUmiiGE, ", GILIvEK, R., HKIvEvER, P., 1975 -<br />
"Undenvater observation of gelatinous zooplancton: Sampling probiems, keding<br />
bioiogy, and behavior. Limnology and Ucemogaphy,Vol.20, N0.G pp. 907-9 17.<br />
HKRGREAvaS, P. i 979 - "fie Deveiopment of fhe Fisheries Sector in Jqnn ". Tese<br />
de M. Sc. Yokohama Kokuritsu Daigaku (Universidade Nacional de Yoícohamaj,<br />
Yokohama, Japan.<br />
HKRGREA'ES, r., i985 - "A Ocupação da Plataforma Continentai". Mergdhor, No.<br />
17, Ano IV, pp. 24-27.<br />
HMRGREAVES, P., i986 - b'Histórico do Llesenvoivimento do Ivkrguiho Científico"<br />
IíI Ciclo de Debates para o Desenvolvimenio do Merguího Amador. Simpósio C: As<br />
Ciências do Mar e o Mergulho Amador. ABm - Associação Brasileira de IvIergulho<br />
Amador, 48 p,<br />
HARGREAVES. P., 1994'" - ProJetn de Recifes e Atratores ArhJicinis para Fnzendns<br />
Mnrinhas 1 O Relatório de Avaliação FPEW - DPP Proc.No.076/94, 2 1 p
HAKGm~mS, P., 1994" - "Estudo e Avaliaçao de Gerenciamento e Planejamento na<br />
Instaiação de Recifes Artificiais de Propagação e Enriquecimento da Biomassa". I<br />
Enconiro Brasileiro de Ciências Ambienfais. COPPE/"uTRJ Vol. DI pp. i i 72-1 187<br />
HARGREAFES, P., i998 - "Construções Submarinas de Proteção e Aumento da<br />
Biomassa" Anais do 17" Congresso Nacional de Emsporfes Marííimos, CO~S~JÇ<br />
Naval e Oflshore ". Ses. Técnica 3, SOBENA. i 5 p.<br />
HARGWAAES, P., ESTEFEN1 S., 1999" - "Planejamento de Sistemas Integrados<br />
Sustentáx~eis para Múltiplo Uso de Recursos Marinhos" i71í COLAC' - Congresso<br />
Latino-americano sobre Ciências do Mar. R-esumos Expandidos Tomo 11. Lima, Peru<br />
pp 956-957<br />
HARGREAVES, P., ESTEFEN, S., 199gb - "Divisão do Espaço Costeiro e OceZnico<br />
para Planejamento Integrado de Uso Sustentável" FíZ COLACMAR - Congresso<br />
Latino-americano sobre Ciências do Mar. Resumos Expandidos Tomo II. Lima, Peru<br />
pp 958-959<br />
IiKRGREAAWS, E., ?ELICMW, H. E mví, S., i997 - 'Avaliação Freíinzinar da<br />
Gesib do Trabalho Subnmarino e dos Acidentes na Exploraçfio do PeíróIeo Brasileiro".<br />
Relatório do SíIWASA para Presidência da "CPI das Plataformas" da &EW. 122p.<br />
HARGREAWS, E., FEN\Jlut<strong>DE</strong>Z, R. i997 - "Sistemas de Recifes Artificiais para<br />
Controle de Sedimentos, Formação de Ondas e Aumento da Biomassa". XII Simpósio<br />
Brasileiro de Recursos Hldricos. Vol. IV pp. 346-3 54<br />
I-PXGREAAES, P., GOIvES, A. i997 - " Aplicação de Recilès na Maricultura" YU<br />
COLACM4R Congresso Latino-americano sohe Ciências do mar. Resumos<br />
Expandidos, Volume 11, São Paulo pp. 9- i0<br />
HARGREAWS, P. E PIMENTA E., 1999' - Relcatbrio de Avalia~iPo Técnica da<br />
Viabilidade de Zonemento Costeiro e Ocednico para Bioproduçdo e Atividades<br />
Conzplenientares. Escr. Kegional do Cabo Frio, Prot.OOi074i99-53 SEN/ IBHNíN<br />
MMA, em 20/09/99.1 i2p
HARGREAVES, P. E PIMENTA E., 1999" Troposta de Zoneamento, Comparti-<br />
mentalização e Divisão para Gestão Integrada de Sistemas e Recursos Naturak de<br />
Ivíúltiplos Usos". In: Reiarbrio de Avaíia@To Técnica da Viabilidade de Zoneamento<br />
Costeiro e Ocebnico para Bioprodqão e Afividades Complelilenfares. Escr. Regional<br />
do Cabo Frio. Prot.00107499-53, SE/RJ/BMvWiv~IA7 20/09/99. Pp 22-37.<br />
HARVILLE, J., 1983 - "Obsolete Petrolewn BIatforms as Artificial Reefs". Meries,<br />
Vol. 8, No. 2, American Fisherles Socieiy, pp.4-6.<br />
HERPJKINI>, 'W., 1974 - "Behavior: ín Sifu - Approach to ivíarine Behavioral<br />
Research" In: Experinzeninr' Ma~ine Biology, Chapter 3, Ed. Richard Mariscal,<br />
kcademic Press, N.Y. & London, pp. 55-92<br />
I-IOKTIG, F., 1972 - "Conservation of Mineral Resources of the Coastal Zone" In:<br />
Constal Zune Managenzeni: Multiple Use with C~nsewafion ed. J. P. Brahtz, John<br />
Wiley and Sons, Inc. pp. 149-189<br />
HUBBS, C., ESCIlivE'mR, R., 1938 - "The Improvement of Lakes for Fishing: A<br />
T/lethod of Fish Management" Fish. Res. Bull No. 2, Michigan. Dep. Conservation<br />
233 p.<br />
IB- 199 1 - "Farque 1VacionaiMarinho de Aliroihos " - Plano de ivíanejo. Dep. de<br />
Unidades de Conservação, IBAMA, Sec. do Meio Ambiente da Presidência da<br />
Repilzblica. Pp. 96<br />
IDRTES S, I., I93 8 - 'SFo7.ty Fathoms ueep - Peari Bvers and Sea Eovers in Azrsfralian<br />
Sem". 8' ed. Angus & Robertson Ud. Sydney and London, 336 p.<br />
IOGI, 1995 - 'Becon~niíssioning Oflshom Gil $ Gas Instaííafion: Findi~g fhe Righr'<br />
BaímceJ'. Discussion paper from the "International Offshore Oil and Natural Gas<br />
Expioration & Production hdustry". 25 p.
JOINT, H. 1997 - '' The artificial surfing reef planned for Cables Beach will go ahead".<br />
1Ministerial Media Staternent, Minisfer for S'mí and Recreation - Govemment of<br />
Westm Australia<br />
JOMQaS, R., i967 - "Ecoiogy of Organic Aggregates in the Vicinity of a Coral<br />
Ree f" Linznology and Oceanogmphy Vol. XII, No. 2 pp. 1 89- 195<br />
KITCHING, J., IVACAJ?, r., GKSOI?, H., i934 - "Stuciies in Subiitoral Ecology" I. A<br />
submarine Gully in Wembury Bay, South Devon. Joz4r~~aI of ~Warine Sioiogy<br />
Associafion New Series, Voi. XE, No.%, U.K. pp. 677-705<br />
KLÂUSEWITZ, 'i., i958 - "Die Âtoii-Xr"e der Iaaieciivenyy A4atur u~id Volk Vo1.88<br />
No. 1 1, Frankfbrt, pp. 380-390.<br />
ICOZAI, i993 - "Steel Reefs" hide Book. Koai Kz~rakz4bzrnz, 20 p.<br />
ICOZAI, 1997 - "Steei KeerS". fizai Kz~rahnbzm, 24 p<br />
KWIATA, T., KOBAJASHI, A., IvíkSULiA R.., 2001 - "Study on Erosion Process of<br />
kificial Beacii" Proceedings of 2oth IntemationaI Conferente on OHshore iWechnnics<br />
and Ar& E~?gineering, June 3-8,200 i, OIVL43200 i/OSU-5 155, Rio de Janeiro 6 p.<br />
LABOREL, J., VACELET, J., 1958 - "Étude des Peuplements d'une Grotte Sous-<br />
marine du Golfe de Marseille" Bull. Inst. 0cémog-r. No. 1120, Monaco, pp. 1-20<br />
LKBOEL, J., i969 - "Ivíadréporaires et hidrocoraliiares récifaux des cotes<br />
brésiliennes. Systématique, kologie, repwtition verticale e gographique, Annls. hsf,<br />
Océnmgi.., No. 47, Paris. pp. 171-229.<br />
LANGTOI?, R.'w., AUSTER, P.J., i999 - "IvIarine Fishery anci Habitat Interactions".<br />
Fisheries, Vol. 24, No. 6, American Fisheries Society, pp. 14-21
LIMA F.K., 1993 - 'Estudos de Locaiização I'ndusti..iai: Crinção de zlm Sistema de<br />
Andise Bnsendo em Modelos Icônicos Gerndos por Aplicações dn Conzputqão Gr@ca<br />
Associadas a Bancos de Dados Kelacionai ". lese de Doutorado, PEPiCOPPE/UFRJ.<br />
LEvíÂ, F.R., COSENZA, C.A., 1999 - "Aplicação de um Modelo de hierarquizaqão de<br />
potenciais de localização no zoneamento industrial metropolitano: metodologia para<br />
mensuração de oferta e demanda de fatores iocacionais". Anais do xXEiEGEP e li'<br />
IC'CIE, CD - ROM, UFRJPUC<br />
LiMBÁUGI-I, C, 196i" - "Cleaning Symbiosis" Scientific American. No. 205 pp. 42-49<br />
LIMBAUGH, C, 1961" "Qbservations on the California Sea Qtter" Jozlrnal qf<br />
Mmmnlogy, Vol. 42, No.2, pp. 271-273<br />
LíRBAUGH, C, RECmTZER, H., i955 - "Visuai Detection of Temperature Density<br />
Disconiinuities in Water by Diving" Science 121, N.Y. pp. 1-2<br />
LEvBAUGH, C, SnEPAKD, F. 1957 - "Submarine Canyons". In: Treatise on IvIarine<br />
Ecology and Paleocology. Vol. 1. Ecology. Ed. J.W. Hedgpeth. Mem. Geological<br />
Society of America No. 67 pp. 633-639<br />
LEvIBAUGH, C. 1964 - "Notes on the Life History of Two Californian Pornacentrids:<br />
Garibaldis, Hypsypops rubicunda (Girard) and Blacksmiths, Chromis pzmcfinnis<br />
(Cooper)". Pac~Jic Science, Vol. xflIi, pp.4 1-50<br />
LDWBERG, R., 1955 - "Gsowth, Population Dynamics, and Fieid Behavior in the<br />
Spiny Lobster, Panulirus inferruptus (Randall)". Universig of Californin Puí7lications<br />
in Zoology, Vol.59, No.6, pp. i 57-248.<br />
LOKKEBOKG, S., 'XKJMEORST~, O., J'ORGEIJSEX, T., SOLDAL, A., 1999 -<br />
"Spaiio-Temporal Variations in Gillnet Catch Rates in tlie Viciniiy of Oil Platforms".<br />
Proceedings of Sevenrh ínternadionaí Conferente on ArtirJiciai Keefs and Rebfed<br />
Aquafiic Habifafs, Sanremo, Italy, pp. 433 -43 9
LYLE, L., 1929 - "iviarine Klgae of some German Warship in Scapa Flow and of the<br />
Neighboring Shore" Limnology Jozrrnal Boimy, Vol. XLW, U.K. pp.23 1-257<br />
ivmm, L., 1974 - "Field Zibservation on the Feeding Behavior of Saips (Tunkata:<br />
Thaliacea). Marine Bioiogy No. 25 pp. 143- 147<br />
NiATS-UMlrTO, H., Mm, S., IvKOSE, H., 1381 - "Hydraulic Mode1 Experiments<br />
on Undenvater Enforced-flow Stmcture for Applications to Artificial Fish Shelters and<br />
Fish Farms". La Mer No. i9, Société Franco-Japonaise d'lrcéanographie, Tiquio<br />
pp.57-63.<br />
iVíATSUNíOT0, W., W AV& S., M-STEL), D., 1981 - "hchored Fish Aggregating<br />
Devices in Hawaiian Waters" Mnrine Fisheries Review. Vol. 43, No. 9, NOAA, U.S.<br />
Department of Commerce. pp. i- i4<br />
MAYOR, A. G., i924 - "Some Postliumous Papers of A.G. Mayor" Papersponz fhe<br />
Departmenf of Mmine Biol~gy Vol. XIX. Carnegie Institution of Washington,<br />
Publication No. 340. pp. 1-90<br />
mNARD, H., DILL, R., HAMILTON, E., MOORE, D. SHUMWAY, G,,<br />
SILVERMAN, M., STEWARD, H., 1954 - "Undenvater Mapping by Diving<br />
Geologist" Bzrll. Anzer. Ass. Eetrobzmz Geolo,Pists, Vol. 38, No. 1, pp. 129-147<br />
~ ~ EF., S LUIGI, , G., i999 - Diagnbstico Ambienta1 Expedito do Ahnicíyio de<br />
Ar-mação dos Búzios, Rio de Janeiro. LIMAíCOPPEíWRJ<br />
h/m\SER, R., 1934 - "Diving in Coral Gardens". Scientific American No.151, pp. 122<br />
124.<br />
MIRAGLIA, L., 1935 - "Nuovo Sistema di Ossei-vazione e di Caccia Subacquea"<br />
Boliettino di Pesca, di Piscicolfum e di Idrobiologics, Amo XI, Fasc. 2, Roma. pp. 255-<br />
321
I\TAXAHAlU, H., 1997 - "Marine & Coastal Developrnent in Japan". ST Special<br />
Asia-Pacific Report, Sea Technology Ed. Apri1/97, pp. 47-53<br />
NAKA_MuRA, M. (1976) - "A Review of Artificial Fishreef Research" Part I. Japfln<br />
Fisheries Resoidrces Conserva fim Associnfion. pages 7 1 - 84<br />
NEVES, M. A., 1991 - "A Questão da Segurança no Mar". Portos e Nmios, No. de<br />
agosto de 1991, pp. 50-57.<br />
NEVES, M, A. ., FREITAS, A.1996 - "Análise Estatística dos Acidentes com<br />
Pesqueiros no Brasil". 16" Congesso Nacional de Transporfes marífimos e Consfrtiçfio<br />
NmaI. Anais, pp. 373-383<br />
NIGYOKYO, 1997 - "Nippon Ogata Jinko Gyosho Kyokai Guide Book". AssocictçLio<br />
Jnponesa dos Grnndes Recfes ArfiJciais de Pesca, 69 p.<br />
ISIORINSUISANSHO, 1985 - "MARiNOYP_TION Concepf ". IV Projeto de<br />
Desenvoivimento Integrado Nacional, Secretaria de Estado da Pesca, Divisão de<br />
Projetos, Minist. Agricd. Pesca e Florestas do Japão. ( Norinsuisanshô, White Paper em<br />
Japonês). 1 1 L p.<br />
NUNES, J.S., 1997 - "Parecer No. 488/97" sobre Normas Legais Aplicáveis ao<br />
Gerenciamento Costeiro - Aspectos Arnbientais. ref MEMO. 01.141/97 DIRCOF/<br />
IB AMA.<br />
OGAWA, 1968 - "Experiments on the Attractiveness of Artificial Reefs for Marine<br />
Fishes - Vm. Attraction of Yomg Yellow-tail to the Model Fish Reefs" BuII. Jq. Soc.<br />
Scien. Fisks. Vol. 34, No. 3, pp. 169- 176<br />
OGAWA, Y., TAKENIURA, Y., 1966 - "Experiments of the Attractiveness of<br />
Artificial Reefs for Marine Fishes - I. Preliminary Observation on Small Models in<br />
Laboratory" Bull. Tokai Reg. Fisk. Res. Lab. No. 45, pp. 107- 1 13
OKA, N., WATANABE, H., HASEGAWA, A., 1962 - "The Economic Effects of the<br />
Reguia~ion of the Trawl Fisheries of Japan", h: Economic Effects of Fishery<br />
Regulation, FAO Fisheries Report No. 5, F AOm Reme pp. 173-208<br />
OKAJIMA, Y., OHHASHI, Y., OHSHIMA, N. 1993 - The Present Condition and<br />
Future Prospects of the Shonan Nagisa Plan. Coasflines of Jqm Vol. II pp. 54-68,<br />
ASCE, La.<br />
OWEN, D., 1958 - "Photography Undenvater" Oceanm, Vol. VI, No. 1 pp. 22-39<br />
PMVA, M. P., 1982 - 'YAbzrnddncia de Atuns ao Largo da Costa do 31-asil". Editerra,<br />
Brasília DF. 1 i i p.<br />
PMVA, M. P., 1986 - "Fzrndmtlenfos da AdministraçGo Pesqueira". Editerra, Brasília<br />
DF. 156 p.<br />
PAIVA, M., LE GALL J., 1975 - "Caches of tunas and tuna like fishes, in the long line<br />
fishery areas off the coast of Brazil" Arqzrivos de Ciências do Mar Fortaleza,, Vol. 15<br />
No. 1, , pp. 1-18.<br />
PAIVA, M.P., MOTTA, P.C., 2000 - "Cardumes de sardinha verdadeira Sardinelln<br />
Brmiliensis (Steindachner), em ágiias costeiras" Revista Brasileira de Zoologín Vol. 1 7<br />
No. 2, pp. 339 -346<br />
PAIVA, M.P., MOTTA, P.C., 1999 - "Capturas da Sardinha - Verdadeira Sardinella<br />
Bmiliensis (Steindachner) e da Fauna acompanhante, no estado do Rio de Janeiro<br />
(Brasil)". Arquivos de Ciências do Mar, No. 32 pp. 85-88<br />
PAULY, R., 1986 - "Problems of tropical Inshore Fisheries: Fishery Research on<br />
Tropical Soft-Bottoin Comm~mities and the Evolution of Its Conceptual Base" Oceun<br />
Yem600k 7 - CoasfalManagement. The University of Chicago. pp 29- 37<br />
PENNING-ROWSELL, E. C., GREEN, C.H., THOMPSON, P.M., COK_ER, A. M.,<br />
TUNSTALL, S. M., RICHARDS, C., PARKER, D.J., 1992 - " ne Economics qf
CoastalMmmgenzent " - A manual of Benefit Assessment Techniques. Balhaven Press,<br />
London. 3 80 p.<br />
PÉRÈs, J., PICCART, J., 1949 - "Notes sommaires sur le peuplement des grottes som-<br />
marine de la région de Marseille". C.R. Som. Sémces Soc. Biugéographique Vol. 26,<br />
No. 227' pp 1-40<br />
PÉRÈs, J., PICCART, J., 1956 - "Manuel de Bionomie Benthique de la Mer<br />
Mediterranée" Rec. Trmt Sta. Mar. Endourne. Vol.23, Boll. 14 pp. 5- 122<br />
PIMENTA E., WGREAVES, P., 1999 - "Introdução a Discussão sobre<br />
Exclusividade de Uso de Áreas Públicas: O Caso da RESEWAC". Em: ReIafór.io de<br />
Avaliaqão Técnica da Viabilidade de Zoneanzento Costeiro e Oceânico. Escr. Regional<br />
do Cabo Frio, Prot.001074/99-53 SEIRJ/IBAhaa/MMA, 20/09/99. pp. 6-1 1.<br />
PRP-TTE, T.P. 1987 - Ocean Wave Recreation. Coastal Zone '87 Proceedings, Vol. 5,<br />
pp. 5386, 5398<br />
PRATTE, T.P., WALKER, PE, GADD, PE, LEI<strong>DE</strong>SDORF, CB 1989 - A New Wave<br />
on the Horizon - Tuwards Building SurÍing Reefs Near Shore. Comta/ Zone '89<br />
Proceedings. Session 53, pp. 3403-341 1<br />
PONTI, M., ABBIATI, M., CECCHERELLI, V., 1999 - "Drilling- platform Wrecks as<br />
Artificial Reefs: Preliminary Description of Macrobentis Assemblages of the 'Paguro'<br />
(Northern Adriatic Proceedings of Seventh International Conferente on Arficficial Reefs<br />
and Relafed Aquafic Habifafs, Sanremo, Italy, pp. 470-476<br />
RECHNITZER, A,, LIMBAUGH, C., 1952 - "Rreeding Habits of Hjpeíprosopon<br />
argenfeurn, a Viviparous Fish of Californiay' Cunfribzdions fiam fhe Scripps Institution<br />
of Oceanogmphy, New Series No. 571. Reprinted from Copeia No. 1, U.S.A., pp. 41-42<br />
REDFIELD, A,, 1958 - "The Inadequacy of Experiment in Marine Biology" In:<br />
Perspecfives in Marine Biology ed. A. Buzzati-Traverso. University of CalXornia Press.<br />
pp. 19-27
RIBAKOFF, S. ROTHWELL, G. HANSON, J. 1974 - "Man-Made Offshore Platfoms<br />
- State-of-Art". Part 12: Platforms and Housing for Open Sea Mariculture, In: Hanson<br />
J. A. (Ed) Open Se0 Mariczdtzm, Oceanic Foundation, Hwaii, USA, Dowden,<br />
Hutchinson & Ross, Inc. pp. 299-3 17<br />
RZELD, R., 1958 - "An Attend to Test the Efficiency of Ecological Field Methods and<br />
ihe Validity of their Results" In: Perspectives in Marine Biology ed. A. Buzzati-<br />
Traverso. University of California Press. pp. 57-67<br />
RUIVO, F., MOROOKA, C. 2001 - LLDecommissioning Offshore Petroleum Fields"<br />
Proceedings of 2oth Internationa/ Conference on OSfhore Mechnnics nnd A~iic<br />
Engineering, June 3-8,2001, OMAE2001lOFT-1003, Rio de Janeiro 8 p.<br />
SANTOS, &I., MONTEIRO, C., 1999 - "Spatial Distribution of Fish Around an<br />
Artificial Reef System: Area of Influente". Proceedings of Sevenfh Iniernafiond<br />
Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Haúi fats, Sanremo, Italy, pp. 46-53<br />
SETTE, O.E., 1943 - "Studies on the Pacific Pilchard or Sardines" US. Fzsh and<br />
WildIif.2 Semice, Special Scientific Report No. 19, p.4<br />
SCHAEFER, M., 1972 - "Conservation of Biological Resources of the Coastal Sone,<br />
In: Coasta,! Zone Mmagenzenf: Mz~iralfiple Use with Consewnfion ed. J. P. Brahtz, John<br />
Wiley and Sons, Inc. pp. 35 - 79.<br />
SHEEHY, D.J., 1982" - "Japanese Artificial Reef Technology" -Translations of<br />
Selected Japanese Literature and an Evaluation of Potential Applications in the United<br />
States. Aquabio Inc. Technical Report 604, Florida, USA. 380 p.<br />
SHEEHY, D. J., 198~~ - "The Use of Designed and Prefabricated Artificial Reefs in the<br />
United States". Marine Fishery Review, NOAA (National Oceanic and Atmospheric<br />
Administration), U. S. Department of Commerce. Volume 44, Number 6-7 pages 4-16.
SOLDAL, A., SVELLINGEN, I., JORGENSEN, T., LOKKEBORG, S., 1999 - "Rigs-<br />
to Reef in the North Sea: Hydroacustic Quantification of Fish in the Vicinity of 'Semi-<br />
Cold' Platform". Proceedings of Seventk! International Confereme 012 Arlipcial Reefs<br />
an$ Relafed Aqzmtic Habitafs, Sanremo, Italy, pp. 4 13 -42<br />
SUZUKI, N., KATO, K., 1953 - "Studies on Suspended Material Marine Snow in the<br />
Sea. Part I. Sources of Marine Snow" Bzall. Fac, Fish. Hokhido Univ. pp. 132- 13 5<br />
TBBATA, R. S. (1989) - "The use of nearshore dive sites by recreation dive operations<br />
in Hawaii". Coastul Zone' 89- Proceedings of fhe Sixfh Syniyosiun? on Constfnl crnd<br />
@cem Mmagement, American Society of Civil Engineers, Session 46, 2865 - 2876<br />
pages.<br />
TAKEhRJFL4, Y., OGAWA, Y., 1966 - "Experiments of the Attractiveness nf<br />
Artificial Reefs for Marine Fishes - II. An Automatiç Recording Apparatus" BzdL<br />
Tokaí Reg. Fish. Res. Lab. No. 45, pp. 1 14- 126<br />
TEE-VA-N, J., 1926 - "The Arcturus: Equipment and Operations" Zoologlca, Vol. VIII,<br />
No. 2 , New York Zoological Society. pp. 47-102<br />
THORNTON, W., 2000 - "Current Trends and Future Technologies for the<br />
Decommissioning of OEshore Platforms". 2000 Oflshore Technology Conference,<br />
Houston, Texas 1-4 May, 2000 CD, 10 p.<br />
TURWER, C., EBERT, E., GTVEN, R., 1969 - "Man-Made Reef Ecology". The<br />
Resources Agency of California, Fish Bulletin 146, 203 p.<br />
TURISMO, 1990 - "Plano Diretor de Desenvolvinzento de Pólos de Tzuisnzo Nauti~o<br />
no Estado do Rio de Janeiro". Estudo elaborado pela empresa TECNOSAN para<br />
Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, subordinada a Secretaria de<br />
Indústria e Comércio do Estado do Rio de Janeiro. 60p.<br />
UEKITA, Y., N I X m<br />
M., HT<strong>DE</strong>SHIIWLA, Y., 1984 - "Observation of the<br />
Upwelling Causing Behind the Large Reef in Case of Siomaki, Yamaguchi Pref"<br />
Suisnn Kogakt~ No. 5, pp.3 3 -66
V ~ O S 1973 , - "Technical Conference on Fishery Management and Development"<br />
Journal qf the Fisheries Resenrch Bonrd of Canada. Vol. 30 No. 2, Part 2. pp. 1925-<br />
2515<br />
mRRILL, A., 1901 - "Comparisons of the Bermudian, West Indians and Brazilian<br />
Coral Faunae" Trnnsnciions of Connectimf Acadey of Arts nnd Science. No. 11<br />
pp. 170-260<br />
ZALMON, I.R., NOOVELLI, R., GOMES, M.P., FARIA, V.V., 1999 - "An Artificial<br />
Reef Program on Northern Coast of Rio de Janeiro, Brazil. Proceedings of Sevenfh<br />
Internatio~al Confereme on Artificial Reefs and Related Aqzmtic Habifafs, Sansemo,<br />
Italy, pp. 105-1 12<br />
ZENKEVITCH, L., 1958 - "Immediate Problerns in the Development of Marine<br />
Biology" In: Perspecfives in Mmine Bido~ ed. A. Buzzati-Traverso. University of<br />
California Press. pp. 27-33