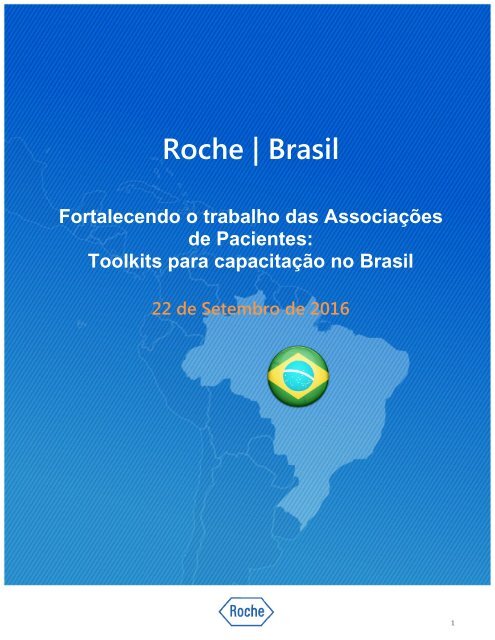You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Toolkits for capacity building in Brazil<br />
Roche | Brasil<br />
Fortalecendo o trabalho das Associações<br />
de Pacientes:<br />
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
22 de Setembro de 2016<br />
1
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
FORTALECENDO O TRABALHO DAS ASSOCIAÇÕES DE PACIENTES<br />
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Sumário<br />
1. O que é um Tool Kit ou Conjunto de Ferramentas? 03<br />
1.1 O que contém um Tool Kit 03<br />
1.2 Quem poderá utilizar esse Tool kit 03<br />
2. O que são políticas públicas e como elas podem ajudar os pacientes e suas famílias 03<br />
2.1 Monitoramento e avaliação de políticas públicas 05<br />
2.2 Estudos de caso: Como as políticas públicas têm melhorado a vida de pacientes no Brasil 08<br />
3. Vamos falar de Planejamento Estratégico 11<br />
3.1 Como identificar o problema e priorizar um tópico 12<br />
3.2 Priorização de problemas 13<br />
3.3 Definição de objetivos 14<br />
3.4 Definição de estratégias e táticas 15<br />
3.5 Plano de Engajamento com stakeholders 18<br />
3.5.1 Ciclo Político e seus estágios 20<br />
3.5.2 Tipos e exemplos de stakeholders relevantes nos estágios do Ciclo Político 24<br />
3.6 Como elaborar um Plano de Engajamento 25<br />
3.7 Como identificar oportunidades de engajamento com o Governo 29<br />
3.8 Ética e Compliance 31<br />
4. Superando barreiras na luta contra o câncer no Brasil 33<br />
4.1 O que são barreiras? 33<br />
4.2 Quais são as barreiras e desafios para o enfrentamento do câncer no Brasil 33<br />
4.3 Encontrando soluções para as barreiras e desafios prioritários à sua associação 36<br />
4.4 Priorização de barreiras e definição de projetos 37<br />
4.5 A importância de se trabalhar em redes para superar as barreiras 39<br />
4.6 Superando barreiras: estudo de caso dos centros de referência para DST/Aids 40<br />
5 Mãos à Obra – Atividade 42<br />
6 Referências 46<br />
2
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
1. O que é um Tool Kit (Conjunto de Ferramentas)?<br />
De acordo com o dicionário Collins, um tool kit é um conjunto de ferramentas desenvolvido para ser usado em<br />
conjunto e para um objetivo em particular.<br />
Neste caso em específico, o Conjunto de Ferramentas foi criado para ajudar as associações de pacientes com<br />
câncer a atingir dois objetivos:<br />
<br />
<br />
Saber identificar as Barreiras e os Desafios que comprometem os resultados de sua instituição,<br />
priorizá-las e eliminá-las, de forma a facilitar o seu dia-a-dia e alavancar o atingimento de suas metas.<br />
Desenvolver um planejamento para que sua organização e as pessoas que a representam desenvolvam<br />
Relacionamentos Estratégicos com Influenciadores e Desenvolvedores de Políticas Públicas.<br />
1.1 O que contém um Tool Kit<br />
Esse conjunto de Ferramentas apresenta os passos a serem tomados para que você e sua equipe entendam e<br />
apliquem os conceitos apresentados neste documento, além de poderem utilizar alguns modelos de<br />
planejamento, dicas de passo a passo na criação de projetos e processos, sugestões de relatórios e estudos de<br />
caso, de forma a dar-lhes suporte durante o planejamento e monitoramento de suas atividades.<br />
1.2 Quem poderá utilizar esse Tool Kit<br />
Qualquer membro de sua organização poderá utilizar esse documento. Para isso, será necessário ler o<br />
documento com atenção, fazer as pesquisas necessárias, realizar discussões em equipe, preencher os modelos<br />
(templates) disponíveis ao longo do texto e garantir que todos da equipe estejam alinhados e de acordo com o<br />
planejamento e as táticas elaboradas.<br />
Esse processo depende de sua organização, liderança e o comprometimento de todos.<br />
2. O que são políticas públicas e como elas podem ajudar os pacientes e suas famílias<br />
Segundo a Organização Mundial de Saúde, política de saúde (ou o termo health policy, em inglês) refere-se a<br />
decisões, planos e ações tomados a fim de se alcançar um objetivo de saúde (ou no cuidado em saúde) para a<br />
sociedade 1 . No Brasil, entende-se por política de saúde “decisões de caráter geral, destinadas a tornar públicas<br />
as intenções de atuação do governo e a orientar o planejamento (...). As políticas visam tornar transparente a<br />
ação do governo, reduzindo os efeitos da descontinuidade administrativa e potencializando os recursos<br />
disponíveis” (Fleury & Overney, 2008).<br />
As políticas de saúde podem ser de diversos tipos e serem orientadas para diferentes tópicos (como<br />
financiamento, cobertura dos serviços, acesso ao cuidado, etc.). De forma geral, uma política de saúde tem três<br />
objetivos principais:<br />
1 Extraído de: http://www.who.int/topics/health_policy/en/<br />
3
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
<br />
Garantir equidade:<br />
Definida como tratamento igual para necessidades iguais, igualdade de acesso ou igualdade em saúde. Uma<br />
política baseada na equidade tem como finalidade respeitar e proteger os direitos humanos e melhorar a<br />
saúde de subgrupos populacionais em desvantagem, ao mesmo tempo em que também se ocupa da<br />
melhoria da saúde global.<br />
Exemplo:<br />
Vantagem<br />
social<br />
Desvantagem<br />
social<br />
Estágio da doença no momento do<br />
diagnóstico<br />
(pessoas em desvantagem social,<br />
diagnóstico tardío)<br />
Maior<br />
sobrevivência<br />
Menor<br />
sobrevivência<br />
Fonte: http://www.cqco.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileId=291343<br />
Para avaliar se a política do câncer cumpre o objetivo da equidade, podemos fazer a seguinte pergunta: Existem<br />
diferenças no diagnóstico e tratamento para pessoas com câncer, segundo características socioeconômicas? Em<br />
outras palavras, pessoas com nível de escolaridade ou renda (por exemplo) mais baixo têm mais dificuldades em<br />
conseguir diagnóstico e conseguir tratamento para o câncer?<br />
Como as associações de pacientes podem avaliar se existe equidade no acesso ao diagnóstico e tratamento de<br />
cáncer no Brasil dentro de seu dominio de atuação? Uma forma seria a realização de entrevistas com os<br />
pacientes (pesquisa qualitativa) a fim de identificar o que elas fazem, como utilizam os serviços de saúde, como<br />
procuram e recebem tratamento, quanto tempo demoram para serem atendidas, quanto tempo levaram desde<br />
o diagnóstico até o início do tratamento, entre outros. Isso pode ser feito em conjunto com perguntas que<br />
permitam traçar as características socioeconômicas da população, como idade, escolaridade, renda, educação,<br />
ocupação, local de moradia, religião, entre outras. Cada organização pode fazer sua própria pesquisa e, caso seja<br />
parte de uma unidade federada, a unidade pode compilar os resultados da pesquisa para comparar diferentes<br />
contextos e regiões do país. Isso traz força para a pesquisa e para o trabalho em conjunto entre as associadas.<br />
<br />
<br />
Garantir acesso aos serviços de saúde<br />
O acesso aos serviços pode ser na forma de prevenção, diagnóstico ou tratamento. Políticas dessa natureza<br />
têm como objetivo criar condições para que a população possa usufruir dos serviços em sua integralidade,<br />
com qualidade e tempo hábil. A política de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde pode ser<br />
considerada uma política que visa garantir o acesso da população a medicamentos básicos e essenciais à<br />
saúde.<br />
Garantir proteção à população<br />
Refere-se à proibição de produtos que prejudiquem a saúde, prevenção comportamentos inseguros ou<br />
promoção educação em saúde. Neste caso, as políticas estão voltadas a leis, regulamentos, ou programas<br />
de promoção da saúde e bem-estar. Como exemplo podemos citar programas de vacinação ou o Programa<br />
de Controle do Tabagismo, do Ministério da Saúde, que visa reduzir a prevalência do uso do cigarro,<br />
promover hábitos de vida saudáveis e utilizar instrumentos legislativos para desencorajar o uso de cigarros<br />
em espaços fechados.<br />
4
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Uma política de saúde sofre influência de inúmeros fatores, como questões de ordem econômica, aspectos<br />
éticos e legais, opiniões das diversas partes interessadas, e problemas que pressionam o sistema de saúde.<br />
A figura abaixo descreve esses aspectos.<br />
Figura 1. Fatores que influenciam as políticas de saúde<br />
Questões<br />
econômicas<br />
Disponibilidade<br />
de tecnologia<br />
Pressão<br />
pública e<br />
política<br />
Mídia<br />
Determinantes<br />
da saúde<br />
Políticas<br />
de<br />
Saúde<br />
Contexto<br />
social e<br />
político<br />
Educação<br />
Novas<br />
evidências<br />
Profissionais<br />
de saúde<br />
Aspectos<br />
éticos<br />
Esses aspectos ditam, de alguma maneira, a definição de um problema de saúde, ou a inclusão de determinado<br />
tópico na agenda (determinantes de saúde, novas evidências, disponibilidade de tecnologia, pressão pública e<br />
política), a escolha de intervenções que serão o foco da política de saúde (mídia, profissionais de saúde,<br />
aspectos éticos) e questões que permeiam a decisão sobre a implementação da política (questões econômicas,<br />
contexto social e político).<br />
Uma política de saúde bem implementada é capaz de ajudar milhões de pessoas, pacientes e suas famílias, pois<br />
atuam em âmbito populacional, e não individual. A política pode ser considerada bem implementada se ela é<br />
capaz de descrever claramente o problema, suas causas e consequências, e propor um plano de ação integrado<br />
voltado, em última instância, à melhoria das condições de saúde da população com base nos três pilares<br />
descritos anteriormente (equidade, acesso e proteção). Por exemplo, o Programa Nacional de Imunizações no<br />
Brasil é considerado em todo o mundo um exemplo de política bem implementada. Desde que foi criado, em<br />
1973, tem ajudado a salvar milhões de vidas por meio da vacinação (proteção), garantindo o acesso de toda a<br />
população à imunização (acesso), com foco em grupos mais vulneráveis (equidade).<br />
2.1. Monitoramento e avaliação de políticas públicas<br />
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, monitoramento significa reunir dados de todas as fontes<br />
relevantes para analisar o que está acontecendo, onde e por quem. O monitoramento usa um conjunto de<br />
indicadores e metas para fornecer informação precisa e no momento oportuno para o acompanhamento de um<br />
projeto, seja para eliminar barreiras e/ou relacionar-se com o governo. Essas informações também podem servir<br />
5
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
de base para apresentar ao governos e parceiros, o progresso do projeto, auxiliando no diálogo com<br />
stakeholders.<br />
A avaliação, por outro lado, é a coleta e análise de informações sobre atividades, características e resultados de<br />
projetos, políticas, programas, planos, entre outros, que auxiliam o julgamento da política pública e/ou barreira,<br />
melhore sua efetividade e/ou informe decisões sobre o curso futuro da política em questão e/ou barreira a ser<br />
eliminada. A análise feita para a avaliação é mais completa do que no monitoramento (embora utilize suas<br />
informações) e leva em conta mudanças contextuais.<br />
O processo de monitoramento é parte fundamental no processo de trabalho da organização, tanto em relação<br />
ao seu próprio desempenho quanto no trabalho em prol de políticas públicas, uma vez que permite mostrar, por<br />
meio do acompanhamento dos indicadores de resultados selecionados em períodos curtos, se a situação está<br />
melhorando, piorando ou se mantendo constante. Ou seja, permite que sejam identificadas áreas de sucesso ou<br />
de necessidade de melhoria aos influenciadores, sejam eles formuladores de políticas ou influenciadores,<br />
inclusive colaborando na explicação da causa dos problemas. O monitoramento também pode informar e<br />
direcionar pesquisas em uma determinada área.<br />
O monitoramento é um processo cíclico, como pode ser visto na figura abaixo. Ele se inicia com a definição dos<br />
indicadores de saúde que são relevantes para uma determinada política ou barreira de saúde. Os dados<br />
necessários para a construção desses indicadores são coletados, e avaliados por diferentes procedimentos<br />
estatísticos, que podem ser simples ou complexos. Com base nos dados apresentados, mudanças podem ser<br />
implementadas, de forma a fazer com que o projeto alcance seus objetivos. Para monitorar os efeitos dessas<br />
mudanças que foram feitas a partir da avaliação prévia, novos dados devem ser coletados e novas análises<br />
feitas. É por isso que o monitoramento é cíclico.<br />
Figura 2: Ciclo de monitoramento em saúde<br />
Seleção de<br />
indicadores<br />
De Saúde<br />
relevantes<br />
Implantação<br />
de mudanças<br />
no curso<br />
da política<br />
Coleta de<br />
dados<br />
Apresentação<br />
de resultados<br />
Análise<br />
de dados<br />
Fonte: WHO (2013).<br />
A avaliação é uma prática fundamental e deveria estar presente em qualquer atividade e/ou política de saúde. É<br />
por meio da avaliação que se torna possível identificar o que tem dado certo ou não, e o que precisa ser<br />
modificado de forma a se alcançar o objetivo do projeto. A avaliação também pode colaborar na avaliação de<br />
desempenho. Algumas considerações merecem destaque a respeito desse tema.<br />
6
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Em primeiro lugar, é necessário entender a proposta da avaliação, que pode ser:<br />
a) fazer um julgamento sobre o mérito do projeto<br />
b) melhorar o projeto<br />
c) auxiliar o desenho de um novo projeto<br />
d) gerar um novo conhecimento para o projeto<br />
É preciso também identificar a quem se destinam os resultados dessa avaliação, ou seja, identificar quem serão<br />
os beneficiários dessa avaliação, ou seja, quem serão aqueles afetados por ela, como pacientes ou famílias. Por<br />
exemplo, na avaliação de um programa de saúde como o Mais Médicos, se a proposta for avaliar a qualidade<br />
dos serviços, o foco final será no profissional de saúde contratado. Se o objetivo for verificar se houve melhoria<br />
no acesso da população aos serviços, o foco então está na população e nos pacientes. Definidos esses primeiros<br />
fatores, torna-se necessário avaliar quais serão as estratégias metodológicas utilizadas, reunir os dados<br />
necessários para tal e proceder a análise. Um ponto crucial após essa etapa refere-se à discussão dos resultados,<br />
avaliação de opiniões e outros tipos de avaliações com o mesmo propósito, a fim de se construir um consenso<br />
sobre os resultados encontrados.<br />
O processo de monitoramento e avaliação, e a prática do uso de dados em organizações não governamentais,<br />
filantropia e negócios sociais tem se tornado cada vez mais comum. Isso ocorre pela maior disponibilidade de<br />
informações de fontes variadas (ex.: Big Data) e da crescente necessidade de as organizações mostrarem<br />
evidências sobre o impacto de suas ações.<br />
Diferente do setor privado tradicional, em que as métricas externas, em geral, estão focadas em indicadores<br />
financeiros, na área de filantropia ou organizações não governamentais, ou mesmo negócios sociais, as métricas<br />
atendem a diferentes expectativas, como aquelas relacionadas à:<br />
a) missão da organização (por exemplo, número de pessoas alcançadas com determinada ação)<br />
b) resultados esperados pelos patrocinadores<br />
c) desempenho da própria organização<br />
d) monitoramento de políticas públicas<br />
As organizações sociais coletam dados para responder às questões que se alinham intimamente com a<br />
identificação das demandas básicas da população que atendem. O tipo de dado que as associações de pacientes<br />
coletam não é o mesmo que o governo usa para suas atividades. Ambos são importantes e agem ou deveriam<br />
atuar para o mesmo fim, ou seja, melhorar a saúde da população.<br />
Suponhamos uma associação de pacientes que tem como propósito reduzir as barreiras no acesso a<br />
medicamentos aos pacientes. Sua missão é buscar os medicamentos e distribuí-los aos pacientes que precisam e<br />
não conseguem por dificuldades na locomoção ou barreiras geográficas. O tipo de dado que essa associação<br />
coletará para avaliar a efetividade de sua ação refere-se ao número de pacientes atendidos pela associação de<br />
pacientes, por exemplo. Por outro lado, o governo desenvolve programas que facilitam o acesso aos<br />
medicamentos para a população. O dado que o governo coleta refere-se ao número de pessoas com demanda<br />
por determinados medicamentos nos municípios, a fim de entender onde alocar as farmácias populares. Ambos<br />
(governo e associações de pacientes) têm como objetivo aumentar o acesso da população aos medicamentos,<br />
mas cada um age de uma forma, e por isso os dados coletados são distintos.<br />
A partir desse exemplo podemos perguntar: como associações de pacientes podem ajudar o governo com dados<br />
e informações de pacientes? De forma simplificada, vamos dar um exemplo do Programa Nacional de Câncer de<br />
Mama do governo federal.<br />
Uma das ações do programa prevê o aumento de mamografias no país para a detecção precoce do câncer de<br />
mama. O governo define, com base em estudos prévios, onde devem se concentrar os mamógrafos a serem<br />
disponibilizados à população. A fim de identificar se houve aumento da oferta de mamógrafos, o governo<br />
7
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
coletará dados sobre o número de mamógrafos por 100 mil mulheres, ou seja, este é um dos indicadores<br />
utilizados para avaliar se houve aumento da oferta deste equipamento à população, como preconiza o<br />
programa.<br />
Que tipo de informação as associações podem procurar? Elas podem procurar informações dos pacientes sobre<br />
as dificuldades no acesso aos mamógrafos, a fim de identificar possíveis falhas no sistema de saúde observados<br />
em suas localidades. Assim, enquanto o governo está coletando dados agregados quantitativos, as associações<br />
podem obter informações qualitativas sobre as dificuldades enfrentadas pelas pacientes no acesso ao<br />
diagnóstico.<br />
Esses dados podem ser usados em seminários com presença de representantes do governo, em audiências<br />
públicas ou reuniões e, em meios de divulgação para informar a situação de saúde dos usuários em uma dada<br />
localidade. Em outro exemplo, os dados agregados do governo podem nos mostrar que o tempo entre o<br />
diagnóstico e o tratamento de câncer em uma localidade X é duas vezes maior que na localidade Y. Por que isso<br />
acontece? Embora seja uma informação importante, ela não terá muita utilidade se a causa não for investigada.<br />
Ao trabalhar proximamente aos pacientes, as associações de pacientes podem ajudar o governo a entender o<br />
motivo disso acontecer, fornecendo instrumentos para a melhoria da qualidade do serviço.<br />
2.3 Estudos de caso: Como as políticas públicas têm melhorado a vida de pacientes no Brasil<br />
Estudo de Caso 1: Programa Brasileiro de HIV/Aids<br />
O Programa Brasileiro de HIV/Aids representa um exemplo mundial de um programa plenamente instalado de<br />
acesso universal à terapia anti-retroviral em países em desenvolvimento. A implantação desse programa voltado<br />
ao acesso a terapias anti-retrovirais, em conjunto com políticas de prevenção, foi fundamental para a redução<br />
da morbi-mortalidade no país e constitui-se como um caso exemplar de política pública que trouxe um grande<br />
benefício a pacientes com a doença. Outro ponto importante é que as estratégias de combate à doença<br />
contaram com a participação integrada de segmentos organizados da sociedade, como associações de<br />
pacientes, governo federal, estadual e municípios e organismos internacionais. Este é um exemplo de política de<br />
inclusão dos direitos da população na agenda governamental, por meio da colaboração entre vários<br />
stakeholders.<br />
O primeiro caso de Aids no Brasil ocorreu em 1980 e logo se transformou em epidemia. A pesar do emprego de<br />
inibidores de transcriptase reversa no tratamento da Aids desde 1987, foi apenas em 1996, com a lei federal que<br />
instituiu a distribuição gratuita de medicamentos - terapia anti-retroviral de alta potência (HAART) - aos<br />
portadores de HIV e doentes de Aids, que que a mortalidade por Aids caiu vertiginosamente no país. Em 1995 a<br />
taxa de mortalidade por Aids havia atingido seu pico, cerca de 9,6 mortes por 100 mil habitantes. Já em 1999,<br />
apenas três anos após a lei, a taxa se reduziu para 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, com relativa estabilização<br />
das taxas de incidência.<br />
Vários fatores contribuíram para que o governo brasileiro elegesse o controle da epidemia de HIV como uma de<br />
suas prioridades:<br />
- O crescimento da doença em todo o mundo, pandemia em alguns países em desenvolvimento e a crescente<br />
preocupação de organismos internacionais e países desenvolvidos em relação ao controle da epidemia<br />
- O movimento da Reforma Sanitária no país na década de 1980, que colocou a saúde como um direito dos<br />
cidadãos e um dever do Estado, o que resultou na criação do SUS em 1990<br />
- O ativismo relacionado à Aids no Brasil, beneficiado pelo momento de reforma política, elaboração da nova<br />
Constituição, em 1988, restauração da democracia, anistia política e pelo retorno de diversos líderes políticos e<br />
asilados ao país<br />
- A cooperação entre entes governamentais, pesquisadores, ONGs e organismos internacionais, como a ONU e<br />
suas agências (Organização Mundial da Saúde e Unaids), e apoio financeiro do Banco Mundial<br />
8
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Em relação ao trabalho de organizações não governamentais, as primeiras ONGs surgiram na década de 1980, a<br />
exemplo da GAPA (Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS) e ABIA (Associação Brasilieira Interdisciplinar de AIDS),<br />
um observatório nacional de políticas relacionadas à HIV/Aids. A GAPA representa uma rede de apoio, criada no<br />
Estado de São Paulo em 1985 e hoje presente em vários estados brasileiros. Foi uma das primeiras no país a<br />
trabalhar com suporte emocional, treinamento em questões relacionadas à saúde para profissionais de saúde,<br />
distribuição de preservativos e informação sobre a doença. A ABIA, por outro lado, foi criada em 1987 por<br />
Herbert de Souza (Betinho), um conhecido ativista sobre direitos humanos para pessoas com HIV no país. O<br />
trabalho da ABIA tem como foco advocacy por meio de estudos, pesquisa e discussão política em relação ao<br />
acesso ao diagnóstico e tratamento, assim como defesa dos direitos humanos.<br />
É importante mencionar que muitas ONGs trabalham em parceria direta com o governo para oferecer<br />
aconselhamento, diagnóstico e informação a populações vulneráveis. Existe uma legislação específica com<br />
recomendações sobre o trabalho dessas ONGs, chamadas Casas de Apoio, incentivos financeiros e tipo de<br />
serviço que elas fornecem. No website do Ministério da Saúde para a Aids (www.aids.gov.br) é possível<br />
consultar a disponibilidade de 60 dessas ONGs que trabalham em parceria com o governo no âmbito do<br />
programa “Viva Melhor Sabendo”. Este programa foi criado em 2014 com o objetivo de oferecer diagnóstico<br />
ráipido por meio de um exame oral desenvolvido pela Fiocruz/Biomanguinhos. As ONGs atuam em parques,<br />
praças, bares e outras localidades onde se encontram populações vulneráveis e oferecem aconselhamento e<br />
teste diagnóstico da Aids, que fica pronto em 30 minutos.<br />
O caso do HIV/Aids é um exemplo de política pública criada por uma janela de oportunidade e em colaboração<br />
com ONGs e que ajudou a reduzir consideravelmente a mortalidade pela doença no país, além de reduzir o<br />
estigma associado à doença, melhorando a vida de pacientes e seus familiares.<br />
Estudo de Caso 2: Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (ANDI) no contexto da Política Nacional de<br />
Alimentação e Nutrição (PNAN) e Combate à Desnutrição Infantil<br />
O Programa de Combate à Desnutrição Infantil representa um marco nacional pelo impacto ocasionado na<br />
redução da mortalidade na faixa etária menor de um ano, por meio de uma solução de baixo custo para a<br />
desnutrição infantil. Além disso, é um estudo de caso importante pois se trata de um programa iniciado por uma<br />
organização não governamental e que se transformou em uma política pública nacional posteriormente, no<br />
âmbito do Ministério da Saúde. O monitoramento e demonstração do impacto da iniciativa foram fundamentais<br />
para sua disseminação e efetiva implantação em todo o território nacional.<br />
A iniciativa para o combate à desnutrição infantil começou em 1983, em uma reunião entre o diretor executivo<br />
da UNICEF e o atual arcebispo emérito de São Paulo, Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, em Genebra. James<br />
Grunt, então diretor da UNICEF, sugeriu a Dom Evaristo que fizesse algum trabalho no Brasil para combater a<br />
mortalidade infantil no Brasil. O bispo Dom Evaristo sugeriu, então, à Dra Zilda, que trabalhava como pediatra há<br />
25 anos, que criasse um projeto de combate à desnutrição e mortalidade infantil.<br />
Dra Zilda elaborou um projeto que contava com dois componentes:<br />
1 – O primeiro era relacionado à ação, propriamente, de redução da desnutrição: formas simples de combate à<br />
desnutrição, como disseminação do soro caseiro para combater a desidratação, uma das principais causas de<br />
morte entre crianças menores de 1 ano na época,<br />
2 – Metodologia de disseminação dessa ação: por meio de uma metodologia comunitária de multiplicação do<br />
conhecimento, Dra Zilda Arns recrutou inicialmente 20 mulheres para atuarem como voluntárias no<br />
mapeamento de mulheres e seus filhos abaixo de 6 anos, e na identificação de outros potenciais líderes. Ela<br />
criou folhetos educacionais, em linguagem acessível, para educar mães sobre a saúde e nutrição de seus filhos.<br />
9
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
O projeto piloto iniciou-se no município de Florestópolis (15 mil habitantes) no Estado do Paraná, à época com<br />
uma das maiores taxas de mortalidade infantil no Estado (127 mortes por 1000 nascidos vivos) 2 . Ele foi realizado<br />
no âmbito da igreja católica sob a denominação de Pastoral da Criança. Em 1991, menos de uma década após o<br />
programa se iniciar, a taxa de mortalidade infantil de Florestópolis se reduziu para 43,8 mortes por 1000<br />
nascidos vivos, de acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil de 2013.<br />
Após três anos de atividades, Dra Zilda Arns e sua equipe de voluntários visitaram comunidades onde o projeto<br />
havia tido sucesso e outros em que o programa não estava funcionando tão bem. Eles perceberam que os<br />
principais problemas incluíam:<br />
- Ausência de recursos para treinar lideranças,<br />
- Falta de comprometimento pelos coordenadores locais dos programas, relacionado à escassez de tempo<br />
Ao notar esses problemas, Dra Zilda Arns solicitou uma reunião individual com o presidente do então INAMPS<br />
(Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social) para apresentar o trabalho e solicitar auxílio<br />
financeiro para dar continuidade ao projeto. Dr. Ezio Cordeiro, presidente do INAMPS, enviou técnicos para<br />
avaliar o trabalho nas comunidades. Como a avaliação dos resultados já iniciada pela equipe da Dra. Zilda Arns<br />
era promissora e o custo do programa muito baixo (menos de US$ 1 por criança ao mês), em 1987 a Pastoral da<br />
Criança e o Ministério da Saúde assinaram um convênio. Nesta parceria, a Pastoral da Criança ofereceria os<br />
serviços de aconselhamento para as famílias e o Ministério da Saúde ajudaria com recursos financeiros. Neste<br />
mesmo ano outra fonte de recursos financeiros foi fundamental para a expansão do programa: o apoio oficial da<br />
Rede Globo de Televisão, por meio do programa Criança Esperança. Atualmente conta, ainda, com ajuda de<br />
empresas privadas e um percentual da renda obtida com as contaas de energia elétrica em alguns estados<br />
brasileiros.<br />
Em 1991 o Ministério da Saúde institucionalizou o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) como parte<br />
de seu plano de reorganização da atenção à saúde no Brasil. Como o trabalho da Pastoral da Criança também se<br />
baseava no suporte a lideranças comunitárias, seu trabalho teve continuidade no âmbito do PACS, com inteiro<br />
apoio institucional do Ministério da Saúde.<br />
De acordo com a própria Dra. Zilda Arns, em entrevista concedida em 2003, a participação comunitária foi a<br />
principal chave para o sucesso do programa. O monitoramento quantitativo e avaliação do programa também<br />
foram fundamentais para garantir estabilidade financeira e possibilitar sua disseminação. Esse monitoramento<br />
era realizado semanalmente por meio da avaliação do peso das crianças, ao mesmo tempo em que mães, avós e<br />
líderes comunitárias trocavam conhecimento e informação. Havia um sistema de informação próprio do<br />
programa, o que permitiu que os resultados fossem mensurados quantitativamente e, inclusive, publicados em<br />
artigos científicos e encontros com diversos stakeholders, como governo e outras organizações não<br />
governamentais, do Brasil e do mundo.<br />
Uma das chaves para o sucesso no recrutamento e manutenção de voluntários veio, segundo ela, pela<br />
valorização humana e pela rede de solidariedade criada, com encontros anuais para troca de experiências e<br />
fortalecimento dos vínculos e da rede. Em 1994 esse programa ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Este<br />
reconhecimento tornou possível a disseminação deste programa para outros países, além do Brasil.<br />
A iniciativa da Pastoral da Criança é um exemplo de como um programa com claro reconhecimento do problema<br />
e solução de baixo custo, além do engajamento comunitário e rigoroso processo de avaliação e monitoramento<br />
tornaram possível sua disseminação a nível nacional e internacional e suporte do Ministério da Saúde.<br />
2 Para se ter uma ideia da magnitude desse valor, a taxa de mortalidade infantil no Brasil em 2015 é de 13,8, e ainda acima de países como Japão, com uma<br />
taxa inferior a 3 óbitos por 1000 nascidos vivos.<br />
10
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
3. Vamos falar de Planejamento Estratégico<br />
Organizações não governamentais têm inúmeros desafios, que vão desde a sustentabilidade da organização até<br />
a solução de um problema de grande relevância local ou nacional. Se elas querem prosperar, sobreviver e fazer o<br />
bem precisam responder aos desafios que a situação apresenta. A resposta aos desafios pode ser a melhoria do<br />
que já tem sido feito, ou mudança do foco e estratégia de suas ações. Para tudo isso o planejamento é<br />
fundamental.<br />
De acordo com Bryson (2011), o planejamento estratégico é um processo que representa uma abordagem<br />
disciplinada para produzir decisões cruciais e ações destinadas a moldar e guiar o que uma organização é, faz,<br />
como faz e por quê faz. O planejamento pode ajudar as organizações não governamentais a aprender, pensar e<br />
agir estrategicamente.<br />
O planejamento estratégico utiliza-se de uma metodologia que descreve claramente os objetivos em relação às<br />
barreiras que se pretende superar, ou aos avanços que se quer fazer na associação. Basicamente, esse<br />
planejamento constitui-se de uma ferramenta usada para aproximar a equipe de trabalho do estado desejado<br />
no futuro tendo com base evidências de situações atuais. A figura abaixo ilustra os passos necessários para<br />
construção do planejamento estratégico:<br />
ESTADO/VISÃO DE<br />
FUTURO DESEJADO<br />
OBJETIVOS<br />
ESTRATÉGIAS<br />
TÁTICAS<br />
RECURSOS,<br />
RESPONSABILIDADES<br />
E PRAZOS<br />
O guia claro para<br />
escolha de<br />
objetivos<br />
Define o que você<br />
busca realizar<br />
numa perspectiva<br />
A abordagem que<br />
tomará para o<br />
alcance do objetivo<br />
As atividades, prazos, responsabilidades e<br />
recursos necessários para garantir planos<br />
factíveis e mensuráveis<br />
Esse passo-a-passo do processo de definição de um planejamento estratégico inicia-se com a definição de um<br />
problema relevante.<br />
Esses passos serão tratados um a um, começando pela identificação de evidências atuais, ou do problema a ser<br />
resolvido.<br />
11
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Passo 0<br />
Passo 1<br />
Passo 2<br />
Passo 3<br />
Passo 4<br />
IDENTIFICAÇÃO E<br />
PRIORIZAÇÃO DO<br />
PROBLEMA<br />
Estratégia 1.1<br />
Táticas 1.1.1<br />
...<br />
• Prazos<br />
• Responsabilidades<br />
• Recursos<br />
Necessários<br />
Objetivo 1<br />
Estratégia 1.2<br />
...<br />
ESTADO/VISÃO<br />
DESEJADO<br />
Objetivo 2<br />
...<br />
Estratégia 2.1<br />
...<br />
3.1. Como identificar o problema e priorizar um tópico<br />
Em geral, o processo de definição de questões prioritárias para uma organização tem início com a percepção do<br />
problema. Para que um problema possa efetivamente influenciar uma decisão, o problema deve ser passível de<br />
solução para o gestor.<br />
Por exemplo, no caso da obesidade, para que um gestor público consiga priorizar esse tópico na agenda pública,<br />
é preciso mostrar que essa condição não é apenas danosa ao indivíduo, pois não é possível legislar sobre o<br />
comportamento individual. Porém, ao definir a obesidade como um problema de saúde pública, é possível traçar<br />
intervenções com um enfoque na sociedade e direcionar o debate das soluções possíveis a um conjunto de<br />
fatores (mudanças comportamentais como o incentivo a hábitos de alimentação saudáveis, questões culturais e<br />
questões de ordem econômica, como a disponibilização de formas para que as pessoas tenham acesso ao que<br />
irá provocar a mudança, como oferta de produtos de alimentação ou espaços de lazer, além de questões<br />
regulatórias). O importante aqui é que fique claro que não importa a complexidade do problema, a clara<br />
definição do problema e suas causas é que irá direcionar o debate em torno das soluções possíveis para lidar<br />
com ele.<br />
A relevância de uma determinada condição pode ser identificada a partir de dois tipos de informações:<br />
<br />
Quantitativas: indicadores ou variáveis epidemiológicas e/ou de uso dos serviços de saúde. As principais<br />
variáveis ou indicadores que influenciam a relevância de um problema podem ser dadas por incidência,<br />
prevalência e mortes. A dimensão do problema pode ser dada ao se comparar essas medidas ao longo do<br />
tempo, entre sub grupos populacionais (diferentes grupos etários, população por nível socioeconômico,<br />
sexo, etc.) ou entre localidades distintas. Também podem ser usados para comparação de metas definidas<br />
por organizações nacionais internacionais, como Organização Mundial da Saúde.<br />
<br />
Qualitativas: as informações podem ser obtidas por meio de revisão de literatura, surveys, entrevistas,<br />
rodas de conversa, seminários, entre outros, com pacientes, população, profissionais de saúde e<br />
stakeholders envolvidos com a temática, além de documentos da política como boletins, informes,<br />
relatórios, notícias, entre outras fontes, que podem ou não englobar aspectos quantitativos para<br />
dimensionar o problema e, então, definir o que priorizar.<br />
12
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
3.2 Priorização de Problemas<br />
Ao observar o problema e compreender suas causas, o passo seguinte corresponde à definição do que priorizar<br />
entre tantas opções para um planejamento estratégico, tanto para eliminar barreiras quanto para o trabalho de<br />
advocacy. É necessário avaliar a relevância de um tópico sobre outros e sua aplicabilidade à realidade local.<br />
Muitas vezes, um determinado problema parece muito relevante, mas a solução não é viável economicamente<br />
ou não replicável ou adaptável ao contexto. A evidência de pesquisa é apenas um meio para priorização de um<br />
tema e definição de um planejamento, porém as partes interessadas podem acrescentar valor significativo aos<br />
processos, por meio de diálogos entre todos para a definição das alternativas existentes.<br />
Além da definição do problema e dos critérios para priorização, o trabalho de planejamento em advocacy, por<br />
exemplo, envolve a identificação das políticas em torno do tema. Vejamos alguns exemplos:<br />
PROBLEMA<br />
Alta prevalência e mortalidade por câncer de mama<br />
no país.<br />
- Não existe monitoramento da prevalência de<br />
câncer de mama no país e o sistema de informações<br />
sobre incidência (SISMAMA) computa apenas<br />
aquelas mulheres atendidas na rede ambulatorial do<br />
SUS diagnosticadas com a doença.<br />
Problemas no acesso ao diagnóstico precoce. Cerca<br />
de 40% das mulheres acima de 50 não fizeram<br />
mamografia em 2013, de acordo com a Pesquisa<br />
Nacional de Saúde do IBGE.<br />
Diretrizes para tratamento de câncer não estão<br />
sendo seguidas corretamente.<br />
POLÍTICA ASSOCIADA<br />
SISMAMA (Sistema de Informação do Câncer de<br />
Mama).<br />
Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama,<br />
que prevê disponibilização de mamógrafos em todo<br />
o território nacional.<br />
Lei dos 60 dias.<br />
A identificação das lacunas entre o problema encontrado e a política associada (a qual pode, também,<br />
apresentar lacunas em sua proposição) ajudará a identificar o estado futuro desejado.<br />
Uma vez identificado e priorizado o problema e realizada uma análise das condições atuais (estado corrente) do<br />
problema, o passo seguinte consiste em identificar a visão de futuro desejada. Essa visão descreve as condições<br />
ideais que se está tentando alcançar, considerando possibilidades factíveis para a solução deste problema<br />
(ambiente político, nível de suporte e engajamento, aspectos legais, cumprimento da lei dos 60 e 90 dias para<br />
diagnóstico e tratamento, questões éticas e<br />
financeiras, entre outras).<br />
A análise da lacuna entre o estado atual e o<br />
desejado irá ajudar a formulação dos objetivos. Ou<br />
seja, a análise da lacuna ajudará a definir o que é<br />
preciso ser feito para avançar em direção ao estado<br />
futuro desejado.<br />
DEFINIÇÃO<br />
DO OBJETIVO<br />
13
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
3.3 Definição de Objetivos<br />
A análise das lacunas entre o estado atual e o desejado ajudam a formular os objetivos do planejamento. Os<br />
objetivos definem como avançar em direção ao estado de futuro desejado. São eles que fazem a organização se<br />
aproximar do estado futuro desejado.<br />
É importante considerar a definição de objetivos como um processo contínuo de realizações provisórias a<br />
estados desejados. Neste sentido, é muito útil preparar um passo-a-passo que permite o alcance de pequenas<br />
realizações (metas) ao longo do caminho para alcançar o objetivo principal. Sequencie objetivos para garantir<br />
que objetivos intermediários sejam cumpridos, de modo a alcançar o objetivo final.<br />
Uma boa dica para avaliar se o objetivo traçado é um bom objetivo é o acrônimo SMART:<br />
Específico (Specific):<br />
Indique exatamente o que se pretende alcançar<br />
(Quem, O que, Onde, Por quê?)<br />
Mensurável (Measurable):<br />
Como você irá demonstrar e avaliar a medida para<br />
a qual o objetivo foi realizado?<br />
Alcançável (Achievable):<br />
Mire alto, mas faça com que seus objetivos sejam<br />
alcançáveis, factíveis.<br />
Relevante (Relevant):<br />
Como seus objetivos se encaixam dentro das<br />
responsabilidades das equipes e da missão da sua<br />
organização?<br />
Tempo limite (Time-bound):<br />
Estabeleça prazos/datas-limite factíveis para a<br />
implantação de estratégias e táticas e para o<br />
alcance dos objetivos.<br />
O checklist abaixo também ajuda a avaliar o objetivo:<br />
14
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Questões para confirmar se o objetivo está bem definido Sim Não<br />
Você possui evidências que sustentem o alcance dos objetivos? <br />
Você conhece e compreende os desafios? <br />
Você conhece as políticas e práticas que estão em vigor atualmente<br />
sobre a questão que pretende trabalhar?<br />
<br />
<br />
O objetivo desejado é executável? <br />
3.4 Definição de estratégias e táticas<br />
Uma vez definidos os objetivos, é necessário identificar a rota para se chegar até lá. As estratégias mostram os<br />
caminhos para se alcançar os objetivos, ou COMO chegar até seu objetivo. Por exemplo, vamos supor que um<br />
dos objetivos seja reduzir o tempo de espera por início do tratamento do câncer em 20% no município Y (para<br />
ter essa meta clara de redução, é necessário conhecer o tempo atual e ser realista quanto à meta). As<br />
estratégias utilizadas pelas associações de pacientes poderiam ser:<br />
1. Realizar estudo que mostre o impacto do início do tratamento em tempo hábil<br />
2. Mobilizar tomadores de decisão para a importância do tratamento oportuno<br />
As táticas, ou ações, por sua vez, referem-se às atividades que precisam ser realizadas para cada uma das<br />
estratégias, bem como a necessidade de recursos, e tempo necessário para sua realização. Para cada uma das<br />
estratégias acima, as táticas poderiam ser:<br />
Para estratégia 1:<br />
<br />
<br />
<br />
Realizar revisão de literatura sobre o efeito do tratamento em tempo hábil e como melhorar o diagnóstico<br />
para pessoas diagnosticadas com câncer<br />
Coletar dados com organizações afiliadas sobre o tempo em que os pacientes levam entre o diagnóstico e o<br />
início do tratamento<br />
Escrever um relatório com as evidências científicas obtidas da literatura e resultados obtidos com os<br />
pacientes<br />
Para estratégia 2:<br />
<br />
<br />
Preparar seminário com a presença de diversos stakeholders que atuam na defesa do tratamento em<br />
tempo hábil (médicos, pacientes) e representantes do governo<br />
Agendar reuniões individuais com tomadores de decisão para discutir barreiras no acesso ao tratamento<br />
oportuno<br />
Checklist de questões para confirmar se as estratégias estão alcançando os objetivos:<br />
15
ADEQUAÇÃO<br />
QUALIDADE<br />
ENGAJAMENTO<br />
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Questões para confirmar se as estratégias estão ajudam a alcançar o objetivo Sim Não<br />
A abordagem tem foco/ é específica? <br />
A abordagem está ligada à direção organizacional? <br />
Foi dada alta prioridade ao público de interesse? <br />
É possível que o resultado da abordagem (estratégia) seja tanto eficiente como eficaz? <br />
Poderiam os resultados da abordagem trazer políticas diferentes das políticas desejadas<br />
e/ou eliminar outras barreiras que não as definidas no plano?<br />
A sua abordagem é atingível e realista? <br />
Você se sente confortável em implementar sua abordagem? <br />
<br />
<br />
A abordagem é viável em termos de financiamento, esforço e pontualidade? <br />
A abordagem segue todas as leis apropriadas? <br />
A sua abordagem é mensurável e os progressos podem ser avaliados? <br />
Os stakeholders foram incluídos na abordagem? <br />
A sua abordagem envolve grupos que são capazes de lidar com as barreiras identificadas? <br />
Você estabeleceu o que será necessário para mover grupos relevantes adiante? <br />
A sua abordagem reduz a oposição à política? <br />
Será que a abordagem fará com que os stakeholders apoiem a política? <br />
Se a resposta a alguma dessas questões for “não”, considere a possibilidade de adaptar a estratégia. Após criar<br />
uma lista de potenciais estratégias, elas precisam ser avaliadas e as estratégias mais apropriadas devem ser<br />
selecionadas. É recomendável não selecionar mais de duas estratégias por objetivo, uma vez que será preciso<br />
preencher a lista de táticas, e considerar os recursos necessários para tal, além do tempo.<br />
Para cada tática/ação, é necessário determinar os seguintes elementos:<br />
1. Delegar responsabilidades: quem será o responsável por essa ação?<br />
2. Definir cronograma: quando esta ação deverá ser finalizada? Considere incluir eventos não esperados que,<br />
caso não ocorram, permitam que a ação seja finalizada antes do tempo programado.<br />
3. Defina os recursos necessários: quais são os recursos para completar essa ação?<br />
Vejam abaixo uma sugestão de template que pode ser utilizado para o planejamento estratégico, contendo o<br />
objetivo que se quer alcançar, o tipo de estratégia (intervenção) realizada, a meta ou resultados esperados. No<br />
quadro descrevemos as táticas ou o plano de ação detalhado, com atividades que devem ser feitas para a<br />
estratégia específica de forma a atingir os objetivos. Este modelo representa uma forma organizada de preparar<br />
o documento com os informes sobre o plano de ação.<br />
16
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Objetivo geral: Definir aqui a que se destina a política ou a barreira a ser eliminada<br />
Estratégia (ou objetivos específicos): Definir como se pretende alcançar o objetivo esperado<br />
Meta/Resultados esperados (opcional): Existe alguma meta a ser alcançada? O que se espera com essa<br />
eliminação da barreira e/ou política implementada?<br />
Objetivo Estratégia Tática/Ação Cronograma Responsabilidades<br />
Definir a que<br />
se destina a<br />
política ou a<br />
barreira<br />
eliminada<br />
Definir<br />
como se<br />
pretende<br />
alcançar o<br />
objetivo<br />
esperado<br />
1 TRI / 2 TRI / 3<br />
TRI/ 4 TRI (ANO)<br />
Qual a equipe<br />
responsável, setor,<br />
etc. Quem serão os<br />
responsáveis pela<br />
implementação do<br />
projeto?<br />
Recursos<br />
necessários<br />
Financeiro,<br />
tempo, humano,<br />
tecnologia, etc.<br />
Veja exemplo abaixo (para o caso de planejamento estratégico em advocacy):<br />
Objetivo geral: Reduzir o tempo de espera por início do tratamento do câncer em 20% no município Y<br />
Estratégias:<br />
1. Realizar estudo que mostre o impacto do início do tratamento em tempo hábil<br />
2. Mobilizar tomadores de decisão para a importância do tratamento oportuno<br />
Meta/Resultados esperados: Reduzir em cerca de 20% o tempo de espera para o tratamento do câncer até<br />
dezembro de 2017<br />
Estratégia Tática/Ação Cronograma Responsabilidades Recursos necessários<br />
Realizar estudo que<br />
mostre o impacto do<br />
início do tratamento<br />
em tempo hábil<br />
Realizar revisão de literatura<br />
sobre o efeito do tratamento<br />
em tempo hábil e como<br />
melhorar o diagnóstico para<br />
pessoas diagnosticadas com<br />
câncer<br />
Coletar dados com<br />
organizações afiliadas sobre o<br />
tempo em que as pacientes<br />
levam entre o diagnóstico e o<br />
início do tratamento<br />
Escrever um relatório com as<br />
evidências científicas obtidas<br />
da literatura e resultados<br />
obtidos com as pacientes<br />
3 TRI 2016<br />
4 TRI 2016<br />
1 TRI 2017<br />
- Equipe de pesquisa da<br />
associação<br />
Equipe de pesquisa da<br />
associação<br />
Equipe de pesquisa da<br />
associação<br />
- Recursos financeiros para<br />
impressão de relatório<br />
-Tempo de equipe para o<br />
desenvolvimento do trabalho<br />
e reunião com pacientes para<br />
engajamento<br />
- Computador<br />
- Telefone<br />
- Recursos financeiros para<br />
viagens<br />
- Tempo de equipe<br />
- Computador<br />
- Designer gráfico para arte<br />
final do relatório<br />
Mobilizar tomadores<br />
de decisão para a<br />
importância do<br />
tratamento oportuno<br />
Preparar seminário com a<br />
presença de diversos<br />
stakeholders que atuam na<br />
defesa do tratamento em<br />
tempo hábil (médicos,<br />
pacientes) e representantes do<br />
governo<br />
1/2 TRI 2017<br />
Equipe de comunicação e<br />
marketing da associação<br />
-Patrocínio para o local do<br />
evento e logística do dia do<br />
seminário (coffee break,<br />
material de apoio, data show)<br />
-Tempo da equipe para<br />
organização do seminário<br />
(preparação de convites<br />
Agendar reuniões individuais<br />
com tomadores de decisão<br />
para discutir barreiras no<br />
acesso a tratamento oportuno<br />
2 TRI 2017<br />
Presidente ou advogado da<br />
associação<br />
-Tempo da presidência e<br />
advogado<br />
-Passagens/transporte<br />
17
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Como as associações de pacientes podem dar suporte às ações do governo? Oferecendo informações, usando a<br />
sua expertise no trabalho com os pacientes para informar ao gestor sobre desafios específicos vividos por esses<br />
pacientes, soluções inovadoras em localidades onde se encontram os pacientes, caso existam, com campanhas<br />
educativas de mobilização da população e outros atores, além de pesquisas que subsidiem as decisões em<br />
saúde.<br />
3.5 Plano de Engajamento com stakeholders<br />
A análise de stakeholder é um processo de agregação e análise de informações qualitativas de pessoas ou<br />
organizações (stakeholders) com o objetivo de determinar os interesses a serem levados em consideração ao se<br />
implementar um programa ou promover a colaboração com diferentes atores sobre uma determinada política<br />
ou programa.<br />
No setor social, o stakeholder é também conhecido como “ator” ou “parte interessada”, e pode ser uma pessoa<br />
ou organização, que tenha interesse ou sinergia com o trabalho realizado pelas associações de pacientes, por<br />
exemplo, ou que tenha conexão com a missão da associação. Eles podem ser agrupados nas seguintes<br />
categorias: pacientes, consumidores, organizações ou representantes da sociedade civil, grupos políticos,<br />
hospitais, jornalistas, acadêmicos, setor privado (empresa, associações de classe), influenciadores em geral,<br />
dentre outros.<br />
A análise de stakeholder é fundamental para o trabalho das associações. Ao compreender quem são os atores e<br />
o conhecimento que eles possuem sobre determinado tópico, além de seus interesses, posicionamentos,<br />
alianças e sua importância em relação à missão da organização ou alguma atividade, é possível interagir de<br />
forma mais efetiva para aumentar o nível de suporte a uma determinada ação.<br />
Por exemplo, antes de iniciar um projeto, a associação pode conduzir a análise de stakeholder para agir de<br />
forma preventiva a uma potencial oposição à implementação desse projeto ou defesa de uma determinada<br />
causa. A ação terá mais chances de ser bem-sucedida se os atores forem mapeados para facilitar a união de<br />
forças ou se preparar para uma eventual má interpretação da atividade. Além disso, o uso apropriado da análise<br />
de stakeholder pode ajudar a moldar questões de forma que as atividades sejam tecnicamente e politicamente<br />
viáveis, defensáveis legalmente e moralmente, e que possam criar valor e avançar em direção a um bem<br />
comum. A análise de stakeholder também é muito útil em conjunto com o planejamento estratégico da<br />
organização ou planejamento de alguma atividade.<br />
O primeiro passo para a condução da análise de stakeholder refere-se à definição da proposta da análise, ou<br />
seja, a que fim ela serve. Vejamos dois exemplos abaixo:<br />
18
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Objetivo<br />
Realizar campanha de conscientização da<br />
população sobre determinada doença e<br />
tratamentos possíveis/disponíveis<br />
Defender a efetiva implantação de uma política de<br />
saúde destinada a melhorar a vida dos pacientes<br />
Tipo de stakeholder<br />
- Grupos de pacientes,<br />
- Imprensa,<br />
- Patrocinadores conectados à causa,<br />
- Pessoas de influência (celebridades,<br />
blogueiros, etc, pessoas que possam dar<br />
visibilidade à causa).<br />
- Associações de classe (ex.: médicos),<br />
- Grupos de pacientes,<br />
- Sociedade civil,<br />
- Representantes do poder executivo,<br />
- Representantes do poder legislativo,<br />
- Ministério Público,<br />
- Políticos defensores da causa.<br />
Para cada um dos tipos de stakeholders listados na coluna à direita, é necessário realizar o mapeamento das<br />
lideranças. Existe uma ampla gama de metodologias de análise de stakeholder 3 :<br />
1) Técnica Básica<br />
Consiste, minimamente, de três passos:<br />
A – Identificar exatamente quem são os stakeholders mais importantes/influentes. No setor governamental, por<br />
exemplo, existem diversos tipos de stakeholders (técnicos, influenciadores, tomadores de decisão, sindicatos,<br />
cidadãos, conselheiros, políticos, legisladores, entre outros). E, assim como no governo, em qualquer<br />
organização existem grupos que agem a favor e contra determinada política/programa ou grupo, que luta por<br />
recursos próprios e atenção. A maior proposta da análise de stakeholder é ter uma visão clara de quem são<br />
essas pessoas ou grupos.<br />
B – Especificar quais os critérios que os stakeholders utilizam para mensurar o desempenho da organização.<br />
Existem duas formas: uma seria tentar “adivinhar” qual o critério, com base em depoimentos, entrevistas,<br />
análise da área, ou seja, por meio de evidências coletadas indiretamente. O outro seria realizar uma entrevista<br />
com os stakeholders a fim de perguntar-lhes, por meio de questionários, entrevistas, discussões em grupo ou<br />
seminários.<br />
C - Fazer um julgamento sobre o desempenho da organização frente às expectativas dos stakeholders, ou seja,<br />
como esses atores vêem a organização ou qual o nível de suporte às atividades que realizam. A análise não<br />
precisa ser sofisticada. Categorias como: bem avaliada, médio ou mal avaliada são suficientes para a discussão<br />
interna. Os tópicos da discussão podem incluir as forças e fraquezas da organização frente aos interesses dos<br />
stakeholders (conectados à missão ou atividade a que a discussão encerra), hiatos, conflitos, sobreposição de<br />
atividades, contradições, oportunidades, desafios e ameaças do desempenho da organização frente aos atores<br />
mapeados e sua influência.<br />
É importante notar aqui que a análise de stakeholder faz com que os membros da associação se coloquem no<br />
lugar do outro, o que permite ter uma visão mais racional (e menos passional) de seu próprio desempenho, sob<br />
o ponto de vista do outro. Exemplo: uma associação de paciente pode supor que está realizando um ótimo<br />
trabalho de advocacy. Ao realizar a análise de stakeholder ela pode ficar ciente de que tem encontrado muita<br />
resistência por parte do governo pela forma como se posiciona diante do assunto, de uma maneira que cria<br />
3 Bryson (2011).<br />
19
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
conflitos mais que sinergias e colaboração. Logo, a análise de stakeholder pode ser muito útil na elaboração de<br />
uma análise SWOT, tanto da associação como um todo quanto de alguma ação específica.<br />
A esses três passos podem se unir outros, como a definição clara de como cada stakeholder influencia a<br />
organização, o que se espera e o que irá ser demandado deles (quando for este o caso). As duas próximas<br />
técnicas elucidam esse ponto.<br />
2) Grade de interesses X poder de influência<br />
O diagrama de interesses X poder de influência organiza os stakeholders de acordo com seu interesse e poder de<br />
influência na organização ou na questão que está sendo analisada (ex.: uma campanha, planejamento<br />
estratégico, pesquisa, um programa, etc.). Ele é feito em uma matriz 2X2 como se vê abaixo:<br />
Fonte: Bryson (2011)<br />
Os stakeholders do quadrante 1 são aqueles que têm capacidade para se envolver e apoiar a<br />
organização/atividade, mas pouco poder para influenciá-la. No quadrante 2 estão aqueles a quem se aconselha<br />
o estabelecimento de um contato mais próximo, pois eles têm alto potencial para afetar o planejamento ou<br />
atividade. O quadrante 3 envolve os atores com pouca influência e poder, mas que podem ser monitorados a<br />
fim de verificar uma potencial mudança na dinâmica das relações. O quadrante 4 compreende atores que<br />
podem se engajar na organização ou na atividade, mas em algum ponto específico do projeto.<br />
Este diagrama é muito útil para determinar quais interesses e poder devem ser levados em consideração em<br />
cada etapa da atividade ou momento/esfera da organização. Além disso, ele ajuda a identificar possíveis<br />
coalizões entre vários stakeholders, o que pode ser de grande importância para avaliar os riscos da atividade ou<br />
planejamento. Esse diagrama pode, então, ser usado para mostrar a ordem de influência e conexão entre os<br />
diversos stakeholders e como eles podem ajudar a avançar o propósito da organização.<br />
3.5.1 Ciclo político e seus estágios<br />
A identificação correta de stakeholders é muito importante para as organizações, pois eles são elementos chave<br />
para dar suporte às ações da associação. Para que seja possível identificar e selecionar stakeholders relevantes,<br />
um primeiro passo consiste em identificar a fase do processo político na qual se encontra a missão da<br />
associação.<br />
20
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
A Figura 2 representa as duas fases do processo de desenvolvimento de políticas e os seus diferentes passos. São<br />
eles:<br />
1) Agenda política: consiste em seis passos que mostram a evolução do consenso em torno de um problema<br />
ou solução política<br />
2) Direcionando as ações: correspondem a quatro passos relacionados ao engajamento político. Estes passos<br />
levam ao desenvolvimento e implementação de políticas públicas.<br />
Figura 2: O ciclo político*<br />
*Corresponde à clássica ilustração do processo político baseado no modelo “Role in Policy Influencing” de uma adaptação de Judy Shamian’s à política<br />
pública de Alvin Tarlov’s, de 1999, voltada à melhoria da saúde da população.<br />
A missão da organização pode estar conectada a cada um dos passos, ou a mais de um deles. O quadro abaixo<br />
fornece uma explicação sobre a racionalidade por trás de cada estágio do ciclo político e exemplos de sua<br />
relação com a missão das associações.<br />
Passos Descrição Exemplo<br />
1.Valores e crenças<br />
Qualquer atividade que tenha como foco<br />
questões de políticas públicas devem estar<br />
ancoradas em um conjunto de valores. Este<br />
estágio do processo envolve a identificação,<br />
articulação e validação de valores básicos<br />
essenciais no processo de política. Os valores<br />
podem ser definidos como um conjunto de<br />
características ou preferências da organização<br />
que determina a forma como ela se comporta<br />
e se articula com outras organizações e/ou<br />
indivíduos. A crença é o estado psicológico em<br />
que uma pessoa define uma proposição ou<br />
premissa como verdadeira.<br />
Uma associação que defende que as pessoas<br />
precisam ter acesso a serviço de qualidade e<br />
em tempo oportuno está ancorada em valores<br />
e crenças fundamentais de direitos humanos.<br />
21
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Passos Descrição Exemplo<br />
2.Problemas ou<br />
questões<br />
emergentes<br />
3.Desenvolvimento<br />
do conhecimento e<br />
definição de<br />
prioridades de<br />
pesquisa<br />
4.Disseminação de<br />
conhecimento<br />
5.Conscientização<br />
pública<br />
Neste estágio, um problema é identificado e<br />
examinado. O problema ou questão se torna<br />
visível, ganha relevância pública, e toma o<br />
sentido de urgência que resulta em desejo<br />
político para o apoio a determinada política.<br />
A evidência é construída ou compilada para<br />
apoiar a questão que está sendo discutida.<br />
Pesquisa contínua e descobertas ajudam a<br />
fortalecer a direção da política na área da<br />
saúde. A evidência deve ter relevância,<br />
credibilidade e utilidade.<br />
Este estágio envolve a comunicação efetiva e<br />
intensa discussão sobre uma questão ou<br />
tópico em particular. O uso da evidência ou<br />
de dados é necessário para criar mensagens<br />
de alinhamento e que estimulem uma<br />
comunicação articulada, facilmente<br />
disseminada e repetida.<br />
Este estágio tem como foco a criação de uma<br />
ampla conscientização tanto do problema<br />
quanto das estratégias para solucioná-lo.<br />
Todos os potenciais stakeholders - ou grupo<br />
de stakeholders - devem ser convocados e,<br />
idealmente, a mensgem deve ser customizada<br />
para cada grupo. Criar situações de ganhos<br />
para ambas as partes é um dos principais<br />
objetivos deste estágio. Além disso, diferentes<br />
meios de comunicação podem ser acessados,<br />
como websites, jornais locais, redes sociais,<br />
entre outros.<br />
A associação identifica um problema quando<br />
ela percebe que existe uma lacuna entre o que<br />
se deseja e o que se é oferecido. Por exemplo,<br />
ao dizer que a vontade de criar uma associação<br />
surgiu após a identificação dos altos índices de<br />
mortalidade por câncer, o que notou não<br />
existirem protocolos de tratamento para<br />
determinados tipos de câncer, ela identificou o<br />
problema. Se a associação conseguiu dar<br />
visibilidade a essas questões por meio de<br />
estratégias, teve o aporte necessário de<br />
recursos e foi capaz de mobilizar stakeholders<br />
para essa causa, então pode-se dizer que ela é<br />
capaz de influenciar esse estágio político.<br />
A associação influencia esse estágio se ela<br />
desenvolve estudos inovadores baseados em<br />
dados próprios ou do governo, compila<br />
informações de trabalhos de pesquisa ou<br />
outros relatórios e monitora o trabalho de sua<br />
organização e das políticas públicas.<br />
Neste estágio a associação compartilha os<br />
resultados de sua pesquisa, seu trabalho e<br />
lições aprendidas por meio de vídeos, press<br />
releases, e outras formas de comunicação (TV,<br />
rádio, panfletos, cartazes, materiais gráficos,<br />
mala direta, telemarketing, site, portal, revista,<br />
jornal, email, newsletter, facebook, twitter,<br />
instagram, youtube, etc.) para stakeholders<br />
importantes à associação.<br />
Realização de campanhas com o público e com<br />
stakeholders para divulgar o conhecimento<br />
sobre determinado problema, ou para apontar<br />
possíveis soluções são características das<br />
associações que influenciam esse estágio<br />
político.<br />
22
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Passos Descrição Exemplo<br />
6.Filtragem da<br />
evidência e<br />
amplificação<br />
Filtrar e amplificar refere-se à seleção de<br />
partes da evidência para difusão a tomadores<br />
de decisão. Envolve a tradução de<br />
descobertas de pesquisa primária em recursos<br />
que podem ser usados para melhorar a saúde.<br />
Neste estágio, as organizações podem decidir<br />
filtrar parte da pesquisa e traduzi-las em<br />
mensagens políticas para, então, amplificá-la<br />
para influenciar os tomadores de decisão. Em<br />
geral, o trabalho das associações de pacientes<br />
ou outros grupos que trabalham em defesa de<br />
políticas públicas têm grande foco nesse<br />
estágio.<br />
A associação participa desse estágio se ela<br />
utiliza evidências para organizar seminários,<br />
workshops, fóruns e outros tipos de eventos<br />
para tomadores de decisão e/ou seus<br />
influenciadores.<br />
7.Engajamento<br />
político<br />
8.Ativação dos<br />
grupos de<br />
interesse<br />
9.Deliberação e<br />
aprovação da<br />
política pública<br />
Para que um problema se transforme em ação<br />
e entre na agenda política, o engajamento<br />
político é essencial. O engajamento político<br />
impulsiona uma questão do ponto em que ela<br />
é apenas uma questão para o ponto em que<br />
se torna uma questão inserida na agenda dos<br />
tomadores de decisão.<br />
Grupos de interesse são stakeholders<br />
importantes pela influência que podem<br />
exercer na política. Neste estágio, os<br />
stakeholders se envolvem em uma dada<br />
questão política. Isto oferece uma<br />
oportunidade para trazer a questão à tona,<br />
assim como identificar potenciais soluções,<br />
apresentá-las para a sociedade e tomadores<br />
de decisão por meio de outros canais.<br />
Quando há apoio suficiente para uma questão<br />
de interesse, a deliberação política começa<br />
entre os representantes do governo e<br />
tomadores de decisão. As soluções potenciais<br />
e formulações políticas são discutidas e<br />
deliberadas. Neste estágio, para que a<br />
intenção política se torne realidade, a política<br />
deve atender aos seguintes critérios:<br />
viabilidade técnica, aceitabilidade dentro da<br />
comunidade política, custo aceitável, e<br />
anuência antecipada da população. As<br />
discussões são seguidas da implantação da<br />
política por meio de votos, leis, regulações ou<br />
ordens executivas. Durante esse estágio do<br />
processo, a proposta se torna uma lei,<br />
regulação, ou outro tipo de instrumento<br />
político.<br />
A associação é capaz de influenciar esse<br />
estágio quando ela diz que tem<br />
representatividade em conselhos de saúde<br />
(locais, regionais ou nacional) e consegue<br />
endereçar as demandas; se atua em conjunto<br />
com o poder público em ações que visem<br />
melhorar a vida do paciente; se possui um<br />
diálogo aberto e constante com os tomadores<br />
de decisão para a colaboração em decisões que<br />
beneficiem os pacientes a quem eles apoiam.<br />
Por exemplo, ao unir diferentes stakeholders<br />
em um único evento para discutir um<br />
problema em conjunto, ou ao liderar outros<br />
grupos de associações ou estabelecer uma<br />
rede, pode-se dizer que a associação tem<br />
influência nesse estágio.<br />
A associação é capaz de influenciar esse<br />
estágio se ela tem um papel fundamental na<br />
decisão ou adoção de uma determinada<br />
política, e/ou se ela possui voto em<br />
determinado conselho que irá decidir sobre<br />
uma política específica.<br />
23
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
10.Experiência em<br />
regulação e revisão<br />
Neste estágio, a política é implementada e<br />
seu impacto avaliado. Como questões<br />
específicas ocorrem durante a<br />
implementação, a política pode necessitar de<br />
revisões para alcançar os objetivos propostos.<br />
A associação é convidada a deliberar sobre<br />
uma decisão política, e participa ativamente da<br />
discussão sobre mudança no curso das políticas<br />
existentes, e suas demandas são consideradas<br />
como parte desse processo.<br />
Dependendo do estágio do ciclo político em que a missão da organização se encontra, diferentes tipos de<br />
stakeholders podem ser vislumbrados. O quadro abaixo fornece uma seleção de stakeholders do Brasil, por tipo<br />
de stakeholder, nível de envolvimento nas políticas públicas e quais estágios do ciclo político eles são capazes de<br />
influenciar. Ao identificar o estágio político no qual a associação se enquadra, é possível identificar stakeholders<br />
conectados à sua missão.<br />
3.5.2 Tipos e exemplos de stakeholders relevantes nos estágios do Ciclo Político<br />
Tipo de<br />
stakeholder<br />
Tomadores de<br />
decisão nacionais<br />
e representantes<br />
do poder<br />
legislativo<br />
Tomadores de<br />
decisão e<br />
representantes<br />
do poder<br />
executivo<br />
Tomadores de<br />
decisão globais<br />
ou membros de<br />
organizações<br />
supranacionais<br />
Stakeholders oficialmente envolvidos,<br />
fundamentais e ativos em defesa<br />
direta da saúde<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Examplos para o Brasil<br />
Presidente, Câmara de Deputados<br />
ou Vereadores<br />
Presidente, Comissão da<br />
Seguridade Social e Família (CSSF),<br />
Comissão Mista de Orçamento<br />
(CMO), Senado e Câmara dos<br />
Deputados, ou presidentes de<br />
comissões locais da área de<br />
interesse,<br />
Líderes de partidos políticos<br />
nacionais, regionais ou locais<br />
Comissão Nacional de<br />
Incorporação de Tecnologias no<br />
SUS (CONITEC)<br />
Agência Nacional de Vigilância<br />
Sanitária (ANVISA)<br />
Secretaria de Ciência, Tecnologia<br />
e Insumos Estratégicos<br />
(SCTIE/Ministério da Saúde)<br />
Departamento de Gestão da<br />
Educação na Saúde<br />
(DEGES/Ministério da Saúde)<br />
Fundo Nacional de Saúde<br />
Organização Mundial da Saúde<br />
(OMS)<br />
Organização Panamericana de<br />
Saúde (OPAS)<br />
União de Nações Sul-Americanas<br />
(UNASUL)<br />
Mercado Comum do Sul<br />
(MERCOSUL)<br />
Stakeholders parcialmente<br />
envolvidos, interessados e um pouco<br />
menos ativos em defesa direta da<br />
saúde<br />
Membros do senado, câmara<br />
dos deputados e vereadores, ou<br />
membros de comissões<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Agência Nacional de Saúde<br />
Suplmentar (ANS)<br />
Banco Nacional para o<br />
Desenvolvimento Econômico e<br />
Social (BNDES)<br />
Conselho Nacional, Estadual e<br />
Municipal de Saúde<br />
Banco Mudial<br />
Banco Interamericano de<br />
Desenvolvimento (BID)<br />
Estágios no<br />
ciclo político<br />
que eles<br />
influenciam<br />
3, 5, 7, 9, 10<br />
1, 3, 5, 7, 8, 9,<br />
10<br />
1, 2, 3, 4, 5, 6,<br />
8, 9<br />
24
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Tipo de<br />
stakeholder<br />
Lideranças e<br />
outros membros<br />
de sociedades<br />
médicas<br />
Pesquisadores e<br />
academia<br />
Lideranças<br />
mundiais e<br />
outros membros<br />
de organização<br />
em defesa dos<br />
pacientes com<br />
parceiros<br />
<br />
Stakeholders oficialmente envolvidos,<br />
fundamentais e ativos em defesa<br />
direta da saúde<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Examplos para o Brasil<br />
Sociedades médicas, como:<br />
o Sociedade Brasileira de<br />
Oncologia Clínica (SBOC)<br />
o Sociedade Brasileira de<br />
Oncologia (SBC)<br />
o Sociedade Brasileira de<br />
Oncologia Pediátrica (SOBOPE)<br />
Instituto Nacional do Câncer (INCA)<br />
Instituto do Câncer do Estado de<br />
São Paulo (ICESP)<br />
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)<br />
Instituições que fazem parte da<br />
Rede Brasileira de Avaliação de<br />
Tecnologias em Saúde (REBRATS)<br />
Universidades Brasileiras<br />
UICC (Union for International<br />
Cancer Control)<br />
ACS (American Cancer Society)<br />
ULACCAN (União Latino-<br />
Americana Contra o Câncer da<br />
Mulher)<br />
Susan G. Komen<br />
IAPO (International Alliance of<br />
Patients' Organizations)<br />
Alianza Latina<br />
Stakeholders parcialmente<br />
envolvidos, interessados e um pouco<br />
menos ativos em defesa direta da<br />
saúde<br />
Sociedade Brasileira de<br />
Enfermagem Oncológica (SBEO)<br />
Sociedade Brasileira de<br />
Radioterapia (SBRT)<br />
Sociedade Brasileira de Psico-<br />
Oncologia (SBPO)<br />
Sociedade Brasileira de<br />
Psicologia Oncológica (SBRAPO)<br />
Associação Brasileira<br />
Multiprofissional em Oncologia<br />
(SBRAMO)<br />
Associação Brasileira de<br />
Oncologia Ortopédica (ABOO)<br />
Sociedade Brasileira de<br />
Hematologia (SBHH)<br />
Rede do Câncer<br />
Fundação do Câncer<br />
Estágios no<br />
ciclo político<br />
que eles<br />
influenciam<br />
2, 3, 4, 6, 9<br />
2, 3, 4<br />
1, 2, 3, 4, 5, 6,<br />
7, 8<br />
3.6 Como elaborar um Plano de Engajamento?<br />
Após a análise de stakeholder e identificação do estágio na agenda política que a associação pretende atuar, a<br />
informação pode ser usada para criar um plano de engajamento com os diferentes atores mapeados. Esse plano<br />
pode ser relacionado à comunicação estratégica, atividades de advocacy, seminários, workshops, diálogos<br />
deliberativos para obtenção de consenso em torno de determinado tópico ou sobre a organização em si, entre<br />
outros.<br />
Os seguintes passos ajudam a definir o plano de engajamento. Veja o passo-a-passo para ajudá-lo a preparar seu<br />
plano.<br />
25
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
1) Definir o objetivo do engajamento<br />
2) Definir cenários potenciais para esse objetivo: é preciso entender claramente os diferentes cenários<br />
possíveis, a fim de identificar opções de enfrentamento de cada um deles e ter respostas e argumentos<br />
antes desse engajamento acontecer<br />
3) Determinar questões chave e mensagens a serem discutidas durante o engajamento:<br />
o Parceria com a equipe de comunicação da associação é essencial<br />
o Cada mensagem deve ser acompanhada de dados/evidências científicas para dar consistência e<br />
credibilidade à mensagem<br />
o As mensagens precisam ser adaptadas aos públicos específicos e aos tipos de decisões que influenciam<br />
(econômicas, sociais, políticas)<br />
o As mensagens podem ser construídas para um ou mais dos nove elementos que influenciam o<br />
processo de tomada de decisão: custo-efetividade, priorização, financiamento/orçamento, preço,<br />
decisões políticas, importância da doença (para a saúde, para a economia), recomendações das<br />
organizações supranacionais, considerações éticas e, complexidade da implantação.<br />
4) Analisar os stakeholders para engajamento<br />
5) Monitorar e atualizar as informações: as seguintes questões ajudam a monitorar a implantação do plano<br />
de engajamento de stakeholder<br />
o Os resultados intermediários foram alcançados? Quais?<br />
o Para os resultados intermediários que ainda não foram alcançados, o que é necessário para que sejam<br />
plenamente realizados?<br />
o Os seus objetivos ou resultados intermediários foram modificados?<br />
o Os cenários criados são válidos e razoáveis?<br />
o As prioridades foram identificadas e corresponderam aos objetivos?<br />
o Que tipo de informação está faltando e como você pode obtê-la?<br />
o Como tem sido a reação às mensagens previamente definidas e suas evidências? Há necessidade de<br />
revisá-las?<br />
o Há algum stakeholder mais fácil ou mais difícil de engajar? Se sim, considere reformular sua lista de<br />
stakeholders, o cronograma, local de engajamento ou a pessoa que será responsável por entrar em<br />
contato com esse stakeholder.<br />
26
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Dicas para o engajamento com tomadores de decisão:<br />
1) Faça contato<br />
O primeiro passo para a construção de relacionamento com stakeholders é estabelecer o contato. Use<br />
o passo-a-passo de como identificar stakeholders e estabelecer um plano de engajamento, promova<br />
encontros e convide-os para eventos. Crie oportunidades para que eles façam perguntas, dêem<br />
testemunhos e levantem questões pertinentes ao assunto. Documente e use essas respostas para<br />
melhorar as estratégias para o engajamento efetivo dos stakeholders.<br />
2) Seja visível na comunidade<br />
Organize eventos e foruns para educar e engajar diferentes tipos de stakeholders. Isso expandirá sua<br />
rede de contatos, além de dar visibilidade à sua organização e causa. Seja transparente com seus<br />
propósitos e aberto ao diálogo.<br />
3) Dissemine materiais, compartilhe informações<br />
Materiais informativos e pesquisas inéditas são um componente importante do engajamento. Muitas<br />
áreas técnicas do governo se alimentam de dados fornecidos por outras instituições, como<br />
universidades e organizações não governamentais que se dedicam a pesquisa. Produza dados,<br />
transforme-os em informação e dê visibilidade, use a mídia para disseminá-los. Dessa forma o<br />
conhecimento gerado por sua organização se tornará uma fonte de consulta permanente. Isso<br />
facilitará um primeiro contato e contínuo engajamento.<br />
4) Fique atento a editais do governo<br />
Editais como o PRONON e outros editais de financiamento de eventos, por exemplo, representam<br />
uma boa oportunidade de estabelecer contato e parceria contínua com o governo. Fique atento a<br />
eles.<br />
5) Monitore os stakeholders e suas opiniões<br />
É importante que, ao estabelecer um contato com os stakeholders, a opinião deles sobre<br />
determinado tópico de interesse esteja muito clara. Dessa forma você poderá evitar um possível<br />
desalinhamento de expectativas, o que poderia colocar essa parceria em risco.<br />
6) Aprenda com os outros<br />
Faça networking com outras associações de pacientes ou outros grupos que tenham um contato<br />
próximo com o governo, imprensa, associações de classe, enfim, os stakeholders de seu interesse.<br />
Entenda como funciona essa parceria, o que se discute, quais as estratégias utilizadas para o<br />
engajamento. O engajamento com outros colegas pode oferecer uma das melhores formas de<br />
aprendizado.<br />
27
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Template para o Plano de Engajamento de Stakeholders<br />
TÓPICO DE INTERESSE:<br />
Que tipo de política você quer influenciar? Financiamento para determinada ação, inclusão de medicamentos, aumento<br />
da oferta de serviços, melhoria no acesso, entre outros.<br />
Que tipo de barreira você quer eliminar? Priorização do paciente com câcer nos sistemas de saúde, conhecimento do<br />
paciente com relação à patologia, prevenção, diagnóstico e tratamento, qualidade de vida do paciente durante e após o<br />
tratamento, sustentabilidade financeira da organização, levantamento de evidências, entre outros.<br />
Objetivo:<br />
Qual o objetivo desse engajamento?<br />
Cenários potenciais do objetivo:<br />
Melhor cenário<br />
Descreva o melhor cenário possível do que se espera com esse engajamento com os<br />
stakeholders<br />
Cenário positivo<br />
Cenário neutro<br />
Cenário negativo<br />
Descreva um cenário positivo esperado para esse engajamento<br />
Descreva um cenário neutro, onde o engajamento não se concretiza, porém não<br />
influencia negativamente o resultado<br />
Descreva um cenário negativo possível para esse engajamento<br />
Pior cenário<br />
Descreva o que poderia acontecer de pior nesse engajamento com stakeholders<br />
Questões chave e mensagens (a serem discutidas durante o engajamento e voltadas à realização do objetivo):<br />
1 4<br />
2 5<br />
3 6<br />
Avaliação de stakeholders-chave:<br />
Stakeholder<br />
Em que<br />
momento<br />
do<br />
processo<br />
ele atua?<br />
Qual o<br />
nível de<br />
apoio?<br />
O quão<br />
afetado ele<br />
é pelo<br />
plano?<br />
Quão<br />
influente é o<br />
stakeholder?<br />
Questões<br />
chave e<br />
mensagens<br />
específicas<br />
a esse<br />
stakeholder<br />
Quem, da<br />
equipe,<br />
deveria<br />
entrar em<br />
contato<br />
com o<br />
stakeholder<br />
Quando/onde<br />
se engajar<br />
28
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Um exemplo de engajamento bem-sucedido para solucionar um problema de saúde:<br />
Em 2002, uma professora universitária da área de nutrição decidiu promover uma ação para reduzir a obesidade<br />
de crianças em idade escolar em uma cidade dos Estados Unidos. Ela decidiu unir diferentes atores, como<br />
governo, educadores, empresários, organizações sem fins lucrativos e cidadãos para definir práticas de<br />
promoção de bem-estar e prevenção de obesidade. Atores foram mapeados e sua importância definida (poder e<br />
interesse) para realizar o plano de engajamento. O objetivo era oferecer alimentação mais saudável nas escolas,<br />
ensinar nutrição básica e promover atividade física. Como as escolas eram parte do plano, os educadores e os<br />
representantes da escola eram stakeholders com alto nível de influência e poder para promover a mudança<br />
(quadrante 1). Os empresários, principalmente do ramo alimentício, tinham grande interesse, mas pouco poder<br />
para promover a mudança (quadrante 2), apesar de nunca terem sido engajados para ofertar alimentos mais<br />
saudáveis. Além disso, os restaurantes locais passaram a receber certificação caso servissem alimentos com<br />
baixo teor de gordura e alto nível de nutrientes. Associações de classe das empresas também se uniram para<br />
oferecer incentivos, como redução do valor da filiação a centros esportivos para mudança dos hábitos de vida. O<br />
governo também se uniu à causa ao reformar as calçadas para incentivar as crianças a irem a pé para a escola.<br />
Este é um exemplo de um objetivo bem definido (reduzir a obesidade de crianças na escola), análise de<br />
stakeholders, seus interesses e poderes, e plano de engajamento de todos eles, de forma a promover uma<br />
colaboração onde todos ganhariam. O resultado foi uma redução no IMC das crianças do município entre 2002 e<br />
2005.<br />
Este caso ilustra o exemplo de um engajamento de todos os stakeholders em nível municipal para um objetivo<br />
em comum. Tomadores de decisão regionais ou nacionais também poderiam ser consultados para expandir o<br />
plano a um outro nível. Um exemplo foi a Pastoral da Criança, de Zilda Arns, um estudo de caso que será<br />
mencionado a seguir e que começou em um município no interior do Paraná e se tornou um programa nacional.<br />
Dra. Zilda Arns contou, inicialmente, com o engajamento da igreja católica para expandir o programa localmente<br />
e, em seguida, regionalmente. Ao obter reconhecimento da UNICEF, obteve visibilidade com relação ao<br />
programa, alavancando o projeto para o Ministério da Saúde, que adotou seu programa de redução da<br />
desnutrição infantil, sendo expandido para todo o país.<br />
3.7 Como Identificar oportunidades de engajamento com o Governo<br />
“Pessoas ou organizações que estão lutando por alguma mudança são como surfistas esperando a grande<br />
onda. Para você chegar a ela, você precisa estar pronto para remar. Se você não está pronto quando a<br />
grande onda chega, você não irá conseguir surfar sobre ela”<br />
Tradução livre. Kingdon (2011), p. 165<br />
Estabelecer, fortalecer e manter um bom relacionamento com o governo e outros stakeholders é essencial para<br />
assegurar oportunidade de genuinamente influciar decisões em benefício dos pacientes e da população. O<br />
engajamento não é um processo de curto prazo, é algo a ser construído e fortalecido continuamente.<br />
Como identificar oportunidades de engajamento?<br />
Existe um termo muito utilizado nas políticas públicas chamado “janela de oportunidades”, quando há um<br />
espaço aberto e uma necessidade clara de colaboração entre governo e stakeholders externos. Essas janelas<br />
podem ser criadas espontaneamente ou de forma repentina.<br />
Alguns exemplos de janelas de oportunidade criadas espontaneamente:<br />
<br />
Ciclos de debate: por exemplo na Conferência Nacional de Saúde, a cada 4 anos, em que a sociedade é<br />
convidada a participar das discussões em nível municipal e regional<br />
29
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
<br />
<br />
<br />
Audiências públicas: sociedade é convidada a colaborar na decisão sobre algum tópico. Mesmo que essa<br />
colaboração não seja presencial, é possível identificar questões prioritárias para o governo e estabelecer<br />
sinergias fora do ambiente exclusivo das audiências<br />
Editais públicos: a exemplo do PRONON, é um espaço para envio de projetos e estreitamento da relação<br />
com o governo<br />
Seminários, palestras e workshops promovidos pelo próprio governo ou outras entidades, com<br />
representantes do governo e da sociedade, em que se cria um espaço de diálogo em torno de uma questão<br />
relevante<br />
Exemplos de janelas de oportunidades criadas de forma imprevisível:<br />
<br />
<br />
<br />
Mudança no governo: central ou gestor de determinada área (por exemplo, mudança do Ministro da Saúde<br />
ou diretor ou secretário de determinada área). Essa mudança pode ser esperada, ou repentina. Neste caso,<br />
a diferença de janelas espontâneas é que não necessariamente se cria uma demanda do governo, mas abrese<br />
um espaço para discussão ocasionada pela mudança<br />
Desequilíbrio das forças políticas: mudança no congresso nacional, partidos políticos, comitês, entre<br />
outros. Isso pode fazer com que os interesses mudem, e surjam oportunidades para diálogo e colaboração<br />
Mudança do humor nacional: mudança de valores e percepções da sociedade, resultante de algum<br />
acontecimento que provoca o gatilho para a mudança, ou para uma discussão sobre a mesma. Um exemplo<br />
foram as manifestações de 2013, que se iniciaram com o movimento em São Paulo contra o aumento de R$<br />
0,20 no ticket do transporte público e culminaram em uma série de reivindicações, incluindo demandas<br />
para a área da saúde.<br />
Exemplo de janela de oportunidade em saúde no Brasil recente:<br />
- Epidemia de zika vírus: a possível relação entre zika vírus e microcefalia, observada após vários casos de bebês<br />
com microcefalia em Pernambuco no início de 2016, suscitaram um imenso debate e pesquisa em torno da<br />
relação entre esses dois fatores, e um direcionamento de ações e recursos dos órgãos de saúde para pesquisas<br />
na área. Foram criadas oportunidades para discussão de saneamento básico no Brasil, formas alternativas de<br />
controle de vetores, vacinas e medicamentos e planejamento familiar.<br />
As oportunidades de engajamento podem estar inseridas na agenda governamental ou na agenda decisória do<br />
governo, de acordo com Kingdon (2011):<br />
Agenda<br />
governamental<br />
Agenda<br />
decisória<br />
Kingdon aponta que três condições devem ser satisfeitas para que temas inseridos na agenda governamental<br />
ganhem apoio na agenda decisória (legislativa ou alto poder executivo):<br />
Problema precisa estar bem definido,<br />
Solução precisa estar disponível para quando a oportunidade surgir,<br />
É preciso ter apoio político<br />
30
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
É importante participar de debates promovidos pelo governo ou que tenham representantes do governo,<br />
monitorar notícias do setor e do tema de interesse, monitorar a agenda legislativa e, além disso, ter um<br />
posicionamento e um plano de ação prontos para quando essa oportunidade surgir. Ao mesmo tempo, é preciso<br />
estar aberto ao diálogo pois muitas vezes as soluções para o enfrentamento do problema serão soluções que<br />
envolvem sugestões de várias partes interessadas, de forma a atender a todas as demandas.<br />
Pelo contato com pacientes e conhecimento profundo sobre os problemas enfrentados por eles, as associações<br />
de pacientes podem se valer dessa compreensão para discutir soluções, promover grupos focais ou rodas de<br />
discussão para ouvir propostas dos próprios pacientes e familiares e levá-las ao governo, ou serem<br />
intermediárias em projetos para o enfrentamento do problema apontado. Elas podem participar tanto da<br />
definição do problema, quanto da proposta de soluções e se engajar continuamente com o governo para que<br />
suas propostas tenham mais chance de serem atendidas.<br />
Se, no momento em que a janela se abre, as alternativas não se apresentam aos tomadores da decisão, essa<br />
janela pode se fechar e a oportunidade perdida. Recomendamos, aqui, o tópico sobre Priorização de Problemas<br />
para a organização do trabalho das associações para quando a oportunidade surgir.<br />
Para refletir:<br />
Pense em exemplos de janelas de oportunidades criadas de forma espontânea ou imprevisível no seu tema<br />
de interesse. Responda às perguntas:<br />
- Existem janelas de oportunidade abertas para o diálogo com o governo?<br />
(Caso a resposta seja negativa: Estamos prontos para discutir o tema quando essas janelas surgirem<br />
novamente?)<br />
- Temos um plano de ação bem estabelecido?<br />
- Temos clareza do que queremos com essa colaboração?<br />
- Temos clareza do que podemos oferecer com essa colaboração?<br />
- Temos apoio da equipe interna para levar adiante uma possível colaboração?<br />
- Estamos preparados para arcar com recursos necessários (tempo da equipe, recursos humanos,<br />
viagens e outros recursos financeiros, material) para essa parceria?<br />
3.8 Ética e Compliance<br />
Os códigos de ética são uma prática eminentemente americana e nasceram baseados em aspectos de ordem<br />
legal, disciplinar e punitiva em face das exigências do stakeholder externo: governo, sociedade e consumidores<br />
(CRESSEY; MOORE, 1983). Na evolução para a ética de integridade, Paine (1994) redefine o código de ética como<br />
qualquer documento da organização que instile valores de integridade ética para guiar e forjar o<br />
comportamento e a tomada de decisão ética por parte dos funcionários, não importando sua forma, desde de<br />
que seu foco esteja em valores ou aspirações: código de conduta, declaração de visão, propósitos, crenças,<br />
princípios ou valores.<br />
No Brasil, o Instituto Ethos (2000) reitera: 'O código de ética ou de compromisso social é um instrumento de<br />
realização da visão e missão da empresa, que orienta suas ações e explicita sua postura social a todos com quem<br />
mantém relações' (ETHOS, 2000, p. 5) 4 .<br />
O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, criou, no ano 2000, um guia que ajuda as organizações<br />
a formular e implantar o seu código de ética 5 , um instrumento útil para dar aos profissionais de uma organização<br />
4 Trecho extraído do artigo: Cherman & Tomei, 2005, Rev. adm. contemp. vol.9 no.3 Curitiba, Códigos de ética corporativa e a tomada de decisão ética:<br />
instrumentos de gestão e orientação de valores organizacionais<br />
31
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
diretrizes e orientações sobre como agir em momentos de tomada de decisões difíceis e/ou relevantes,<br />
reduzindo os riscos de interpretações subjetivas quanto aos aspectos morais e éticos. O que precisa ser levado<br />
em consideração é o conjunto de relacionamentos internos e externos que a empresa mantém. Uma forma útil<br />
de sistematizá-los é raciocinar em termos dos diferentes públicos com os quais a organização interage, desde<br />
governos em todas as instâncias, hospitais, outras associações, pacientes, patrocinadores, influenciadores,<br />
dentre outros.<br />
Riscos e Oportunidades:<br />
Oportunidade de aumentar a integração entre as pessoas da associação, pois ele gera debate aberto e<br />
desperta a consciência das pessoas.<br />
O Código de Ética será adotado pelas pessoas se as formulações forem eqüitativas na atribuição de<br />
responsabilidades, tanto para a associação de pacientes, quanto para os seus funcionários e voluntários,<br />
sendo suas atividades necessariamente coerentes com as exigências do código.<br />
É recomendável que o Código de Ética exprima sempre as idéias de forma clara e simples.<br />
É possível ocorrer casos em que seja importante que parceiros e fornecedores adotem pontos do Código de<br />
Ética como condição da manutenção da parceria.<br />
É preciso criar formas para mensurar constantemente se o código de ética está sendo seguido por todos.<br />
Além disso, é preciso que ele seja reavaliado de tempos em tempos, sendo fundamental que os<br />
funcionários e voluntários da associação passem por treinamento anual sobre o código e seu conteúdo,<br />
com atividades e exemplos de práticas e atitudes bem-sucedidas do ponto de vista ético.<br />
O Código de Ética deve descrever como a associação deve se comportar junto aos seus principais públicos. Esse<br />
comportamento deve começar pela liderança da associação. A alta direção é a primeira a agir de acordo com o<br />
Código de Ética. A forma mais concreta de percepção desses atos ocorre na relação da direção com sua equipe.<br />
Todos devem vivenciar a decisão da mudança e do compromisso.<br />
O código de ética de uma associação deve conter, no mínimo:<br />
1. Apresentação da missão da associação e como a associação ajuda os pacientes<br />
2. Princípios e Valores da associação<br />
3. Atitudes Adequadas e Inadequadas<br />
4. Como a Associação se relaciona com stakeholders: funcionários, voluntários, pacientes, patrocinadores,<br />
associados, parceiros, fornecedores, governo, influenciadores e imprensa, profissionais de saúde, hospitais<br />
e clínicas, etc.<br />
Alguns bons exemplos de Código de Ética que podem ajudar sua associação na construção de seu código de<br />
ética:<br />
Código de Ética da AACD: https://aacd.org.br/wp-admin/images/Codigo_de_Conduta_21_08.pdf<br />
<br />
<br />
Código de Ética da WWF: http://wwf.panda.org/es/acerca/estructura/codigo_etica/<br />
Código de Ética da UNICEF: http://www.unicef.org/lac/codigodeetica.pdf<br />
4. Superando barreiras e desafios na lutra contra o câncer no Brasil<br />
5 http://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2013/05/Elaboracao-Codigo-de-Etica-Ethos-Claudio-Abramo.pdf<br />
32
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
4.1 O que são barreiras?<br />
De acordo com o dicionário Merriam-Webster, uma Barreira é algo como um muro ou obstáculo natural que<br />
impede ou bloqueia o movimento de um lugar para outro. Já, nas relações entre organizações e pessoas, uma<br />
barreira pode ser uma lei, regra ou problema que impede que uma ação ou atividade seja realizada, algo que<br />
limita a compreensão de um conteúdo ou de um fato.<br />
No mesmo dicionário, a palavra Desafio significa que algo pode não ser verdadeiro ou correto. A mesma palavra<br />
pode significar também o questionamento de uma ação, uma menção, lei ou uma autoridade.<br />
Em ambos os casos, as barreiras e desafios encontrados pelas Associações de Pacientes voltadas ao Câncer no<br />
Brasil são muito similares. Por esse motivo, a Roche Brasil desenvolveu um conjunto de ferramentas que darão o<br />
suporte necessário à sua organização.<br />
4.2 Quais são as barreiras e desafios para o enfrentamento do Câncer no Brasil<br />
O Brasil é o quinto país em extensão territorial no mundo e o maior da América Latina, contando com uma<br />
população aproximada de 210 milhões de habitantes. Assim como em outros países de renda média - alta, as<br />
doenças crônicas não transmissíveis representam um importante ônus para a sociedade, sobretudo as<br />
neoplasias malignas, que são responsáveis por pouco mais de 15% de todas as mortes no país. Com cerca de 600<br />
mil novos casos por ano estimados pelo INCA (Instituto Nacional do Câncer, Brasil) para 2016, o câncer<br />
compreende a segunda causa de morte na população brasileira, ceifando a vida de 225 mil indivíduos<br />
anualmente. A estimativa é que até os 75 anos de idade, um em cada cinco brasileiros desenvolva algum tipo de<br />
câncer. Pelo cenário apresentado, entende-se a responsabilidade dos gestores públicos e de nós mesmos, como<br />
cidadãos, no controle desta doença 6 .<br />
Existem inúmeras associações de pacientes com Câncer no Brasil. Porém, cada uma atua em uma área de<br />
interesse específico. Nesse sentido, você encontrará abaixo, uma relação de barreiras e desafios para o<br />
enfrentamento do câncer no país, dividido em quatro públicos impactados: pacientes, associações, sistemas de<br />
saúde e fornecedores de saúde em geral, tais como hospitais, clínicas e profissionais de saúde.<br />
Essas barreiras e desafios foram construídas com base na jornada do paciente com câncer. A partir da análise da<br />
jornada do paciente e da relação de barreiras e desafios, você e seu time poderão descobrir as barreiras e<br />
desafios que sua organização decidirá superar visando uma solução para facilitar o diagnóstico, tratamento,<br />
acesso e a qualidade de vida do paciente.<br />
6 Texto extraído do Atlas do Câncer no Brasil – segunda edição, lançado em março de 2016<br />
33
34
Toolkits for capacity building in Brazil<br />
Como identificar barreiras para melhorar o acesso do paciente ao diagnóstico e tratamento<br />
Na tabela abaixo será possível encontrar as principais barreiras e desafios com relação ao câncer, encontradas<br />
por pacientes, associações, hospitais, clínicas e sistemas de saúde em geral.<br />
A ideia central dessa tabela é sugerir que você e sua equipe identifiquem quais são os pontos de contato que sua<br />
entidade tem com o paciente durante sua jornada e quais barreiras sua organização definiu eliminar ou reduzir o<br />
impacto junto ao paciente.<br />
Agora, liste as barreiras que sua instituição pretende enfrentar. Analise os motivos que levam à criação dessas<br />
barreiras. Identifique, na jornada do paciente, onde essas barreiras são encontradas, e faça alguns exercícios de<br />
brainstorming junto à sua equipe visando identificar soluções para eliminar essas barreiras.<br />
PÚBLICO<br />
PACIENTES<br />
BARREIRAS E DESAFIOS<br />
Falta conhecimento<br />
DETALHAMENTO<br />
Patologia<br />
Prevenção<br />
Sintomas<br />
Diagnóstico<br />
Tratamento<br />
Reabilitação<br />
Metástase<br />
ASSOCIAÇÕES DE<br />
PACIENTES<br />
SISTEMAS DE<br />
SAÚDE<br />
Estigmas e Mitos Relacionados ao Câncer<br />
Falta Diagnóstico Precoce<br />
Lentidão no início do tratamento<br />
Qualidade de Vida<br />
Sustentabilidade Financeira<br />
Necessidade de Formação de Redes<br />
Necessidade de Mobilização de Atores Influenciadores<br />
Falta Relacionamento c/ Gestores de Políticas Públicas<br />
Falta monitoramento das políticas públicas<br />
Falta Relacionamento com Profissionais de Saúde<br />
Faltam Recursos para Diagnósticos<br />
Falta Priorização do Paciente com Câncer<br />
Falta Infraestrutura<br />
Processo Estruturado Nacional para acompanhar a Jornada<br />
do Paciente, independentemente de sua localidade<br />
Acesso<br />
Equipamentos para<br />
tratamento e diagnóstico<br />
Móveis apropriados<br />
Espaços apropriados<br />
Equipe de saúde treinada<br />
Sistema Nacional de<br />
Rastreamento do Paciente<br />
Falta de Protocolos Únicos de<br />
Tratamento<br />
Diagnóstico<br />
Tratamentos Inovadores e de<br />
Alto Custo<br />
35
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
PÚBLICO<br />
IMPACTADO<br />
HOSPITAIS,<br />
CLÍNICAS E<br />
FORNECEDORE<br />
S DE SAÚDE EM<br />
GERAL<br />
BARREIRAS E DESAFIOS<br />
Capacitação de Profissionais de Saúde<br />
Priorização do paciente com câncer<br />
Mobilização com relação à patologia e a jornada do<br />
paciente<br />
Acompanhamento do Paciente durante sua<br />
jornada, inclusive a reabilitação<br />
Controle da Dor<br />
Qualidade de Vida e Serviços anti-stress<br />
Falta de recursos<br />
Falta de Profissionais em alguns locais do país<br />
DETALHAMENTO<br />
Diagnóstico<br />
Precoce<br />
Uso dos<br />
Equipamentos<br />
Compreensão<br />
das Patologias<br />
do Câncer,<br />
sintomas,<br />
prevenção,<br />
tratamento de<br />
lesões, da dor,<br />
encaminhament<br />
o, tratamento,<br />
reabilitação,<br />
metástase, nova<br />
jornada<br />
Acompanhamen<br />
to e<br />
Comunicação<br />
com o paciente<br />
durante sua<br />
jornada<br />
4.3 Encontrando soluções para as Barreiras e Desafios prioritários à sua associação<br />
Após identificar os pontos de contato que sua entidade tem com o paciente durante sua jornada e as barreiras<br />
que sua organização definiu eliminar ou reduzir o impacto junto ao paciente, é preciso avaliar se as soluções<br />
sugeridas trarão o resultado esperado para a eliminação das barreiras identificadas.<br />
Para priorizar as barreiras e as soluções a serem trabalhadas por sua organização, é importante que você e sua<br />
equipe respondam às seguintes perguntas orientadoras, que o ajudarão a priorizar seus objetivos a curto, médio<br />
e longo prazo.<br />
36
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
<br />
Explique a complexidade e o impacto direto ou indireto da solução sugerida por sua equipe sobre cada<br />
barreira, conforme questionário abaixo:<br />
o Informação e Troca de Conhecimento do Paciente:<br />
• Conhecimento do paciente com relação ao Câncer e seus sintomas, diagnóstico, tratamento,<br />
medicamentos exixtentes e seus direitos como cidadão brasileiro, seja atendido pelo SUS ou por<br />
um plano de saúde<br />
• Tipo de alimentação, atividades físicas e estilo de vida que o paciente com câncer deve buscar<br />
para melhorar sua qualidade de vida<br />
• Como e onde o paciente pode buscar informações e suporte para tirar dúvidas e trocar<br />
informações com outros pacientes<br />
o Crescimento e Profissionalismo da Associação de Pacientes, de forma a:<br />
• Ter sustentabilidade financeira<br />
• Participar de uma rede forte de associações para troca de conhecimento e melhoria das<br />
condições do paciente<br />
• Desenvolver capacidade de engajamento e mobilização de influenciadores (profissionais de<br />
saúde, academia e governos municipais, estaduais e federal)<br />
• Acompanhamento das Decisões Políticas voltadas à saúde<br />
o Suporte aos profissionais de saúde para:<br />
• Levantamento de dados específicos que tragam evidências relevantes sobre questões de<br />
interesse diversas<br />
• Suporte na atenção ao paciente, serviços anti-stress, alimentação, qualidade de vida, etc<br />
• Treinamentos específicos voltados à priorização do diagnóstico e tratamento<br />
• Treinamentos específicos voltados à atenção do paciente<br />
o Motivar a troca de relacionamento e comunicação entre pacientes, profissionais de saúde, academia,<br />
decisores de políticas públicas, influenciadores e sociedade civil<br />
• Criação de canais de comunicação e encontros de relacionamento<br />
• Sensibilização da sociedade civil para a questão do câncer e a jornada do paciente<br />
o Outros pontos relevantes para sua organização não mencionados nesse questionário<br />
4.4 Priorização de Barreiras e Definição de Projetos<br />
Agora, para ajudá-lo na tomada de decisões, com base nas respostas feitas com sua equipe, defina e liste as<br />
barreiras que sua organização deseja combater e as soluções sugeridas pela equipe para cada barreira.<br />
Para cada barreira, crie um projeto a partir das soluções sugeridas. Esse projeto será desenvolvido para eliminar<br />
essa barreira. Para a criação de um projeto, é importante realizar os seguintes passos:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Nomeie o projeto<br />
Defina o objetivo, que é o resultado que sua organização deseja alcançar com o projeto. Importante: nunca<br />
estabeleça mais do que 3 objetivos para um projeto.<br />
Construa as estratégias para cada objetivo. Uma estratégia é a definição do que será feito para atingir esse<br />
objetivo (entenda como um plano de ação amplo projetado para um determinado prazo). É sugerido não<br />
estabelecer mais do que 2 ou 3 estratégias por objetivo.<br />
Agora, defina as táticas que serão realizadas por estratégia. Táticas são atividades do dia a dia que visam<br />
alcançar os pontos estabelecidos na estratégia que, por sua vez, pretendem alcançar um objetivo. Não<br />
realize mais do que 3 a 4 táticas por estratégia.<br />
37
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
<br />
Defina público-alvo para o projeto, tempo de criação, implantação e adoção do mesmo pelo público-alvo,<br />
resultados esperados, responsável da equipe a liderar o projeto e investimento esperado.<br />
Após a definição de um Planejamento para cada projeto, será preciso priorizar os projetos a serem realizados em<br />
um determinado período de tempo (sugestão: dentro de 1 ano), uma vez que as equipes, o tempo e os recursos<br />
são limitados. Para ajudá-lo nessa priorização, sugerimos que você e sua equipe preencham a tabela abaixo<br />
dando notas para o nível de complexidade do projeto e o impacto causado pelo mesmo. Repare que a tabela de<br />
complexidade sugere que as notas sejam mais altas para os projetos menos complexos. Por outro lado, a tabela<br />
de impacto sugere que as notas sejam mais altas para as atividades mais impactantes. Sua escolha para a<br />
priorização do projeto dependerá do quanto sua organização pretende realizar projetos com maior ou menor<br />
impacto e complexidade.<br />
BARREIRAS QUE IMPEDEM QUE A<br />
JORNADA DO PACIENTE ACONTEÇA DE<br />
FORMA MAIS EFETIVA E SEM<br />
SOBRESSALTOS<br />
escreva aqui a barreira que pretende<br />
eliminar<br />
NOME DO PROJETO QUE ELIMINARÁ A<br />
BARREIRA<br />
escreva aqui o nome do projeto que<br />
eliminará a barreira<br />
Valor do<br />
Investimento<br />
Processos<br />
(treinamento,<br />
pesquisa, etc)<br />
COMPLEXIDADE<br />
(DÊ NOTA 5 PARA O MENOS COMPLEXO E 1 PARA O MAIS COMPLEXO)<br />
Tempo<br />
Time Interno<br />
Engajamento<br />
Influenciadores<br />
Engajamento<br />
Decisores Políticas<br />
Públicas<br />
Comunicação<br />
TOTAL PRIORIZAÇÃO<br />
COMPLEXIDADE<br />
(valor do investimento +<br />
tempo+time interno+engajamento<br />
influenciadores+engajamento<br />
decisores políticas públicas +<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
BARREIRAS QUE IMPEDEM QUE A<br />
JORNADA DO PACIENTE ACONTEÇA DE NOME DO PROJETO QUE ELIMINARÁ A<br />
FORMA MAIS EFETIVA E SEM<br />
BARREIRA<br />
SOBRESSALTOS<br />
escreva aqui a barreira que pretende<br />
eliminar<br />
escreva aqui o nome do projeto que<br />
eliminará a barreira<br />
IMPACTO<br />
(DÊ NOTA 5 PARA O MAIOR IMPACTO E 1 PARA O MENOR IMPACTO)<br />
Paciente<br />
Sustentabilidade<br />
Financeira<br />
Reputação da<br />
Organização<br />
Risco<br />
TOTAL PRIORIZAÇÃO<br />
IMPACTO<br />
(paciente+ sustentabilidade<br />
financeira+reputação da<br />
organização+risco, dividido por 4)<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
38
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
BARREIRAS QUE IMPEDEM QUE A<br />
JORNADA DO PACIENTE ACONTEÇA DE<br />
FORMA MAIS EFETIVA E SEM<br />
SOBRESSALTOS<br />
escreva aqui a barreira que pretende<br />
eliminar<br />
NOME DO PROJETO QUE ELIMINARÁ A<br />
BARREIRA<br />
escreva aqui o nome do projeto que<br />
eliminará a barreira<br />
TOTAL PRIORIZAÇÃO<br />
COMPLEXIDADE<br />
(valor do investimento +<br />
tempo+time<br />
interno+engajamento<br />
influenciadores+engajamento<br />
TOTAL PRIORIZAÇÃO TOTAL PRIORIZAÇÃO DE<br />
IMPACTO<br />
PROJETOS<br />
(paciente+ sustentabilidade (total priorização complexidade +<br />
financeira+reputação da total priorização impacto,<br />
organização+risco, dividido por 4)<br />
dividido por 2)<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
4.5 A importância de se trabalhar em redes para superar as barreiras<br />
Sem dúvida, agora é hora de compartilhar seus projetos com sua rede estratégica de relacionamento. Converse<br />
com outras associações de pacientes para compreender como seu projeto pode ser alavancado por outra<br />
associação, ou se essa associação já possui um projeto similar ou complementar. O trabalho em equipe<br />
potencializa os resultados e reduz o tempo de desenvolvimento do projeto, podendo até reduzir os<br />
investimentos e recursos necessários.<br />
Converse também com alguns públicos de interesse de seu projeto antes de iniciá-lo, tais como hospitais,<br />
centros de saúde ou clínicas especializadas para entender se ele terá aderência com o público esperado ou se<br />
alguma pequena alteração precisa ser feita antes ou durante o projeto.<br />
O papel do líder e liderado:<br />
Em todo processo de Planejamento Estratégico, desde a sua concepção, implantação, monitoramento e busca<br />
por resultados, vale a pena ressaltar a importância do papel do líder e também do liderado.<br />
No livro “O Divergente Positivo- Liderança em Sustentabilidade em um mundo perverso”, de Sara Parkin,<br />
2014, a autora menciona uma frase de Keith Grint, que afirma que a liderança “não é uma ciência, e sim uma<br />
arte; é um desempenho, não uma receita; é uma invenção, não uma descoberta.” Grint (2000) ainda<br />
completa dizendo que “Um líder descortina um futuro melhor e convence pessoas a segui-lo”. Para a autora,<br />
“a liderança em desenvolvimento sustentável imagina sim, um futuro melhor, mas que não seja coagido por<br />
limitações organizacionais ou geográficas, como ocorre em outros setores da economia. É por algo que vai<br />
além do indivíduo, organização ou mesmo família e país”.<br />
Neste mesmo livro, Sara Parkin explica que um líder é o ocupante de um cargo que pode ser eleito, escolhido<br />
ou nomeado para liderar algo como um exército, uma empresa ou um projeto. O ocupante pode ou não ser<br />
bom para liderar. A liderança, no entanto, pode ser exercida por qualquer um, de qualquer setor de uma<br />
organização ou grupo.<br />
Neste sentido, é fundamental que um líder exerça seu papel de liderança, atuando de forma colaborativa,<br />
39
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
convencendo e engajando as pessoas para o atingimento de resultados no projeto. Uma associação de<br />
pacientes visa o bem comum e um futuro melhor e, por isso, não deve estar restrita a uma única organização,<br />
mas sim, envolver atores dos mais diversos setores e, inclusive, parceiros e organizações similares para a<br />
obtenção de um objetivo em comum.<br />
Ainda, para Sara Parkin neste mesmo livro, “o papel do seguidor responsável, inclui mitigar (reduzir o risco) a<br />
liderança, assim como uma orquestra tem que fazer com um maestro mal preparado. Significa poder avaliar<br />
criticamente, do ponto de vista da sustentabilidade, a orientação de um líder e ter confiança para assumir o<br />
tipo de desafios leais, mas independentes, de que depende uma boa liderança. Isso significa o crescimento de<br />
sua própria confiança sobre o rumo certo a seguir para que esse seguidor possa discordar ou desviar-se<br />
quando apropriado. O papel do seguidor versado em sustentabilidade começa então a se parecer muito com<br />
a liderança “versada em sustentabilidade”.<br />
Este item reforça a importância do papel e o comprometimento de todos da organização visando o sucesso<br />
dos projetos, de forma a motivar e engajar todos os atores da sociedade em que essa organização atua.<br />
Para ajudar você e sua associação a respeito da importância do trabalho em redes, apresentamos o estudo de<br />
caso a seguir, que apresenta como o trabalho multidisciplinar planejado pode alterar a qualidade de vida dos<br />
pacientes e ajudar a reduzir algumas barreiras mencionadas neste documento.<br />
4.6 Superando barreiras: estudo de caso dos centros de referência para DST/Aids 7<br />
Centro de Referência DST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.<br />
Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.<br />
Durante os últimos dez anos, as associações de pacientes têm crescido no Brasil, explicitando objetivos que vão<br />
desde a defesa dos direitos dos pacientes até a busca por mais informação, maior autonomia e responsabilidade<br />
pela própria saúde. Os grupos voltados às questões do HIV/Aids – os quais reúnem pacientes, familiares, amigos<br />
e profissionais de saúde – têm se destacado no cenário das associações, formando uma rede que abrange grupos<br />
mais formalizados, como as ONGs, e grupos menores e mais “voltados para dentro”. Em estudo recente sobre<br />
hospitais no Rio de Janeiro e São Paulo, uma das constatações foi a de que 36% desses hospitais instituíram a<br />
participação de associações e comunidades em itens de decisão do hospital (Costa et al., 2000). Tal dado levanta<br />
questões interessantes como, por exemplo, o perfil dessas associações e qual o seu papel no cenário da saúde<br />
pública 8 .<br />
Esse estudo de caso pesquisou 26 profissionais de 4 centros de referência para DST/Aids em São Paulo. O estudo<br />
visava compreender como as necessidades de saúde das pessoas com Aids são percebidas e respondidas no<br />
âmbito de equipes multiprofissionais nos serviços de atenção à saúde, buscando identificar, na dinâmica de<br />
articulação do trabalho desses profissionais, aspectos facilitadores e limitadores da qualidade da assistência.<br />
A complexidade e a variedade dos problemas suscitados pela Aids exigem respostas por parte dos serviços de<br />
saúde que considerem não somente os aspectos clínicos mas também os impactos sociais, psicológicos e<br />
econômicos associados aos estigmas e preconceitos que ainda a permeiam. Para responder a essa questão, os<br />
serviços têm recorrido a equipes compostas por profissionais oriundos de diferentes áreas de formação, ou seja,<br />
indivíduos com diferentes saberes e formas de trabalhar.<br />
7 O Estudo de caso acima é uma adaptação livre do estudo de caso: Silva, Oliveira, Figueiredo et al, 2002, Revista Saúde Pública, Limites do trabalho<br />
multiprofissional: estudo de caso dos centros de referência para DST/Aids<br />
8 Trecho extraído do artigo de Andrade e Vaitsman, Departamento de Ciências Sociais, Escola Nacional de Saúde Pública - Fundação Oswaldo Cruz - Temas<br />
Livres, Apoio Social e Redes – Conectando Solidariedade e Saúde<br />
40
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Num primeiro momento, quando iniciaram suas atividades nos centros de referência, os diferentes agentes<br />
encontraram dificuldades no desenvolvimento de seus trabalhos específicos. Oriundos de outros serviços de<br />
saúde, e sem experiência anterior na atenção a pessoas vivendo com HIV/Aids, os profissionais tinham como<br />
desafio conhecer a doença e as formas de tratamento; compreender as necessidades de saúde dos usuários dos<br />
centros referência; e vencer barreiras pessoais que dificultavam o atendimento dos que diferissem de seu<br />
conjunto de valores.<br />
As ações desenvolvidas para um maior conhecimento do objeto de trabalho nesses serviços aconteceram a<br />
partir de treinamentos e capacitações oferecidos aos profissionais. As características clínicas da doença e o<br />
tratamento foram citados como temas recorrentes, sendo escassos ou inexistentes, contudo, os espaços para a<br />
discussão e vivência de outros temas, que posteriormente, percebeu-se ser necessário. Isso porque, reuniões<br />
informais aconteciam constantemente, segundo as necessidades percebidas pelos agentes no cotidiano de suas<br />
práticas de trabalho, como no relato de uma enfermeira a respeito de um atendimento de uma paciente<br />
gestante que se negava a fazer um exame anti-HIV. Essa troca informal de experiência talvez tenha sido o<br />
principal momento em que esses profissionais puderam se apossar das dimensões interdisciplinares e das<br />
necessidades de assistência às pessoas com Aids.<br />
A multiprofissionalidade foi apontada muito claramente como estratégia privilegiada para atender às demandas<br />
da assistência nos centros de referência, com a justificativa sintetizada num dos depoimentos: “... a Aids tem<br />
mesmo múltiplas facetas... além da queixa dele... ou da diarréia... ele carrega um monte de coisas, da história da<br />
vida dele, a questão do parceiro, do contar ou não, da responsabilidade...do abandono, da rejeição da família<br />
que largou...ele vive uma história de opção sexual que é complicada por si e que aqui acaba aparecendo muito...<br />
se eu não puder estar discutindo o caso com o psicólogo, ou com a assistente social, ou com a educadora, enfim,<br />
com gente que possa ter uma outra leitura do que realmente ele precisa, eu tenho certeza que eu, como médica,<br />
não dou conta! Eu dou conta, realmente, só de um pedacinho, e muito mal!...” (médica).<br />
No trabalho da equipe multiprofissional, da articulação entre seus membros, sobretudo no ambulatório e no<br />
hospital-dia, denotou-se que o encaminhamento entre os profissionais tem sido a estratégia mais usual para<br />
responder à diversidade de necessidades dos usuários dos centros de referência. No entanto, o reconhecimento<br />
da necessidade da intervenção de um profissional de outra área ocorre somente a partir do julgamento<br />
particular de quem decide encaminhar, no próprio momento em que emerge a demanda, sem planejamento<br />
anterior, diferente da assistência domiciliar terapêutica, que exige que os profissionais multidisciplinares estejam<br />
articulados a partir de um projeto, que é discutido e desenhado anteriormente às intervenções.<br />
Ao final da pesquisa, foi unânime a percepção dos entrevistados em torno da importância do trabalho<br />
multiprofissional nos centros de referência e com relação às particularidades do trabalho de assistência às<br />
pessoas com Aids. A partir das lições extraídas dos depoimentos e das reflexões sobre estes, é possível concluir<br />
sobre o importante papel desempenhado por cursos e treinamentos que visam a preparar os profissionais para a<br />
assistência a pessoas com o HIV/Aids.<br />
No entanto, é fundamental que os conteúdos e as estratégias do treinamento visem não apenas às<br />
especificidades do trabalho de cada um dos agentes das equipes mas também propiciem espaços para a<br />
discussão e vivência de construção de projetos assistenciais comuns, o que mostrou ter um efeito<br />
41
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
potencializador para a integração dos diferentes profissionais das equipes de saúde e para melhorar a qualidade<br />
do cuidado prestado.<br />
Nesse mesmo sentido, ressalta-se a importância das discussões de casos, reuniões periódicas, de supervisão e<br />
planejamento, com a participação de todos os membros da equipe, pois também eles, antecipando demandas,<br />
constroem projetos, favorecendo a integração dos membros da equipe. Em síntese, uma estratégia que parece<br />
fundamental para tornar efetivo o trabalho multiprofissional é o planejamento de ações que busquem identificar<br />
e incorporar demandas antevistas à rotina.<br />
A concretização da construção coletiva do projeto de trabalho pela equipe multiprofissional e as possibilidades<br />
de incorporar o cuidado às práticas dos profissionais, indicam a necessidade do aprofundamento da<br />
comunicação e do planejamento entre os sujeitos envolvidos na relação assistencial, em uma relação de<br />
complementaridade.<br />
5. Mãos à obra - Atividade<br />
Agora é hora de arregaçar as mangas e fazer seus projetos acontecerem:<br />
1. Comece pelo Planejamento Estratégico<br />
1.1 Vá para a tabela de Barreiras e Desafios com Relação ao Câncer<br />
1.2 Identifique quais são os pontos de contato que sua entidade tem com o paciente durante sua jornada e<br />
quais barreiras sua organização definiu eliminar ou reduzir o impacto junto ao paciente<br />
1.3 Liste as barreiras que sua instituição pretende enfrentar<br />
1.4 Analise os motivos que levam à criação dessas barreiras<br />
1.5 Identifique, na jornada do paciente, onde essas barreiras são encontradas<br />
1.6 Faça alguns exercícios de brainstorming junto à sua equipe visando identificar soluções para eliminar<br />
essas barreiras (nesse exercício, responda às perguntas do item 5.3 - Encontrando soluções para as<br />
Barreiras e Desafios prioritários à sua organização)<br />
1.7 Liste as barreiras que sua organização deseja combater e as soluções sugeridas pela equipe para cada<br />
barreira.<br />
1.8 Para cada barreira, crie um projeto a partir das soluções sugeridas. Crie um nome para esse projeto e<br />
defina um objetivo<br />
1.9 Agora preencha as tabelas abaixo, definindo e priorizando objetivos, estratégias e táticas por projeto:<br />
Defina e priorize 2 a 3 objetivos por projeto:<br />
Objetivo<br />
O objetivo<br />
é válido<br />
(3=Sim/<br />
1=Não)<br />
É<br />
relevante?<br />
(3=Sim/<br />
1=Não)<br />
É<br />
alcançável?<br />
(3=Sim/<br />
1=Não)<br />
Ranking de<br />
prioridade<br />
(1=alta/<br />
3=Média/<br />
5=Alta)<br />
Nível de<br />
dificuldade<br />
(1=fácil,<br />
3=médio,<br />
5=difícil)<br />
Justificativa (para<br />
validade do objetivo e<br />
dificuldade para alcançalo)<br />
Ranking<br />
Faça o checklist do objetivo prioritário<br />
42
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Questões para confirmar se o objetivo está bem definido Sim Não<br />
Você possui evidências que sustentem o alcance dos objetivos? <br />
Você conhece e compreende os desafios? <br />
Você conhece as políticas e práticas que estão em vigor atualmente<br />
sobre a questão que pretende trabalhar?<br />
<br />
<br />
O objetivo desejado é executável? <br />
Liste duas estratégias para o objetivo escolhido<br />
Objetivo<br />
Estratégias<br />
1.<br />
2.<br />
43
Adequação<br />
Qualidade<br />
Engajamento<br />
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
Faça o checklist das estratégias<br />
Questões para confirmar se as estratégias estão ajudam a alcançar o objetivo Sim Não<br />
A abordagem tem foco/ é específica? <br />
A abordagem está ligada à direção organizacional? <br />
Foi dada alta prioridade ao interesse público? <br />
É possível que a política resultante da abordagem seja tanto eficiente como<br />
eficaz?<br />
Poderiam os resultados da abordagem trazer políticas diferentes das políticas<br />
desejadas?<br />
A sua abordagem é atingível e realista? <br />
Você se sente confortável em implementar sua abordagem? <br />
A abordagem é viável em termos de financiamento, esforço e pontualidade? <br />
A abordagem segue todas as leis apropriadas? <br />
A sua abordagem é mensurável e podem progressos ser avaliados? <br />
Os stakeholders foram incluídos na abordagem? <br />
A sua abordagem envolve grupos que são capazes de lidar com as barreiras<br />
identificadas?<br />
Você estabeleceu o que será necessário para mover grupos relevantes adiante? <br />
A sua abordagem reduz a oposição á política? <br />
Será que a abordagem fará com que os stakeholders apoiem a política? <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Liste 3 táticas para cada estratégia descrita, assim como o cronograma, responsabilidades e necessidade de<br />
recursos<br />
Estratégias Táticas Cronograma Responsabilidades Recursos<br />
1. 1.<br />
2.<br />
3.<br />
44
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
2. 1.<br />
2.<br />
3.<br />
1.10 Priorize os projetos a serem realizados em um determinado período de tempo, como 1 ano, por exemplo,<br />
por meio do preenchimento da tabela do item 12 (Priorização de Barreiras), dando notas para o nível de<br />
complexidade do projeto e o impacto causado pelo mesmo. Repare que a tabela de complexidade sugere<br />
que as notas sejam mais altas para os projetos menos complexos. Por outro lado, a tabela de impacto<br />
sugere que as notas sejam mais altas para as atividades mais impactantes. Sua escolha para a priorização do<br />
projeto dependerá do quanto sua organização pretende realizar projetos com maior ou menor impacto e<br />
complexidade.<br />
Pronto, agora você possui um Planejamento Estratégico para a sua associação, com projetos estruturados e<br />
realizado com a participação de todos.<br />
2. Agora vamos ao Planejamento de Advocacy:<br />
2.1 Identifique quais dos projetos da sua instituição serão voltados para Advocacy<br />
2.2 Identifique seus stakeholders de acordo com cada projeto de advocacy<br />
2.3 Verifique onde seu projeto se encaixa no ciclo política da agenda de cada stakeholder<br />
2.4 Monitore os movimentos de seus stakeholders e os projetos políticos em desenvolvimento com relação ao<br />
seu projeto<br />
2.5 Identifique janelas de oportunidade e comece as atividades de relacionamento e engajamento de acordo<br />
com os dados levantados por sua associação e por seu cronograma de trabalho.<br />
Agora é realizar as atividades plajenadas, monitorá-las e readequá-las de acordo com as atividades e mudanças<br />
no decorrer do percurso.<br />
Sucesso!<br />
45
Toolkits para capacitação no Brasil<br />
6. Referências<br />
1. Bryson, J.M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: a guide to strengthening and<br />
sustaining organizational achievement. Wiley: 4ª edição. 2011.<br />
2. Fleury S, Ouverney AM. Política de Saúde: uma política social. In: Giovanella L et al. editores. Políticas e<br />
Sistema de Saúde no Brasil. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2008. p. 23-64.<br />
3. Kingdon JW. Agendas, alternatives, and public policies. Updated Second Edition. New York: Pearson;<br />
2011.<br />
4. World Health Organization (WHO). Handbook on health inequality monitoring: with a special focus on<br />
low- and middle-income countries. Luxemburgo: World Health Organization; 2013. Página 2. Disponível<br />
em: < http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85345/1/9789241548632_eng.pdf><br />
5. Cherman, A. & Tomei, P.A. Códigos de ética corporativa e a tomada de decisão ética: instrumentos de<br />
gestão e orientação de valores organizacionais. Rev. Adm. Contemp., vol 9(3): 99-120, 2005.<br />
6. Cressey, D. R and C. A. Moore. Managerial Values and Corporate Codes of Ethics. California<br />
Management Review, vol. 25 (Summer): 53-77, 1983.<br />
7. Paine, L. S. Harvard Business Review, Lynn Sharp Paine replies(Letter), May/Jun94, Vol. 72 Issue 3, p154-<br />
154, 1994.<br />
8. Instituto Ethos. Formulação e Implantação de Código de Ética em empresa. Disponível em:<br />
<br />
9. Atlas do Câncer, 2016, 2ªedição. Disponível em: <br />
10. Silva, Oliveira, Figueiredo et al. Limites do trabalho multiprofissional: estudo de caso dos centros de<br />
referência para DST/Aids. Revista Saúde Pública, vol. 36(4): 108-116, 2002.<br />
11. Costa NR, Ribeiro JM & Silva PLB. Reforma do Estado e mudança organizacional: um estudo de hospitais<br />
públicos. Ciência e Saúde Coletiva, vol 5(2):427-442, 2000.<br />
12. Andrade, G.R.B.; Vaitsman, J. Apoio social e redes: conectando solidariedade e saúde. Ciência & Saúde<br />
Coletiva, vol. 7(4):925-934, 2002.<br />
13. Grint K. The Arts of Leadership. Oxford University Press, 2000.<br />
46