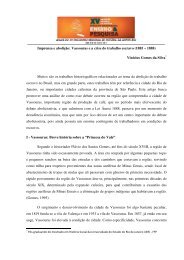Artur Nogueira Santos e Costa - XV Encontro Regional de História ...
Artur Nogueira Santos e Costa - XV Encontro Regional de História ...
Artur Nogueira Santos e Costa - XV Encontro Regional de História ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ENSINO DE HISTÓRIA E CURRÍCULO: RELAÇÕES ENTRE DIRETRIZES,<br />
PARÂMETROS, CONTEÚDOS E CONHECIMENTO HISTÓRICO NA SALA DE<br />
AULA DE ESCOLAS PÚBLICAS. 1<br />
<strong>Artur</strong> <strong>Nogueira</strong> <strong>Santos</strong> e <strong>Costa</strong>*<br />
Regina Ilka Vieira Vasconcelos**<br />
RESUMO:<br />
Este trabalho apresenta os resultados parciais do projeto <strong>de</strong> pesquisa “Ensino <strong>de</strong> <strong>História</strong> e<br />
Currículo: relações entre diretrizes, parâmetros, conteúdos e conhecimento histórico na sala<br />
<strong>de</strong> aula <strong>de</strong> escolas públicas do Ensino Fundamental. Uberlândia-MG (2000-2010)”; que<br />
<strong>de</strong>dica-se a analisar a organização do currículo <strong>de</strong> <strong>História</strong> em escolas públicas <strong>de</strong> Ensino<br />
Fundamental (anos finais) <strong>de</strong> Uberlândia MG, ao longo do período 2000-2010. Os principais<br />
objetivos articulam-se em conhecer e problematizar processos <strong>de</strong> seleção <strong>de</strong> conteúdos para a<br />
disciplina <strong>de</strong> <strong>História</strong> no Ensino Fundamental em escolas estaduais e municipais <strong>de</strong><br />
Uberlândia, relacionando-os à prática docente e ao cotidiano <strong>de</strong> escolas públicas.<br />
PALAVRAS-CHAVE: <strong>História</strong> Social e Escola Pública; Currículo e Ensino <strong>de</strong> <strong>História</strong>,<br />
Cotidiano Escolar e Conhecimento Histórico.<br />
ABSTRACT:<br />
This paper presents partial results of the research project “History Teaching and Curriculum:<br />
relations gui<strong>de</strong>lines, parameters, content and historical knowledge in the classroom of public<br />
schools in the elementary school. Uberlândia-MG (2000-2010)”, that aims to analyze the<br />
organization's of curriculum of history in public schools in elementary school (final year) of<br />
Uberlândia MG, over the period 2000-2010. The main objectives are to meet and discuss<br />
procedures for selection of content for the discipline of history in elementary school in state<br />
and municipal schools in Uberlândia, establishing relationships to teaching practice and daily<br />
life in public schools.<br />
KEYWORDS: Social History and Public School; Curriculum and Teaching of History; Daily<br />
Life in School and Historical Knowledge.<br />
***<br />
1 Este texto apresenta os resultados parciais do projeto <strong>de</strong> pesquisa “Ensino <strong>de</strong> <strong>História</strong> e Currículo: relações entre<br />
diretrizes, parâmetros, conteúdos e conhecimento histórico nas salas <strong>de</strong> aula <strong>de</strong> escolas públicas. Uberlândia –<br />
MG. 2000 – 2010.”, <strong>de</strong>senvolvido sob os auspícios do Programa Institucional <strong>de</strong> Apoio à Iniciação Científica –<br />
PIAIC – UFU, sob orientação da professora Dra. Regina Ilka Vieira Vasconcelos.<br />
*Graduando em <strong>História</strong> (5° Período) pela Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Uberlândia. Pesquisador vinculado ao<br />
Programa Institucional <strong>de</strong> Apoio à Iniciação Científica.<br />
**Doutora em <strong>História</strong> Social pela Pontifícia Universida<strong>de</strong> Católica <strong>de</strong> São Paulo. Professora dos Cursos <strong>de</strong><br />
Graduação em <strong>História</strong> e do Programa <strong>de</strong> Pós-Graduação em <strong>História</strong> da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Uberlândia.
Temos, com frequência, presenciado diversas discussões a respeito da questão do<br />
currículo. Tomando-o como um problema em aberto, e como um movimento histórico, na<br />
medida em que se concretiza a partir das experiências <strong>de</strong> diversos sujeitos, observamos que é<br />
possível abordar, aqui, alguns pontos nodais acerca <strong>de</strong>sses <strong>de</strong>bates. Trata-se <strong>de</strong> um exercício<br />
que compreen<strong>de</strong> a análise <strong>de</strong> documentos que se articulam à organização curricular, mas<br />
também a tomada da escola pública como espaço <strong>de</strong> investigação histórica, visto que é nela<br />
que os currículos são, <strong>de</strong> fato, postos em prática.<br />
O primeiro apontamento revela a concepção <strong>de</strong> currículo da qual estamos falando.<br />
Para isso, tomamos por base as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental,<br />
aprovadas em 1998. Segundo elas:<br />
[...] este conceito [o <strong>de</strong> Currículo] envolve outros três, quais sejam: currículo<br />
formal (planos e propostas pedagógicas), currículo em ação (aquilo que<br />
efetivamente acontece nas salas <strong>de</strong> aula e nas escolas) currículo oculto (o<br />
não dito, aquilo que tanto alunos, quanto professores trazem, carregado <strong>de</strong><br />
sentidos próprios criando as formas <strong>de</strong> relacionamento, po<strong>de</strong>r e convivência<br />
nas salas <strong>de</strong> aula). (BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais para o<br />
Ensino Fundamental, 1998: 6)<br />
Como percebemos, o conceito <strong>de</strong> currículo engloba não apenas planos e propostas,<br />
mas tudo aquilo que se movimenta em torno do processo educacional. Este conceito nos é<br />
caro pois nos permite enten<strong>de</strong>r que nossa discussão avança no sentido <strong>de</strong> estudar um objeto<br />
que é passível <strong>de</strong> mudanças, transformações. Essas mudanças se fazem pelo fato <strong>de</strong> que a<br />
história é constantemente reescrita, novas propostas curriculares são apresentadas, novos<br />
alunos, com diversas experiências, chegam à escola, e, para além disso, a cada dia, todos os<br />
sujeitos envolvidos na concretização do currículo adquirem novas experiências. Isso, por um<br />
lado, é algo instigante e, por outro, torna nosso trabalho mais complexo.<br />
Outro ponto fundamental trata-se enten<strong>de</strong>r a importância dos currículos na<br />
organização <strong>de</strong> nosso trabalho, do trabalho dos educadores. Nas palavras <strong>de</strong> Miguel Arroyo,<br />
o currículo é o pólo estruturante <strong>de</strong> nosso trabalho. As formas em que<br />
trabalhamos, a autonomia ou falta <strong>de</strong> autonomia, as cargas horárias, o<br />
isolamento em que trabalhamos... <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>m e estão estreitamente<br />
condicionados às lógicas em que se estruturam os conhecimentos, os<br />
conteúdos, matérias e disciplinas nos currículos. (ARROYO, 2007: 18)
Por se tratar <strong>de</strong> um trabalho ainda em curso, damo-nos a liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> apresentar, aqui,<br />
indagações e problematizações que nos são provocações, e que estão latentes em nossa<br />
investigação. São, <strong>de</strong> toda forma, questões para que possamos refletir. Com base na<br />
proposição <strong>de</strong> Arroyo, questionamo-nos: nossos professores são ativos na elaboração dos<br />
currículos oficiais? Eles conhecem os documentos que versam sobre a organização curricular,<br />
produzidos pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional <strong>de</strong> Educação? Ainda sobre<br />
esses documentos: as abertura e “brechas” que neles se fazem presentes são, igualmente,<br />
conhecidas? Esses são pontos <strong>de</strong> discussão que nos permitem conhecer qual a lógica seguida<br />
por nossos professores para a estruturação curricular.<br />
Esse é um ponto importante pois que tem sido comum ouvirmos <strong>de</strong> professores da<br />
educação básica que os currículos oficiais propostos pelo MEC e pelas secretarias estaduais<br />
<strong>de</strong> educação são fechados e não permitem que eles construam suas próprias propostas<br />
curriculares, implementando temas que consi<strong>de</strong>rem pertinente. Contudo, ao analisar esses<br />
documentos, percebemos algo que vai <strong>de</strong> encontro a essa perspectiva. Nas Diretrizes<br />
Curriculares Nacionais, observamos:<br />
Ao <strong>de</strong>finir as Diretrizes Curriculares Nacionais, a Câmara <strong>de</strong> Educação<br />
Básica do CNE inicia o processo <strong>de</strong> articulação com Estados e Municípios,<br />
através <strong>de</strong> suas próprias propostas curriculares, <strong>de</strong>finindo ainda um<br />
paradigma curricular para o Ensino Fundamental, que integra a Base<br />
Nacional Comum, complementada por uma Parte Diversificada, a ser<br />
concretizada na proposta pedagógica <strong>de</strong> cada unida<strong>de</strong> escolar do País.<br />
(BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental,<br />
1998: 6)<br />
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais <strong>de</strong> <strong>História</strong> – PCNs, notamos:<br />
[...] os conteúdos são apresentados apenas como sugestões <strong>de</strong> possibilida<strong>de</strong>s,<br />
que não <strong>de</strong>vem ser trabalhadas na sua integrida<strong>de</strong>. O professor po<strong>de</strong><br />
selecionar alguns temas históricos, alguns procedimentos <strong>de</strong> estudo e<br />
atitu<strong>de</strong>s importantes <strong>de</strong> serem valorizados <strong>de</strong> acordo com o diagnóstico que<br />
faz dos domínios dos alunos e <strong>de</strong> acordo com questões contemporâneas<br />
pertinente à realida<strong>de</strong> social, econômica, política e cultural, da localida<strong>de</strong><br />
on<strong>de</strong> mora, da sua região, do seu país e do mundo. (BRASIL, PCNs, 1998:<br />
55-56)<br />
Percebemos, pois, que estes dois documentos – o primeiro (as Diretrizes) orienta a<br />
organização dos currículos, em geral, e, o segundo (os PCNs), orienta a organização dos<br />
currículos <strong>de</strong> história, em especial – não se apresentam como algo a ser rigorosamente<br />
cumpridos. Quando, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, é feita a referência às propostas<br />
pedagógicas <strong>de</strong> cada escola, visualizamos uma abertura para os professores atuarem no<br />
sentido <strong>de</strong> realizar aquilo que eles têm reclamado. É um espaço, portanto, do qual nossos<br />
3
profissionais po<strong>de</strong>m se valer para incorporar, ao currículo, temas, discussões, métodos e o que<br />
mais ansiarem, <strong>de</strong> acordo com o que for pertinente. Quanto aos PCNs, notamos que é dito que<br />
os conteúdos são apresentados como sugestões, mas que não se trata <strong>de</strong> uma obrigatorieda<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> trabalhar com todos eles. O que temos são possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estudos, lançadas como algo a<br />
nortear a organização dos planos <strong>de</strong> trabalho <strong>de</strong> nossos professores. Além disso, percebemos,<br />
também, que é abordada a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> o professor articular a proposta feita com as<br />
condições sociais, econômicas, políticas e culturais da localida<strong>de</strong> em que vive. Isso nos<br />
permite dizer que, ao contrário do que temos ouvido, a proposta dos PCNs não é uma amarra,<br />
que engessa o trabalho <strong>de</strong> professores e lhes cerceia toda a liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong> construção curricular.<br />
Po<strong>de</strong>mos, também, apresentar alguns pontos estabelecidos pela Lei <strong>de</strong> Diretrizes e<br />
Bases da Educação Nacional - LDBs, <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1996, que estabelece bases e diretrizes<br />
para a organização escolar no Brasil, em todos os níveis. O primeiro artigo <strong>de</strong>ssa lei diz:<br />
A educação abrange os processos formativos que se <strong>de</strong>senvolvem na vida<br />
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições <strong>de</strong> ensino e<br />
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da socieda<strong>de</strong> civil e nas<br />
manifestações culturais. (BRASIL, LDBs, 2010: 7)<br />
Consi<strong>de</strong>rando esta perspectiva, e resgatando a concepção <strong>de</strong> currículo com a qual<br />
estamos trabalhando 2 , é possível problematizar a questão da construção dos currículos nas<br />
escolas públicas. Notamos, a partir das LDBs, que a educação é um processo que se dá não<br />
apenas no ambiente escolar, ou em sala <strong>de</strong> aula. Ao contrário, trata-se <strong>de</strong> um movimento mais<br />
ampo, que se concretiza a partir das experiências cotidianas <strong>de</strong> cada sujeito. A escola, a sala<br />
<strong>de</strong> aula, e o ensino <strong>de</strong> história, estão em constante relação com essas experiências. Os<br />
aspectos da vida familiar, as relações sociais estabelecidas a partir do trabalho, entre outros<br />
aspectos, articulam-se ao <strong>de</strong>sempenho escolar <strong>de</strong> cada aluno. Tal fato se dá por diversos<br />
motivos. Primeiro, não po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>rar que todos esses aspectos obtidos a partir da<br />
vida cotidiana influenciam na construção do conhecimento por cada aluno. Outro ponto é que,<br />
na elaboração dos currículos, a “realida<strong>de</strong> social” que permeia o cotidiano escolar <strong>de</strong>ve ser<br />
tomada como campo indissociável da prática docente.<br />
Outra questão que nos tem chamando a atenção é o fato <strong>de</strong> que a escola pública tem<br />
sido consi<strong>de</strong>rada, inclusive pela mídia, como o espaço do fracasso, da dificulda<strong>de</strong> e do<br />
2 A concepção <strong>de</strong> currículo com a qual estamos trabalhando é aquela abordada pelas Diretrizes Curriculares<br />
Nacionais, <strong>de</strong> 1998, conforme já citado anteriormente.<br />
4
<strong>de</strong>sencanto. A Revista Carta Capital, em uma matéria intitulada “Na terra <strong>de</strong> Marlboro”,<br />
escrita por Sandra <strong>Santos</strong>, refere-se ao cotidiano escolar da seguinte maneira:<br />
As aulas começam tensas. Os jovens têm o péssimo hábito <strong>de</strong> falar ao mesmo tempo<br />
que os professores. [...] Os alunos brigam <strong>de</strong>ntro da sala <strong>de</strong> aula (inclusive com<br />
socos e pontapés) e se o mestre tenta tomar providências, a ameaça está na ponta<br />
da língua: “Tenho um ‘três-oitão’, lá em casa” – frase <strong>de</strong> uma aluna <strong>de</strong> 7ª séria<br />
que, infelizmente, não é exceção. (SANTOS, 2006: 8)<br />
Essas matérias, que tratam diretamente do ofício do professor, conferem <strong>de</strong>staque ao<br />
viés da violência, do fracasso e do <strong>de</strong>sinteresse a permearem as relações sociais entre os<br />
diversos agentes que estão envolvidos no processo educativo. Nessa mesma matéria, po<strong>de</strong>mos<br />
<strong>de</strong>stacar, também, o seguinte trecho:<br />
Numa reunião, Professora falou <strong>de</strong> sua insegurança e do medo <strong>de</strong> ser agredida<br />
fisicamente. Foi ridicularizada. Semanas <strong>de</strong>pois, após uma vitória do Corinthians,<br />
um grupo <strong>de</strong> alunos da 8ª série 3 comemorou tentando sufocar a docente com a<br />
ban<strong>de</strong>ira do time... Ela escrevia na lousa quando um rapaz <strong>de</strong> 15 anos a cobriu com<br />
o pano e a puxou para trás, tentando <strong>de</strong>rrubá-la. Professora, que é hipertensa,<br />
exigiu providências que, então, foram tomadas: o aluno recebeu uma suspensão <strong>de</strong><br />
dois dias. Não havia como negligenciar. (SANTOS, 2006: 9)<br />
Essas questões têm sido abordadas frequentemente pela mídia. Trata-se <strong>de</strong> uma<br />
concepção <strong>de</strong> que a escola pública não consegue mais cumprir com seu papel <strong>de</strong> ensinar. Ela é<br />
tida como o ambiente em que a violência e a abnegação são fatores fortemente presentes. Não<br />
queremos, aqui, negar que a escola tenha problemas e conflitos. Estes são, por sinal,<br />
característicos das relações humanas. Contudo, questionamo-nos: o ensino <strong>de</strong> história, em<br />
suas múltiplas abordagens, po<strong>de</strong> contribuir para transformar essa realida<strong>de</strong>? Quais fatores são<br />
responsáveis por essa concepção <strong>de</strong> que a escola está em crise? Visualizamos, a partir <strong>de</strong>sses<br />
questionamentos, a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> que seja mantido pelos profissionais <strong>de</strong> história da<br />
educação básica, e mesmo por nós, da Universida<strong>de</strong>, o espírito crítica e que se propõe a<br />
refletir.<br />
Nesse sentido, pensando no que o ensino <strong>de</strong> história po<strong>de</strong> contribuir, lembramo-nos <strong>de</strong><br />
Elza Nadai, quando, em seu texto O Ensino <strong>de</strong> <strong>História</strong> no Brasil: trajetória e perspectiva,<br />
ela, se utilizando <strong>de</strong> alguns apontamentos feitos por Murilo Men<strong>de</strong>s, ainda nos anos <strong>de</strong> 1930,<br />
apresenta algumas mazelas sofridas pelo ensino <strong>de</strong> história. Entre essas mazelas, <strong>de</strong>stacamos:<br />
o fato <strong>de</strong> os alunos não gostarem da história, <strong>de</strong> eles valerem-se da “cola” para obter<br />
aprovação nos exames, entre outros. Men<strong>de</strong>s ressalta que não atribui à juventu<strong>de</strong> a culpa pelo<br />
3 A 8ª série a que se refere a matéria é, hoje, o chamado 9º Ano do ensino fundamental.<br />
5
ódio à disciplina. Ao contrário, diz que “a <strong>História</strong>, como lhes é ensinada, é realmente<br />
odiosa.” (MENDES apud NADAI, set. 92 / ago. 93, p. 143).<br />
Nessa linha <strong>de</strong> raciocínio, Nadai questiona:<br />
Em que medida as questões apontadas são válidas para a juventu<strong>de</strong> e a escola<br />
contemporâneas? Terão os estudantes superado a i<strong>de</strong>ia “<strong>de</strong> que a história como lhes<br />
é ensinada é realmente odiosa” e os professores partido para a organização <strong>de</strong><br />
outras práticas pedagógicas mais significativas? Em que medida discurso e prática se<br />
unificam? Para que direção elas apontam? (NADAI, set. 92 / ago. 93: 143)<br />
O questionamento <strong>de</strong> Nadai nos chama a atenção pelo fato <strong>de</strong> que, mesmo passados<br />
quase oitenta anos <strong>de</strong> quando Men<strong>de</strong>s chegava a tais conclusões, essas indagações estão<br />
latentes em nossas discussões. Seguindo o passo <strong>de</strong> Nadai, perguntamos, também: o que seria<br />
um ensino <strong>de</strong> história que superasse as mazelas apontadas por Men<strong>de</strong>s? Esta indagação nos<br />
remete à argumentação da professora Déa Ribeiro Fenelon, que afirma:<br />
Não tenho dúvida <strong>de</strong> que para fazer avançar qualquer proposta concreta<br />
como professores <strong>de</strong> <strong>História</strong> [...], temos <strong>de</strong> assumir a responsabilida<strong>de</strong><br />
social e política com o momento vivido. Para isto, seria necessário, antes <strong>de</strong><br />
mais nada, romper com uma maneira tradicional <strong>de</strong> conceber conhecimento,<br />
sua produção e sua transmissão. Isto significa, em primeiro lugar, o<br />
posicionamento no presente, para sermos coerentes com a postura <strong>de</strong><br />
“sujeitos da <strong>História</strong>”. Se queremos avançar nessa perspectiva, temos <strong>de</strong> nos<br />
consi<strong>de</strong>rar como “produtores” nessa socieda<strong>de</strong> que queremos <strong>de</strong>mocrática e<br />
não como simples repetidores e reprodutores <strong>de</strong> concepções ultrapassadas.<br />
(FENELON, 1982: 8)<br />
A posição <strong>de</strong> Fenelon sugere que fazer e ensinar <strong>História</strong> é ativida<strong>de</strong> que exige que<br />
nos posicionemos não como simples agentes reprodutores <strong>de</strong> um “conhecimento” já acabado,<br />
consolidado, mas como sujeitos ativos em sua construção, na construção da <strong>História</strong>. Além<br />
disso, sua proposição rompe, diretamente, com os mol<strong>de</strong>s tradicionalistas <strong>de</strong> produzir<br />
<strong>História</strong>, à medida em que <strong>de</strong>ixa evi<strong>de</strong>nte que temos que nos responsabilizar quanto ao<br />
momento social e político vivido, o que significa que fazer <strong>História</strong> é pensar passado e<br />
presente <strong>de</strong> forma articulada, levando em conta, então, não só a subjetivida<strong>de</strong>, mas, também,<br />
as inserções sociais e os compromissos políticos do historiador, <strong>de</strong> modo mais amplo.<br />
Temos lutado por um ensino <strong>de</strong> <strong>História</strong> que contribua para a formação <strong>de</strong> alunos<br />
críticos, que tenham consciência <strong>de</strong> que fazer <strong>História</strong> não é apenas estudar o passado, mas é<br />
exercício que não po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>svinculado das condições do presente, que tenham consciência<br />
<strong>de</strong> que o conhecimento histórico é algo que precisa ser (re)pensado constantemente, que<br />
tenham consciência <strong>de</strong> que somos nós mesmos que construímos nossa história. Queremos<br />
produzir uma <strong>História</strong> (e ensiná-la) em que todos os sujeitos envolvidos, não só os<br />
6
pertencentes às classes <strong>de</strong>tentoras <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r político, mas também os das “camadas populares”<br />
(DAVIES, 2011), possam “fazer parte da cena, não como coadjuvantes ou figurantes, porém,<br />
como atores <strong>de</strong> seu tempo.” (MACHADO, 1999: 2)<br />
Neste mesmo sentido, po<strong>de</strong>mos abordar, ainda, os Conteúdos Básicos Curriculares da<br />
área <strong>de</strong> <strong>História</strong> – CBCs – do estado <strong>de</strong> Minas Gerais, que apresentam uma série <strong>de</strong><br />
proposições. Notamos o esforço <strong>de</strong> ruptura com a história tradicionalista, a nova concepção <strong>de</strong><br />
documentos e, principalmente, o espaço para as camadas populares na história. Esse<br />
documento, norteador dos currículos oficiais do estado <strong>de</strong> Minas Gerais, traz uma abordagem<br />
que, relacionada ao que dizia Fenelon, nos permite refletir sobre as possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> trabalho<br />
com a disciplina <strong>de</strong> <strong>História</strong>. (BRASIL, Minas Gerais, CBCs <strong>de</strong> <strong>História</strong>, 2010: 14)<br />
Insistimos, portanto, na necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar os <strong>de</strong>bates sobre ensino <strong>de</strong> história e<br />
currículo como uma problemática em aberto e como um objeto <strong>de</strong> pesquisa histórica,<br />
pensando a escola pública como campo fértil <strong>de</strong> investigação e como um <strong>de</strong>safio que se<br />
apresenta a nós. Propomos o exercício <strong>de</strong> refletir, constantemente, sobre uma questão que, se<br />
pensada <strong>de</strong> forma mais ampla, po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>sdobrada em várias outras: que ensino <strong>de</strong> história<br />
queremos?<br />
Referências:<br />
BRASIL. Lei <strong>de</strong> Diretrizes e Bases da Educação Nacional: lei n. 9.394, <strong>de</strong> 20 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong><br />
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 5. ed. Brasília: Câmara dos<br />
Deputados, Coor<strong>de</strong>nação Edições Câmara, 2010.<br />
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional <strong>de</strong> Educação. Câmara <strong>de</strong> Educação<br />
Básica. Parecer CEB n.4/98. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.<br />
Brasília, DF: MEC/SEB, 1998.<br />
______. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: <strong>História</strong>. Brasília:<br />
Ministério da Educação, Secretaria <strong>de</strong> Educação Fundamental, 1998.<br />
FENELON, Déa Ribeiro. A formação do historiador e a realida<strong>de</strong> do ensino. Projeto <strong>História</strong>.<br />
São Paulo, n. 2, p. 7-19, ago. 1982.<br />
GONZÁLES ARROYO, Miguel. Indagações sobre currículo: educandos e educadores: seus<br />
direitos e o currículo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria <strong>de</strong> Educação Básica, 2007.<br />
MACHADO, Maria Clara Tomaz. Olhares sobre a cida<strong>de</strong>: o local e o regional na ótica do<br />
historiador. In: Anais do <strong>Encontro</strong> Uberlândia – Olhares sobre a cida<strong>de</strong>. Uberlândia, UFU,<br />
1999.<br />
7
MINAS GERAIS. Secretaria <strong>de</strong> Estado <strong>de</strong> Educação <strong>de</strong> Minas Gerais. Conteúdo Básico<br />
Comum - CBC. Conteúdos Básicos Curriculares <strong>de</strong> <strong>História</strong> do Ensino Fundamental. Belo<br />
Horizonte: SEE, 2010.<br />
NADAI, Elza. O ensino <strong>de</strong> história no Brasil: trajetória e perspectiva. Revista Brasileira <strong>de</strong><br />
<strong>História</strong>. São Paulo, v. 13, n. 25/26, p. 143-162, set. 1992/ago. 1993<br />
RICCI, Cláudia Sapag. Quando os discursos não se encontram: imaginário do professor <strong>de</strong><br />
história e Reforma Curricular dos anos 80 em São Paulo. Revista Brasileira <strong>de</strong> <strong>História</strong>. São<br />
Paulo, v. 18, n. 36, p. 68-88, 1998.<br />
SANTOS, Sandra. Na terra <strong>de</strong> Marlboro. Carta na Escola, São Paulo, n. 5, p. 8-11, abr. 2006.<br />
8