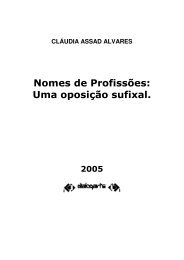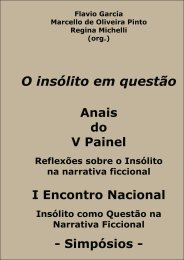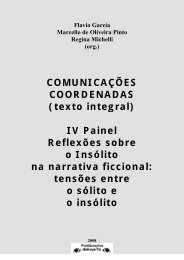Número 6 (jul-dez/06) - Dialogarts - Uerj
Número 6 (jul-dez/06) - Dialogarts - Uerj
Número 6 (jul-dez/06) - Dialogarts - Uerj
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Caderno Seminal Digital – Vol. 6 – Nº 6 – (Jul/Dez-20<strong>06</strong>). Rio de Janeiro: <strong>Dialogarts</strong>, 20<strong>06</strong>.<br />
ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
Semestral<br />
1. Lingüística Aplicada – Periódicos. 2. Linguagem – Periódicos. 3. Literatura -<br />
Periódicos. I. Título: Caderno Seminal Digital. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.<br />
CONSELHO CONSULTUVO<br />
André Valente (UERJ / FACHA)<br />
Clarissa Rolim Pinheiro Bastos (PUC–Rio)<br />
Claudio Cezar Henriques (UERJ / UNESA)<br />
Darcilia Simões (UERJ)<br />
Edwiges Zaccur (UFF)<br />
Fernando Monteiro de Barros Jr. (UERJ)<br />
Flavio Garcia (UERJ / UNISUAM)<br />
Flora Simonetti Coelho (UERJ)<br />
José Lemos Monteiro (UFC/ UECE/ NIFOR)<br />
José Luís Jobim (UERJ / UFF)<br />
José Carlos Barcellos (UERJ / UFF)<br />
Magnólia B. B. do Nascimento (UFF)<br />
Maria do Amparo Tavares Maleval (UERJ)<br />
Maria Geralda de Miranda (UNISUAM / UNESA)<br />
Maria Leny H. de Almeida (UERJ)<br />
Maria Teresa G. Pereira (UERJ)<br />
Nícia Ribas d’Ávila (Paris VIII)<br />
Regina Michelli (UERJ / UNISUAM)<br />
Sílvio Santana Júnior (UNESP)<br />
Valderez H. G. Junqueira (UNESP)<br />
Vilson José Leffa (UCPel-RS)<br />
EDITORA<br />
Darcilia Simões<br />
CO-EDITOR<br />
Flavio Garcia<br />
ASSESSOR EXECUTIVO<br />
Cláudio Cezar Henriques<br />
DIAGRAMAÇÃO<br />
Carlos Henrique de Souza Pereira (EXT)<br />
REVISÃO<br />
Sandra da Silva Santos (EXT)<br />
PROJETO DE CAPA<br />
Carlos Henrique de Souza Pereira (EXT)<br />
LOGOTIPO<br />
Rogério Coutinho<br />
Contato: dialogarts@oi.com.br<br />
publicações.dialogarts@oi.com.br<br />
seminal@oi.com.br<br />
2
Publicações <strong>Dialogarts</strong> é um Projeto Editorial de Extensão Universitária<br />
da UERJ do qual participam o Instituto de Letras (Campus Maracanã) e a<br />
Faculdade de Formação de Professores (Campus São Gonçalo). O objetivo<br />
deste projeto é promover a circulação da produção acadêmica de qualidade,<br />
com vistas a facilitar o relacionamento entre a Universidade e o contexto<br />
sociocultural em que está inserida.<br />
O Projeto teve início em 1994 com publicações impressas pela<br />
DIGRAF/UERJ. Em 2004, impulsionado pelas dificuldades encontradas no<br />
momento, surgiram, com recursos e investimentos próprios dos coordenadores<br />
do Projeto, as produções digitais com vistas a recuperar a ritmo de suas<br />
publicações e ampliar a divulgação.<br />
Visite nossa página:<br />
http://www.dialogarts.uerj.br<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
3
ÍNDICE<br />
CONTOS, FÁBULAS, MITOS E LE AVVENTURE<br />
DI PINOCCHIO .......................................................................................... 7<br />
ALESSANDRA GARRIDO SOTERO – UNISUAM / UFRJ ............................7<br />
AS DIFERENTES REALIZAÇÕES DO “S” IMPLOSIVO<br />
E DA VIBRANTE: REFLEXOS DE FATORES HISTÓRICO,<br />
SOCIAIS E DEMOGRÁFICOS DA CIDADE<br />
DO RIO DE JANEIRO ............................................................................ 34<br />
ÂNGELA MARINA BRAVIN DOS SANTOS – FAMA ................................. 34<br />
A DESCONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL<br />
A PARTIR DO IMAGINÁRIO MITOLÓGICO EM<br />
UBIRAJARA, DE JOSÉ DE ALENCAR ............................................... 48<br />
ALEXANDRA VIEIRA DE ALMEIDA – UERJ............................................48<br />
AS FERRAMENTAS PARA COMPREENSÃO DE UM TEXTO ...... 69<br />
CHARLESTON CHAVES – UERJ..............................................................69<br />
A EXPRESSÃO VARIÁVEL DO IMPERATIVO<br />
NAS TIRAS DO “MENINO MALUQUINHO”..................................... 84<br />
JEFERSON DA SILVA ALVES – UNIFACS / UFBA ................................ 84<br />
AFINAL, QUE HISTÓRIA É ESSA DE<br />
INGLÊS INTERNACIONAL?................................................................ 95<br />
ZAINA APARECIDA ABDALLA NUNES – PUC / SP ................................. 95<br />
A REDAÇÃO DO VESTIBULAR:<br />
ESTRUTURA E COERÊNCIA ARGUMENTATIVA ....................... 109<br />
CINARA FERREIRA PAVANI – UCS ......................................................109<br />
VANILDA SALTON KOCHE – UCS ........................................................109<br />
REVISITANDO CRÁTILO.................................................................... 127<br />
GABRIEL DE ÁVILA OTHERO – PUC / RS.............................................127<br />
GUSTAVO BRAUNER – PUC/RS ...........................................................127<br />
UMA CASA PARA UM DISCURSO<br />
CONTEMPORÂNEO EM PORTUGAL ............................................. 137<br />
JUREMA JOSÉ DE OLIVEIRA – UERJ.....................................................137<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
4
A HAPLOLOGIA MORFOLÓGICA DAS<br />
FORMAS X-ÇÃO: ENFOQUE DIACRÔNICO E<br />
REPRESENTAÇÃO MORFO-PROSÓDICA .................................... 148<br />
CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES – UFRJ / CNPQ .............................148<br />
LUCIANA DE ALMEIDA SILVA – UFRJ .................................................148<br />
A MORFOLOGIA DERIVACIONAL NA GRAMÁTICA<br />
GERATIVA E SUA CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO<br />
FUNDAMENTAL E MÉDIO ................................................................ 165<br />
ANTÔNIO SÉRGIO CAVALCANTE DA CUNHA – UERJ / FFP ..................165<br />
O RUGIR DO LEÃO (O JARGÃO DOS<br />
RODOVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO) ........................................... 182<br />
LUIZ FERNANDO DIAS PITA – FAFIMA / UFRJ .................................. 182<br />
O SENTIDO DA TERRA E O SENTIDO DIVINO:<br />
A LEITURA E A SUBVERSÃO DA ICONOGRAFIA E DOS<br />
VALORES CRISTÃOS EM O EVANGELHO SEGUNDO JESUS<br />
CRISTO DE JOSÉ SARAMAGO.......................................................... 195<br />
JEFFERSON EDUARDO PEREIRA BESSA – UERJ ................................... 195<br />
VIVA O POVO BRASILEIRO:<br />
FÉ NA NEGRITUDE E NA POBREZA............................................... 210<br />
RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DE QUEIROZ – UEFS / BA ...........................210<br />
UM PROBLEMA DE GÊNERO EM MURILO RUBIÃO:<br />
“O PIROTÉCNICO ZACARIAS” E “A CIDADE”,<br />
COMO EXEMPLO ................................................................................ 223<br />
ANGÉLICA MARIA SANTANA BATISTA – UERJ ................................... 223<br />
PRODUÇÃO DE BASE PICTORIAL NA<br />
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ......................................................... 242<br />
MARIA SUSETT. B. SANTADE –<br />
FIMI / FMPFM/MOGI-GUAÇU / SP / UERJ.........................................242<br />
DARCILIA SIMÕES – UERJ / PUC – SP / SUESC ................................. 242<br />
COERÊNCIA E COESÃO EM XEQUE:<br />
DA TEORIA À PRÁTICA DE SALA DE AULA................................ 251<br />
GLAUCIA MUNIZ PROENÇA LARA – UFMS / UFMG ............................251<br />
A FILOLOGIANA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE<br />
OCUPAÇÕES ......................................................................................... 271<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
5
JOSÉ PEREIRA DA SILVA – UERJ .........................................................271<br />
DIFICULDADES DE LEITURA OU DISLEXIA:<br />
UMA QUESTÃO DE GRAUS?............................................................. 283<br />
CLÁUDIA MARTINS MOREIRA – UESC / UFBA................................... 283<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
6
Contos, fábulas, mitos e Le avventure<br />
di Pinocchio<br />
Alessandra Garrido Sotero – UNISUAM / UFRJ<br />
A história de Pinóquio surgiu primeiramente em forma de folhe-<br />
tim, apresentada de <strong>jul</strong>ho de 1881 a janeiro de 1883, no Giornale per<br />
i bambini, sob o nome de La storia di un burattino. No mesmo ano de<br />
1883, seu ator, Carlo Lorenzini, conhecido pelo nome literário de<br />
Carlo Collodi, publica o livro Le avventure di Pinocchio: storia di<br />
um burattino, que se tratava da história anteriormente citada acresci-<br />
da de vinte e um capítulos. Em folhetim, a história terminava no<br />
capítulo XV, com a provável morte de Pinóquio; no livro, a história<br />
continuava até o capítulo XXXVI, com a transformação da marionete<br />
em ser humano.<br />
Logo, é importante sublinhar, trata-se de uma obra literária,<br />
produzida em um momento específico, por um autor específico, mas<br />
por Collodi trabalhar a partir das formas simples, pretendemos des-<br />
crever de que maneira Le avventure di Pinocchio incorpora caracte-<br />
rísticas seja da Fábula, seja do Conto, seja do Mito.<br />
“Era uma vez...” começam as histórias infantis. Mas, há quan-<br />
tos séculos refere-se esse “era uma vez”? Se vasculharmos a nossa<br />
memória à procura de leituras de infância, vislumbraremos, por e-<br />
xemplo, algumas imagens do ambiente medieval: cavaleiros vestidos<br />
com armaduras buscando libertar uma bela castelã, ou lutas de heróis<br />
com dragões, crianças abandonadas na floresta.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
7
As fábulas, sabe-se, são bem mais velhas do que Perrault e<br />
Grimm. Remontam à pré-história, e, filhadas dos elementos que a<br />
elas se agregaram ao longo dos anos, servem aos estudiosos de etno-<br />
logia como o principal, e, quase único rudimento que nos resta da-<br />
quelas superdistantes épocas.<br />
Não se tem conhecimento preciso da origem das fábulas, mas<br />
sabe-se que, juntamente com o Conto e com o Mito, as fábulas são<br />
tidas como uma das primeiras formas literárias narrativas do mundo.<br />
Comumente, considera-se que a Fábula tenha nascido no Oriente e<br />
que Esopo a teria transportado para a Grécia.<br />
Outra hipótese, baseando-se nos contatos e recíprocas influên-<br />
cias culturais entre Oriente e Ocidente, vê a Fábula nascendo simul-<br />
taneamente na África, na Europa e no Oriente. Mas, fiquemos aqui<br />
com a proposta de Aveleza de Souza.<br />
Conforme Manuel Aveleza de Souza , em seu livro As fábulas<br />
de Esopo,1999: p.XXVI, as Fábulas surgem quando os homens co-<br />
meçam a trocar idéias sobre fatos do dia-a-dia, situações para as<br />
quais se procuravam respostas, principalmente no campo da convi-<br />
vência social. Como ocorre com o discurso oral, a Fábula, ainda nes-<br />
se estágio, era aumentada e alterada a cada vez que era contada.<br />
Em Poética, à palavra Fábula são atribuídos dois significados<br />
distintos. O primeiro, fixado por Tomachevschi, no seu Teoria da<br />
Literatura, designa a série ou seqüência de incidentes que compõem<br />
a ação de qualquer obra narrativa. Assim, o conjunto dos eventos,<br />
ligados entre si, de uma epopéia, de um drama, de um romance, de<br />
um conto, constitui a Fábula nesse primeiro sentido.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
8
O segundo, como forma literária específica, e então, voltamos a<br />
referir Aveleza de Souza, que afirma costumar ser conceituada a<br />
Fábula como uma narração breve, em prosa ou verso, geralmente<br />
constituída de personagens do mundo animal, sob uma ação alegóri-<br />
ca, e através de uma situação exemplar tem como objetivo transmitir<br />
um ensinamento moral aos leitores, ou seja, paradigmas de compor-<br />
tamento social com base no bom-senso popular (1999: XXVIII).<br />
A definição oferecida pelo pesquisador se baseia, principalmen-<br />
te, nas Fábulas de Esopo, conhecido no mundo Ocidental como o<br />
precursor do gênero. As Fábulas de Esopo foram fonte para o conhe-<br />
cimento do gênero no mundo ocidental, no final do século V a.C.,<br />
tendo sido reunidas por Demétrio de Falero.<br />
Esopo, Originário da Frigia, crê-se, viveu no século VI a.C. A<br />
mais antiga notícia que se tem a respeito nos chegou através de He-<br />
ródoto, que afirmou ter sido o fabulista escravo na casa dos Iamon.<br />
Porém, em verdade, sua existência é questionada, e, por conseguinte,<br />
a autoria das Fábulas que lhe são atribuídas. Mas, tido como o “pai”<br />
das Fábulas, Esopo é um retórico que soube adaptar as histórias ori-<br />
entais que à sabedoria grega.<br />
As fábulas esópicas representavam, na época, uma maneira de<br />
se contar ao povo o que estava acontecendo naquela sociedade em<br />
termos sócio-políticos. Relatavam, geralmente, conflitos entre fortes<br />
e fracos, denotando a preocupação de, na maioria das vezes, alertar, e<br />
não dar soluções.<br />
De acordo com Souza, as fábulas esópicas foram as difusoras<br />
em atribuir virtudes e defeitos humanos a determinados animais nas<br />
histórias (1999: p.XXIX). Entretanto, acredita-se, que antes dessas<br />
fábulas, já era comum aos homens fazerem tais atributos, visto que<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
9
na Antiguidade, o homem vivia muito perto dos animais, seja no<br />
trato doméstico, seja na caça.<br />
As cenas simbolizadas pelos animais representam situações hu-<br />
manas, que, muitas vezes, não podiam ser mostradas diretamente.<br />
Assim, por exemplo, na simbologia, o leão poderia representar a<br />
majestade, a raposa a velhacaria, o lobo a brutalidade, a formiga a<br />
previdência. Os animais poderiam servir também como disfarces<br />
para atingir pessoas que detinham o poder e a maneira como o utili-<br />
zavam.<br />
Além dos seres irracionais, percebe-se, em minoria, nas fábulas<br />
esópicas, objetos, deuses mitológicos e pessoas.<br />
O segundo período da Fábula tem início com Caio Julio Fedro<br />
(Macedônia, 15 a.C.-Roma c.50). Apesar de sua existência também<br />
ser contestada, fábulas atribuídas a ele foram datadas no século I a.C.<br />
As suas Fábulas foram divulgadas no tempo de Tibério e Calígula,<br />
consideradas por muitos adaptações de Esopo, em versão metrifica-<br />
da, e com ênfase no aspecto moral das histórias de animais.<br />
Ao fabulista latino é atribuído o mérito de ter fixado a forma li-<br />
terária da Fábula, reivindicando para ele um lugar na poesia.<br />
As histórias escritas por Fedro são em geral, sátiras amargas,<br />
contra pessoas e costumes de seu tempo. Em seu primeiro livro afir-<br />
ma que a função da fábula é fazer rir, divertir e mostrar aos homens a<br />
necessidade de prudência. Declara-se também um seguidor de Esopo,<br />
inovando no sentido de escrever, com maior freqüência do que seu<br />
“mestre”, fábulas com personagens humanos.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
10
Outro importante escritor de fábula latino foi Aviano ou Avieno,<br />
cuja existência real é também questionada. Suas fábulas não têm<br />
datação precisa. Diz-se que são do século IV ou V d.C. Aviano, em<br />
seu livro, confessa que se baseou em Esopo, Sócrates, Fedro, Horá-<br />
cio, e Bábrio. Utiliza-se, em geral, de personagens humanos, e, ao<br />
contrário de Fedro, usa com muita freqüência a mistura, em uma<br />
mesma fábula, de animais com seres humanos, como já fazia também<br />
Esopo.<br />
O que podemos ressaltar aqui como informação interessante à<br />
nossa pesquisa é que em Aviano já se encontra a moral cristã, visto<br />
que, nos séculos IV e V d. C., o Cristianismo já se difundira pela<br />
Europa e também já se institucionalizara com a Igreja Católica. Por-<br />
tanto, podemos encontrar em suas fábulas muitos ensinamentos pro-<br />
venientes da moral cristã.<br />
O terceiro período da fábula inclui todos os fabulistas modernos,<br />
dos quais La Fontaine é considerado o mestre. A grande originalida-<br />
de apontada por Jean de La Fontaine (Chateau-Thierry, 1621- Paris,<br />
1695) é a de ter transformado a Fábula em um pequeno teatro. No<br />
século XVIII, La Fontaine encontrou muitos seguidores dos quais, na<br />
Itália, destacam-se Pignotti, Passeroni e Giorgi-Bertolá.<br />
No século XX, registram-se tentativas de dar continuidade lite-<br />
rária à Fábula. Na Itália, nosso campo de pesquisa, tem-se no Favole<br />
romanesche de Trilussa, escrito em dialeto do Trastevere, um exem-<br />
plo dessa tentativa, que perdeu espaço para as histórias em quadrinho<br />
e os desenhos animados.<br />
Como já escrevemos, respaldados por Aveleza de Souza, a ori-<br />
gem das Fábulas é imprecisa. E várias são as definições atribuídas ao<br />
vocábulo.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
11
O dicionário Aurélio registra a palavra Fábula com seus vários<br />
significados e registra também o verbo “fabular”, que deriva do pri-<br />
meiro vocábulo:<br />
Fábula sf 1. Narração alegórica, cujas personagens<br />
são, em regra, animais, e que encerra lição<br />
moral. 2. Mito 3. Lenda, ficção.<br />
Fabular v.t. narrar em forma de fábula, mentir,<br />
inventar. (Aurélio, 1993:144)<br />
Essas definições explicitam a abrangência semântica do vocábu-<br />
lo Fábula, tendo como significação primordial o conceito de fábula<br />
suscitado pela produção de Esopo, como podemos constatar na pri-<br />
meira definição. Essa nos respalda sobre aquela que propomos, se-<br />
guindo Manuel Aveleza de Souza. Verifica-se também o verbo<br />
fabular, que possui, entre outros, o significado de mentir, inventar.<br />
Constatamos no Diccionario Literario Universal, de José Anto-<br />
nio Perez Rioja, a mesma definição encontrada no verbete do dicio-<br />
nário Aurélio, cuja essência é utilizada por Manuel de Souza<br />
Aveleza:<br />
En su primera y más genérica acepción( La segunda<br />
equivale a argumento e asunto de una<br />
obra), la fábula es el relato breve, todavia más<br />
frecuente en verso que en prosa, escrito con fines<br />
didácticos, algunos de cujos protagonistas<br />
suelen ser animales o seres inanimados y cuja<br />
acción sirve de ejemplo para que de ella se segue<br />
una consecuencia referente a la conducta<br />
humana. (RIOJA, 1977)<br />
Simonsen, no livro O conto popular, faz uma interessante dife-<br />
renciação entre Fábula e Conto maravilhoso A Fábula, segundo ele,<br />
privilegia o caso, tendo uma função pedagógica evidente, enquanto o<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
12
Conto é feito para dar prazer, é um apelo ao prolongamento da narra-<br />
tiva (1987:13). Não se pode afirmar que a Fábula e o Conto possuam<br />
determinadas funções, mas é seguro que, em geral, a função morali-<br />
zante da Fábula é muito mais evidente do que no Conto. Por esse<br />
motivo, muitos estudiosos a caracterizaram com uma função peda-<br />
gógica.<br />
De acordo não só com a diferenciação que Simonsen nos fixa,<br />
mas também com as variadas leituras feitas de Contos populares,<br />
pode-se dizer que não há nestes a intenção moralizante evidente que<br />
se observa nas Fábulas.<br />
No Conto, como já foi dito, não há nenhuma pretensão aparente<br />
de ditar preceitos morais, a narrativa é elaborada pela fantasia, o<br />
texto é produzido pelo texto, pelo prazer que ele dá. Logo, entende-<br />
se o apelo citado por Simonsen ao prolongamento da história.<br />
Muitos estudos se têm feito sobre os Contos populares, princi-<br />
palmente por antropólogos e folcloristas, e, pode-se dizer que sua<br />
estrutura é muito pertinente no que concerne à nossa análise de Le<br />
avventure di Pinocchio, por este motivo, nos detivemos, a seguir, em<br />
estudá-lo.<br />
Para chegarmos a um entendimento sobre o que seja um Conto,<br />
precisamos, primeiramente, mostrar quais são as suas principais de-<br />
finições e porque as utilizações dos termos “contos folclóricos” ou<br />
“contos maravilhosos” para denominá-lo.<br />
De acordo com que André Jolles nos informa, sabe-se que os<br />
Contos só obtiveram para o mundo ocidental o sentido de forma<br />
literária, a partir da coletânea destes compiladas pelos Irmãos<br />
Grimm, sob o título Kinder-und Hausmarchen ( Contos para crianças<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
13
e Famílias). Foi essa coletânea, portanto, que fixou essa denomina-<br />
ção às histórias populares e reuniu-as em um conceito unificado, já<br />
que estas eram conhecidas pela população há muito tempo.<br />
Segundo André Jolles, no livro Formas simples, o teórico Wie-<br />
land nos fornece a melhor concepção do chamado gênero difundido<br />
como tal no século XVIII. Jolles, baseando-se nas palavras do estu-<br />
dioso citado, nos define desta maneira o Conto:<br />
O conto é uma forma de arte em que se reúnem,<br />
e podem ser satisfeitas em conjunto, duas tendências<br />
opostas da natureza humana, que são a<br />
tendência para o maravilhoso e o amor ao verdadeiro<br />
e ao natural (JOLLES, 1976: 191).<br />
Primeiramente, pode-se dizer a partir da citação lida que o Con-<br />
to incorpora em si características do maravilhoso e do mundo real,<br />
misturando-se e formando a sua estrutura, que é caracterizada, em<br />
essência pela presença desses dois elementos.<br />
Há uma vasta produção bibliográfica sobre o conto, que é estu-<br />
dado quanto à sua origem, análises estruturais e/ou morfológicas,<br />
estudos psicanalíticos, antropológicos etc.<br />
Vladimir Propp considera que os contos apresentam um possível<br />
arquétipo comum e, também, reminiscências dos ritos iniciáticos<br />
pagãos. Propp, nascido em 1895 em Leningrado, foi pioneiro nos<br />
estudos narratológicos, apesar de freqüentemente, não lhe atribuírem<br />
esse mérito. Antes de Lévi-Strauss publicar seu livro The Svage<br />
mind, em 1962, considerado pioneiro, Propp já falava de questões<br />
estruturais da narrativa. Em 1928 foi editado o seu mais importante<br />
estudo em termos narratológicos: Morfologia do conto maravilhoso.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
14
Antes de Propp dominavam as concepções atomísticas, que se<br />
baseavam na indecomponibilidade da narrativa. Prova disso é a mo-<br />
nografia, hoje vista como livro: Formas simples de A. Jolles, mesmo<br />
sendo publicada um ano depois do livro de Propp, considerava o<br />
Conto uma forma simples indecomponível.<br />
O livro Morfologia do conto maravilhoso foi consagrado, e<br />
também muito duramente criticado na década de 1960, época em que<br />
surgiram no Ocidente estudos narratológicos. Foi utilizado não só<br />
como modelo de análise estrutural dos textos folclóricos, como tam-<br />
bém para outros textos narrativos, influenciando os estudos estrutura-<br />
listas de maneira notória.<br />
Propp define o conto do ponto de vista morfológico, como todo<br />
desenvolvimento narrativo que partindo de um dano ou de uma ca-<br />
rência e passando por funções intermediárias, termina com um casa-<br />
mento ou outras funções utilizadas como desenlace (PROPP,1984:<br />
84).<br />
Do livro Oralità e scrittura nel sistema letterario, resultado de<br />
um congresso feito em Milão sobre o tema, em 1982, referenciamos<br />
a definição de Contos proposta por Cristina Lavinio, que afirma tra-<br />
tar-se de uma narração de fatos fantásticos, de ficção, percebidos<br />
como tais, apresentando um caráter profano, anacrônico e de espaço<br />
indeterminado. Afirma ainda que uma das características marcantes<br />
nos contos é o prazer pelo texto, ou seja, o gosto pela narração em si<br />
e sua estética. A partir dessa definição, constatamos duas caracterís-<br />
ticas pertinentes sobre o Conto, o tempo e o espaço indeterminado.<br />
Esses elementos configuram o maravilhoso, pois essa falta de preci-<br />
são fará com que os leitores aportem em uma outra organização do<br />
real.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
15
Baseada na teoria de Propp, a pesquisadora sustenta que apesar<br />
da invariabilidade da estrutura morfológica dos contos, que sempre<br />
retomam conhecidas funções, isto é, as mesmas ações de persona-<br />
gens, a variedade das circunstâncias intensificam o prazer pelo texto,<br />
não tornando-o previsível ou cansativo.( 1982: p.92-95).<br />
No mesmo livro, encontram-se ponderações importantes de Gi-<br />
ovanna Cerina sobre a temática tratada. Em sua opinião, a conhecida<br />
forma de abertura dos contos, “era uma vez”, seria uma espécie de<br />
passaporte que nos levaria para fora da realidade, para um mundo<br />
encantado. Enquanto a forma de fechamento dos contos, dessa vez<br />
mais variável, mas sempre com o final feliz, seria um movimento de<br />
retorno à realidade. As formas de abertura e fechamento dos Contos<br />
seriam, então, as marcas de separação, as fronteiras de mundos dife-<br />
rentes. O tempo do Conto é indeterminado e remoto, excluindo qual-<br />
quer tipo de determinação biográfica e histórica (CERINA, 1982:<br />
119-125).<br />
No livro Fiabe italiane, organizado por Italo Calvino, lemos<br />
uma definição baseada no folclore italiano. O grande escritor afirma<br />
que vai chamar de fiabe italiane os contos populares relatados pelo<br />
povo da Itália, assim sendo, integrados pela tradição oral no folclore.<br />
Um fator interessante salientado por Calvino é que homens, animais<br />
e coisas convivem em um todo unitário, sem divisões, e, conseqüen-<br />
temente, as inúmeras metamorfoses possíveis (CALVINO, 1992: 15-<br />
17).<br />
Se retomarmos, entretanto, o livro O conto popular, constatamos<br />
uma importante informação sobre os Contos, a popularidade desses.<br />
Simonsen afirma que um conto popular é aquele que se diz e se<br />
transmite oralmente (SIMONSEN, 1987: 5). Em seguida, detalha a<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
16
definição, acrescentando que o Conto é, antes de tudo, um relato não-<br />
tético, que não afirma a realidade do que ele representa mas, ao con-<br />
trário, procura mais ou menos deliberadamente destruir a ilusão rea-<br />
lista. (SIMONSEN, 1987: 9). Observa-se nos Contos quase sempre<br />
soluções e desfeches que contrariariam o bom senso popular das<br />
fábulas.<br />
A partir dessas definições, podemos entender que o Conto é fru-<br />
to da transmissão oral, da cultura do povo, do imaginário coletivo, e,<br />
por isto as denominações popular ou folclórico, que já denotam tais<br />
significações.<br />
Ao atribuirmos o complemento maravilhoso à nomenclatura<br />
Conto, referimos outra característica predominante nos contos, o<br />
caráter mágico, o maravilhoso propriamente dito. Portanto, entende-<br />
se assim, as denominações como os Contos são comumente conheci-<br />
dos: Contos maravilhosos, Contos folclóricos, Contos populares.<br />
O maravilhoso engloba o tempo e o espaço não determinados no<br />
Conto, o outro mundo no qual se entra a partir do “Era uma vez...”.<br />
Para Todorov, o maravilhoso é caracterizado por elementos sobrena-<br />
turais presentes em uma narrativa, que não provocam qualquer tipo<br />
de estranhamento nem do leitor implícito, nem das personagens<br />
(TODOROV, 1969: 160).<br />
Além de os contos apresentarem indeterminação quanto ao tem-<br />
po e ao espaço, possuem figuras características, como ogros, mons-<br />
tros, bruxas, dragões, reis, fadas, animais humanizados e várias<br />
outras formas de maravilhoso.<br />
É interessante ressaltar que esses seres convivem no maravilho-<br />
so de forma harmoniosa, podendo facilmente haver metamorfoses<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
17
entre os mundos animal e vegetal, conforme indicou Calvino, na sua<br />
afirmação acima.<br />
Os Contos populares/ maravilhosos, por muitos estudiosos, são<br />
chamados comumente também “Contos de fadas”. Esta nos parece<br />
uma nomenclatura incompleta, pois não são todos os Contos popula-<br />
res / maravilhosos que possuem fadas, como afirma Simonsen (1987:<br />
7).<br />
Fala-se conte de fées em francês, fairy-tale em inglês, cuento de<br />
hadas em espanhol, fiabe em italiano, marchen, em alemão. Em Por-<br />
tugal e no Brasil, foram divulgados no fim do século XIX, como<br />
“Contos da carochinha”. Câmara Cascudo os chamou também como<br />
“Contos de encantamento”. Hoje, no Brasil, as denominações mais<br />
conhecidas são “Contos de fadas” ou “Contos maravilhosos”.<br />
No Ocidente, os principais divulgadores dos contos maravilho-<br />
sos são Charles Perrault (séc. XVII), irmãos Grimm (início do século<br />
XIX) e Christian Andersen (séc. XIX), mas as primeiras coletâneas<br />
de recolhas desses contos, na Europa, são atribuídas à Straparola, em<br />
Le piacevoli notti (1550-1554) e Basile em Lo cunto degli cunti<br />
(1634). Segundo alguns estudiosos, seria Boccaccio, no séc. XIV, o<br />
pioneiro ocidental do gênero, com suas novelas, de fontes populares,<br />
no Decamerone.<br />
São exemplos clássicos de contos maravilhosos: A bela adorme-<br />
cida, Chapeuzinho vermelho, Branca de Neve, Cinderela, João e<br />
Maria, O Gato de botas etc.<br />
Provavelmente, poderíamos atribuir ao Conto a função de diver-<br />
timento, enquanto que, o Mito têm sua função religiosa evidente<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
18
dentro dos contextos de sua criação. E por falar de Mito, convém<br />
discorrer brevemente sobre o assunto.<br />
No livro A psicanálise dos contos de fadas, Bruno Bettelheim<br />
estabelece distinções entre o Mito e os Contos de fadas, fornecendo<br />
aos pesquisadores do tema, precioso material de investigação.<br />
Segundo Bettelheim, o Mito tende a ser pessimista, enquanto o<br />
Conto, otimista, apontando possíveis soluções, mesmo que estas não<br />
estejam de acordo com preceitos morais. O Mito é irreversível, tende<br />
a projetar uma personalidade ideal: “Ele apresenta o seu tema de uma<br />
forma majestosa; transmite uma força espiritual; e o divino está pre-<br />
sente e é vivenciado na forma de heróis sobre-humanos...”<br />
(BETTELHEIM, 1980: 34).<br />
Observa-se, a partir das considerações tecidas pelo estudioso,<br />
que os mitos estão ligados ao divino, à religiosidade, portanto. Ge-<br />
ralmente, é um herói que os protagoniza, simbolizando particularida-<br />
des de uma cultura, uma crença. Não possui a flexibilidade de um<br />
Conto popular, que, geralmente, possui várias versões, e, é alterado a<br />
cada vez que se conta. O Mito é irremissível, e um exemplo claro<br />
dessa tipologia de narrativa é o Mito de Édipo.<br />
De acordo com Propp, em seu livro As raízes históricas do con-<br />
to maravilhoso, as distinções entre Conto e Mito ainda não são to-<br />
talmente claras, uma vez que podemos encontrar vestígios de Mitos<br />
nos Contos, através dos rituais. Então, define Mitos como “todas as<br />
narrativas sobre os deuses e seres divinos, cuja realidade um povo<br />
acredita efetivamente” (PROPP, 2002: 15).<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
19
Constata-se, portanto, o grande diferencial do Mito e de outros<br />
modelos de narrativa: o Mito se utiliza do maravilhoso como uma<br />
crença de um determinado povo.<br />
No livro O conto popular, Simonsen nos afirma que os Contos<br />
são fictícios, enquanto os Mitos são tidos como reais à sociedade<br />
pertencente. Verifica-se, então, a seguinte definição de mito, que se<br />
relaciona diretamente com o que falamos até aqui:<br />
O mito, ligado a um ritual, tem um conteúdo<br />
cosmogônico ou religioso. Simboliza as crenças<br />
de uma comunidade, e os acontecimentos fabulosos<br />
que ele narra são tidos como verdadeiros.<br />
(p.6, 1987)<br />
A palavra cosmogonia remete à origem do mundo e de seus<br />
componentes. Logo, o Mito, em geral, denota um “conteúdo cosmo-<br />
gônico”, como foi referenciado acima, busca, assim, explicar a ori-<br />
gem do universo, do Mundo, dos elementos naturais. Em verdade,<br />
trata-se de uma tentativa das diversas culturas antigas explicarem os<br />
fenômenos natuarais que não eram possíveis de se entender sem o<br />
avanço da ciência. É a busca do maravilhoso para suprir a defasagem<br />
de conteúdos científicos.<br />
Uma definição relevante de Mito nos é dada por José Antonio<br />
Perez Rioja, no Diccionario literario universal, 1977, prendendo a<br />
nossa atenção quanto à relevância do herói mítico: “El mito literario<br />
suele ser un personaje o heróe prototípico e simbólico, que perdura<br />
através del tiempo por su elevada significación humana, nacional o<br />
universal”.<br />
O herói mítico, portanto, tem papel fundamental no mito e ele<br />
só será assim considerado, se tiver uma significação relevante e uni-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
20
versal para determinada sociedade. Portanto, o principal elemento<br />
que permite a permanência do herói mítico no imaginário coletivo é<br />
sua denotação humana, que apela fortemente à história cultural de<br />
um povo.<br />
No livro Apocalípticos e integrados, de Umberto Eco, encon-<br />
tramos divagações sobre a formação do objeto mítico e como este<br />
repercute na sociedade.<br />
O mito, segundo Eco, é o resultado de uma universalização de<br />
um acontecimento particular. Pode-se dizer, que a universalização,<br />
assim como fundamenta Eco, é a conseqüência de um possível fato<br />
considerado heróico, aumentado e reformulado. O mito para ele seria<br />
uma espécie de hieróglifo, uma realidade fixada em determinado<br />
momento, imutável, que possui determinada significação para uma<br />
cultura (1999: 250).<br />
Assim, a personagem mítica tem um trajeto irreversível que a<br />
define, como constatamos na afirmação de Eco sobre a personagem<br />
mítica: “A personagem do mito encarna uma lei, uma exigência uni-<br />
versal, e deve, numa certa medida, ser, portanto, previsível...” (1999:<br />
250). Diferentemente do romance, o Mito nos oferece a previsibili-<br />
dade, pois se sabe que a história a ser narrada, chamada Mito, expli-<br />
cará determinado fenômeno natural ou social. E, portanto, a<br />
personagem encarnará essa explicação, sem possibilidades de mu-<br />
danças.<br />
Essas definições sobre os Mitos nos permitem constatar algumas<br />
características deles que são comuns nas opiniões de grande parte<br />
dos estudiosos sobre o assunto. O Mito, portanto, se trata de uma<br />
narração ligada à crença e ao divino, em que há um endeusamento e<br />
imutabilidade do herói.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
21
O termo Mito, atualmente, tem sido utilizado com outras acep-<br />
ções, porém fundadas nessa acepção anterior. Nos dicionários, como<br />
o popular Aurélio, na segunda definição encontramos “pessoa, fato,<br />
ou coisa real valorizados pela imaginação popular, pela tradição”.<br />
Assim, temos como exemplos, artistas, ídolos, figuras estereoti-<br />
padas, que vão ao encontro ao que Umberto Eco disse sobre a imuta-<br />
bilidade de determinados caracteres que os determinam. Um aspecto,<br />
ou um fato determina esses objetos míticos para uma sociedade, que<br />
os valoriza e os consagra no imaginário popular.<br />
Um exemplo sobre o qual Eco estuda é o Superman, represen-<br />
tando o mito da sociedade das massas, o herói do impossível. A his-<br />
tória do Superman em curso é negada e vista como presente imóvel,<br />
como afirma Eco (1999: 261). Discorre ainda sobre a identificação<br />
dos leitores e telespectadores com o super-herói, que representa um<br />
ideal mítico em uma sociedade em que as frustações, os complexos<br />
de inferioridades são comuns. “O herói positivo deve encarnar, além<br />
de todo limite pensável, as exigências de poder que o cidadão co-<br />
mum nutre e não pode satisfazer” (1999: 246-247). Por esses moti-<br />
vos, o herói é consagrado no imaginário popular e se tona mítico.<br />
Há muitos estudiosos que dedicaram as suas vidas a essa temáti-<br />
ca. Entretanto, não é o nosso objetivo discorrer profundamente sobre<br />
os Mitos, mas sim entender de que maneira se forma o herói mítico<br />
e/ou personagem mítico.<br />
Ao analisarmos o livro Le avventure di Pinocchio, verificamos a<br />
carga de mitificabilidade que amalgama a personagem principal, por<br />
isso o estudo sobre o herói mítico. Além disso, constatamos na estru-<br />
tura narrativa da obra de Collodi os diversos recursos das Fábulas e<br />
dos Contos de que ele se utiliza para compor a obra.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
22
O hibridismo de Le avventure di Pinocchio:<br />
No livro Le avventure di Pinocchio pode-se constatar uma ca-<br />
racterística fundamental do conto maravilhoso: o maravilhoso. Como<br />
foi já citado, Todorov considera que fatos sobrenaturais que não<br />
provocam nenhuma estranheza configuram o maravilhoso em uma<br />
narrativa. Na obra estudada, o maravilhoso a permeia sob diversos<br />
ângulos, seja através das personagens, seja através de mutações, seja<br />
através de situações grotescas, que refletem, muitas das vezes, o<br />
imaginário infantil.<br />
Algumas personagens como a Fada, os animais humanizados<br />
(Grilo, Gato, Raposa, Fuinhas, Papagaio, Serpente, Atum etc), os<br />
homens monstruosos, como o dono da companhia de marionetes e o<br />
Pescador faminto nos remetem ao universo desses Contos. A Fada,<br />
provável criação céltica, está presente em muitos dos Contos, por<br />
esse motivo a denominação “Contos de Fadas”. Os homens monstru-<br />
osos nos lembram os Ogros, personagens assustadores que, junta-<br />
mente com os estranhos animais, povoam também grande parte dos<br />
Contos populares.<br />
As mutações, da mesma maneira, são constantes na obra, como<br />
por exemplo, quando um pedaço de madeira se transforma em um<br />
boneco semi-humano, ou quando esse boneco se transforma em bur-<br />
ro ou em pessoa. Essas mutações nos fazem lembrar a citação de<br />
Calvino sobre os contos, que apresentam um universo unitário, em<br />
que não existem divisões entre os reinos da natureza. Essa caracterís-<br />
tica é retomada em Le avventure di Pinocchio; animais, vegetais e<br />
homens estão entrelaçados no mesmo universo de ação, tornando<br />
possíveis as mutações. Existem até mesmo, personagens que aglome-<br />
ram em si características desses três reinos da natureza, como o Pes-<br />
cador faminto:<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
23
.../parecia um monstro marinho. Em vez de cabelos,<br />
tinha na cabeça uma moita cerrada de<br />
mato verde. Verde era a pele do corpo, verdes<br />
os olhos, verde a barba compridíssima que descia<br />
até o chão. Parecia um enorme lagarto levantado<br />
sobre as patas traseiras. (Colasanti,<br />
2002: 124)<br />
A personagem principal, Pinóquio, apresenta também essa mis-<br />
celândia de elementos naturais, pois é feita de madeira, é transforma-<br />
da em animal no decorrer da história e finalmente em ser humano.<br />
Outras situações são nitidamente pertencentes ao maravilhoso,<br />
como o nariz de Pinóquio que cresce quando se conta uma mentira,<br />
ou a possível sobrevivência dele e de seu pai, Gepeto, no interior de<br />
um ser marinho. Constatamos assim, que o maravilhoso está presente<br />
na obra estudada de maneira inegável. Sabe-se que este está presente<br />
também nas Fábulas e nos Mitos, porém, a maneira como ele é con-<br />
cebido na obra tem relevante proximidade com os contos maravilho-<br />
sos. Primeiramente pela presença da Fada e dos Ogros, personagens<br />
constantes nos Contos, depois pela presença contínua, algomerada,<br />
ilimitada dos reinos naturais animal e vegetal.<br />
O tempo indeterminado dos Contos também é característica de<br />
Le avventure di Pinocchio. Verificamos essa atemporalidade logo no<br />
início da obra: Não sei como aconteceu, mas o fato é que um belo dia<br />
esse pedaço de madeira foi parar na oficina de um velho marcenei-<br />
ro... (COLASANTI, 2002: 7). O fator de indeterminação de tempo<br />
nos é fornecido pela expressão un bel giorno. Não sabemos, desta<br />
maneira, a época precisa em que a narração aconteceu. Além disso, a<br />
maneira como começa, como se desenvolve e como termina a histó-<br />
ria, nos remete ao mundo dos Contos na definição de Propp, pois é<br />
através de uma carência que as aventuras começam: a necessidade de<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
24
socialização de Pinóquio. Poderíamos, assim, dizer que a obra referi-<br />
da se subdivide em instâncias muito similares às dos contos, as ditas<br />
funções, por isso também, nos apropriamos da teoria de Vladimir<br />
Propp para fazermos a nossa análise estrutural em Le avventure di<br />
Pinocchio.<br />
Se nos detivermos nas pesquisas de Vladimir Propp, chegare-<br />
mos à conclusão que as características profanas, ou pagãs presentes<br />
nos Contos por ele estudados, também se constatam na obra referida<br />
de Collodi. Os ritos de passagem iniciáticos, que eram comuns em<br />
sociedades primitivas, estão representados na história de Pinóquio,<br />
através das duas mortes e renascimentos simbólicos que ocorrem<br />
com a personagem. E, sobre essa temática, trataremos no final da<br />
pesquisa, no momento em que estivermos discutindo sobre os aspec-<br />
tos simbólicos na estrutura narrativa da obra estudada.<br />
Com todas essas semelhanças, poderia nos parecer que Le av-<br />
venture di Pinocchio fosse mesmo um Conto maravilhoso, porém,<br />
não devemos esquecer a característica popular inerente a esses Con-<br />
tos. Tendo a obra estudada um autor, poderíamos considerá-la como<br />
fruto do imaginário popular? Sendo uma obra escrita, em determina-<br />
do contexto, por um autor, não poderíamos considerá-la de tal forma.<br />
Somente o fato de ter sido escrita já impede maiores interferências na<br />
sua trama, excetuando as interpretações. Portanto, tendo como base<br />
essa indagação, não a consideramos fruto do imaginário popular ou<br />
da transmissão oral, pelo menos se seguirmos pressupostos científi-<br />
cos, de que uma obra popular a rigor não tem autor único<br />
(SIMONSEN, 1987: 6)<br />
A partir desses estudos, portanto, conclui-se que Le avventure di<br />
Pinocchio não é um Conto popular, apesar de amalgamar uma série<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
25
de características atribuídas aos Contos por diversos estudiosos. A-<br />
lém dessas, verificamos na obra estudada uma característica que está<br />
fortemente presente na obra, os ensinamentos morais, isto é, o caráter<br />
moralizante da obra. Para estudarmos esse aspecto específico, recor-<br />
reremos às Fábulas.<br />
O livro Le avventure di Pinocchio, comporta uma moral maior,<br />
que é a transformação de uma marionete em ser humano através do<br />
trabalho, do estudo, do esforço pessoal e principalmente do altruís-<br />
mo. As aventuras vividas pelo herói nos trazem o seu processo de<br />
amadurecimento para que ele possa se tornar uma pessoa que vive<br />
em uma sociedade. Entretanto, notamos que durante todas as aventu-<br />
ras, que funcionam como peripécias para a estruturação da trama,<br />
ocorrem diversos pequenos ensinamentos morais.<br />
Quando falamos de “maior” e “pequeno”, nos referimos especi-<br />
ficamente à proporção de funcionalidade desses episódios para a<br />
configuração da trama narrativa. Os pequenos ensinamentos de que<br />
falamos são aqueles que não são essenciais, ou seja, imprescindíveis<br />
para o entendimento da trama, apesar de serem altamente pertinentes.<br />
Representariam na história os motivos livres, estudados por Tom-<br />
chevski, ou seja, aqueles acontecimentos que podemos excluir da<br />
história ,em tese, sem que anulemos a sua sucessão cronológica .<br />
Tais motivos aparecem como pequenas lições de conduta no de-<br />
correr da história, e, possuem, geralmente, a mesma estrutura da<br />
fábula, entendida como narração breve, constituída, geralmente de<br />
animais, tendo como fim uma lição de moral. Pode-se dizer, de acor-<br />
do com aqueles detectados na estrutura narrativa da obra de Collodi,<br />
que, a semelhança se dá principalmente pela motivação moral pre-<br />
sente nestes.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
26
Um exemplo desses ensinamentos moralizantes encontra-se de<br />
maneira explícita no capítulo 7 do livro, quando Pinóquio demonstra<br />
ter muita fome e Gepeto ofereceu-lhe três pêras, o único alimento<br />
que tinha no momento. Pinóquio diz que só as comerá se Gepeto<br />
descascá-las. Gepeto então, diz-lhe que não se devia desprezar ne-<br />
nhum tipo de alimento neste mundo, mas, Pinóquio insiste e o bom<br />
Gepeto as descasca. Separa as cascas e também os miolos com as<br />
sementes. Depois de comer as três peras, a marionete começa a cho-<br />
rar, pois ainda sentia fome. Acaba por comer também as cascas e as<br />
sementes, saciando-se assim. E Gepeto discursa, aconselhando-lhe<br />
que não se deve ter muitos dengos no paladar, pois não se sabe o dia<br />
de amanhã, como lemos no livro original:<br />
Vedi dunque, - osservò Geppetto, - che avevo<br />
ragione io quando ti dicevo che non bisogna<br />
avverzzarsi né troppo sofistici né troppo delicati<br />
di palato. Caro mio, non si sa mai quel che ci<br />
può capitare in questo mondo. I casi son tanti!...<br />
( COLLODI, 1883: 24).<br />
Esse ensinamento paralelo nos recomenda não desprezar ne-<br />
nhum tipo de comida, e Pinóquio aceita essa verdade quando o epi-<br />
sódio acontece com ele, quando sofre por ter desprezado um possível<br />
alimento. Através de um exemplo breve, insere-se uma moral, como<br />
nas fábulas.<br />
Observamos anteriormente que, devido às fábulas difundidas a-<br />
través de Esopo, as personagens fabulísticas mais conhecidas são os<br />
animais, que apresentam um caráter altamente simbólico dentro da<br />
trama revelada pela fábula. No livro Le avventure di Pinocchio cons-<br />
tatamos muitos animais que falam e interferem no percurso da perso-<br />
nagem Pinóquio. Esses animais também apresentam caráter<br />
simbólico, e, muitos deles, já eram citados nas fábulas antigas com a<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
27
mesma simbologia. Como exemplos clássicos e de maior pertinência<br />
para o tema estudado, colocamos dois animais sob o nosso foco: a<br />
Raposa e o Gato. A seguir, lê-se o aparecimento das personagens na<br />
história, no capítulo XII:<br />
Ma non aveva fatto mezzo chilometro, che<br />
incontrò per la strada una Volpe zoppa da un<br />
piede e un Gatto cieco da tutt’e due gli occhi,<br />
che se ne andavano là là, aiutandosi fra di loro,<br />
da buoni compagni di sventura. La Volpe che<br />
era zoppa, camminava appoggiandosi al Gatto:<br />
e il Gatto, che era cieco, si lasciava guidare dalla<br />
Volpe (COLLODI, 1883: 36).<br />
A Raposa é um animal muito conhecido nas fábulas, e, no tre-<br />
cho observado, constata-se que vem acompanhada pelo Gato, animal<br />
já presente nas fábulas atribuídas a Esopo. Ambos animais têm apelo<br />
negativo na história de Pinóquio e conotam enganação e astúcia.<br />
Tentam mostrar-se bons e prestativos, para enganar Pinóquio e fazê-<br />
lo cair em uma cilada, ficando, assim, com todo o seu dinheiro. Para<br />
convencê-lo, instigam a ambição da marionete, prometendo levá-la<br />
em uma terra em que seu dinheiro seria multiplicado.<br />
Em Esopo, encontraremos várias fábulas com raposas, na maio-<br />
ria das vezes, como símbolo da enganação e da astúcia. Um exemplo<br />
dessa simbologia pode ser verificada na fábula “O galo e a raposa”<br />
(ESOPO, 1994: 22). Conta-se que raposa tenta convencer o galo a<br />
descer de uma árvore dizendo que estavam em um tempo de paz,<br />
devido à proclamação da paz e harmonia universal entre os bichos.<br />
Na verdade, querendo devorar o galo, usa de astúcia para convencê-<br />
lo, em vez de atacá-lo, como ocorre na história de Pinóquio.<br />
A figura do gato também é encontrado nas fábulas de Esopo e<br />
constantemente como símbolo da maldade. No Dicionário de Símbo-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
28
los (Chevalier, 1993: 461-3) lê-se a respeito do felino: “O simbolis-<br />
mo do gato é muito heterogêneo, pois oscila entre as tendências be-<br />
néficas e as maléficas, oque se pode explicar pela atitude a um só<br />
tempo terna e dissimulada do animal”. E, ainda, “às vezes, o gato é<br />
concebido como um servidor dos Infernos”. É, portanto, o símbolo<br />
do mal.<br />
A fábula “O gato, o galo e o ratinho” conta a história de um ra-<br />
tinho que faz uma comparação entre os dois animais, <strong>jul</strong>gando o galo<br />
mau, visto que era feio e barulhento era mal, e, que o gato calmo e<br />
belo era bom. Sua mãe lhe adverte mostrando que as aparências en-<br />
ganam e que o gato é muito mau. Assim como a Raposa, ele aparenta<br />
ser bom, mas simboliza também a enganação. A fábula “O gato e o<br />
galo” nos mostra que mesmo o galo dando todos os argumentos de<br />
porquê o gato não devia devorá-lo, ele ignora e o mata mesmo assim.<br />
A moral dessa fábula completa o nosso pensamento: “O disfarce da<br />
justiça não impede uma natureza cruel de praticar suas maldades”<br />
(Esopo, 2001: 56)<br />
Segundo Concetto Marchesi, no livro Fedro e la favola latina, a<br />
raposa, nas fábulas de Fedro, tem o mesmo caráter da astúcia, pois<br />
consegue esconder os fracassos e ultrapassar os obstáculos e perigos<br />
(1923: 64). O gato vem representado de maneira selvagem, por sua<br />
proveniência da África, e, não ser domesticado (MARCHESI, 1923:<br />
73). Além desses, muitos outros animais aparecem na obra Le avven-<br />
ture di Pinocchio, porém, esses particularmente, nos remetem com<br />
clareza ao mundo das fábulas.<br />
Poderíamos ser levados a acreditar que a obra estudada de Col-<br />
lodi fosse uma fábula, devido à proximidade estrutural do modelo de<br />
narrativa de ambas. Porém, só pela extensão de Le avventure di Pi-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
29
nocchio diríamos imediatamente que não. Apesar do caráter morali-<br />
zante da mesma, e a presença constante de animais, há uma preocu-<br />
pação com o prolongamento da narrativa. A fábula, segundo muitos<br />
dos estudiosos citados, é definida essencialmente pela sua brevidade,<br />
diferentemente da narrativa de Collodi.<br />
Recordamos Marie-Louise, na citação de Simonsen, sobre a di-<br />
ferença fundamental entre Conto e Fábula. O Conto, segundo a estu-<br />
diosa apresenta um apelo ao prolongamento da narrativa, à cadeia,<br />
enquanto a Fábula privilegia o caso, tem uma função pedagógica<br />
evidente (SIMONSEN, 1987: 12-13).<br />
Em Le avventure di Pinocchio, encontramos essas duas verten-<br />
tes, tanto a preocupação com o desenvolvimento da narrativa, típica<br />
do Conto, quanto à função pedagógica, típica da Fábula. Nessas in-<br />
serções verificamos a interculturaliedade obra no que diz respeito a<br />
forma que se apresenta, amalgamando na sua estrutura características<br />
de formas diversas de narrativa.<br />
Além dos estudos feitos sobre influências na composição da o-<br />
bra de Collodi das características típicas dos Contos e das Fábulas,<br />
constatamos influências de caráter mítico, e, quanto a isso, discorre-<br />
remos nas próximas linhas.<br />
A definição de mito de José Antônio Perez Rioja, estudada no<br />
item Mitos talvez seja a que mais permeie as nossas reflexões sobre<br />
Le avventure di Pinocchio: “...El mito literario suele ser un personaje<br />
o heróe prototípico e simbólico, que perdura através del tiempo por<br />
su elevada significación humana, nacional o universal”.<br />
Tendo em vista o caráter essencialmente oral do Mito, e as ca-<br />
racterísticas já tecidas sobre Le avventure di Pinocchio, não poderí-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
30
amos em hipótese alguma considerá-la como tal. Apesar dessas con-<br />
siderações, detectamos o herói mítico, de acordo com as definições<br />
de Rioja e de Eco na obra de Collodi. O estudo da mitificabilidade do<br />
herói é pertinente em relação a Pinóquio, personagem esta, que assim<br />
como o herói mítico, dura através dos tempos por ter uma significa-<br />
ção universal elevada.<br />
Pinóquio tem um caráter mítico muito forte, pois em diversas<br />
partes do mundo é o representante da mentira, e seu nariz que cresce<br />
é lembrado como símbolo da mesma. Independentemente das pesso-<br />
as conhecerem ou não a história de Collodi, a simbologia do nariz<br />
crescente de Pinóquio está presente em muitas culturas. Segundo J.P.<br />
Rioja, só ocorre tal fenômeno devido à elevada significância humana<br />
e universal que esta personagem nos traz, como lemos. Em qual parte<br />
do mundo não existe a mentira? Em nenhuma, pois esta é inerente a<br />
natureza humana. Portanto, a temática abordada em torno de Pinó-<br />
quio é universal, de forte apelo humano.<br />
A previsibilidade do herói mítico citada por Umberto Eco, no i-<br />
tem sobre Mitos, também permeia a história de Pinóquio, pois ele já<br />
foi definido por um dos seus caracteres: a mentira. É comum ouvir-<br />
mos pessoas de várias idades e de várias classes sociais repetirem<br />
que o nariz de determinada pessoa vai crescer porque contou uma<br />
mentira. O herói mítico é previsível, por ter sido definido por algu-<br />
ma/s de sua/s característica/s e é exatamente o que notamos na reper-<br />
cussão de Pinóquio, a mentira é seu elemento definidor em diversas<br />
culturas.<br />
Eco nos diz ainda que o herói mítico é resultado da “universali-<br />
zação de um fato particular”, e sabe-se que a mentira é um fato parti-<br />
cular dentro da estrutura narrativa de Le avventure di Pinocchio. A<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
31
universalização se dá quando a mentira passa a ser o elemento que<br />
define a personagem Pinóquio e assim, este passa a ter uma carga<br />
mítica inegável.<br />
Referências Bibliográficas<br />
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. Trad.:<br />
Arlene Caetano. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.<br />
BRUNEL, Pierre. Dicionário de mitos literários. Trad. Carlos Sussekend...[et<br />
al]. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997.<br />
CALVINO, Italo. Fábulas Italianas. Trad. Nilson Moulin. São Paulo:<br />
Companhia das letras, 1992<br />
CERINA, G. LAVINIO, C. E MULAS, L. Oralità e scrittura nel<br />
sistema letterario. Atos do Congresso Cagliari, 14-16 de abril<br />
de 1980. Roma: Bulzoni, 1982.<br />
CHEVALIER, Jean. Dicionário de símbolos. Coord. Carlos Sussekend.<br />
Trad. Vera da Costa e Silva...[et al] Rio de Janeiro:<br />
Olympio, 1995.<br />
COLLODI, Carlo. As aventuras de Pinóquio. Trad.: Marina Colasanti.<br />
Ilustrações de Odilon Moraes. São Paulo: Companhia das Letrinhas,<br />
2002.<br />
COLLODI, Carlo. Le avventure di Pinocchio, storia di um burattino.<br />
Il. Enrico Mazzanti. Florença: Felice Paggi, 1 a . ed., 1983.<br />
ELIADE, Mircea. Mito e realidade. São Paulo: Perspectiva, 1974.<br />
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. Trad. Rogério Fernandes.<br />
São Paulo: Martins Fontes, 1992.<br />
ESOPO. Fábulas de Esopo. Trad. Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia<br />
das Letras, 2001.<br />
FERRONI, Giulio. Storia della letteratura italiana: dall’Ottocento<br />
ao Novecento. Vol.III, Milano: Einaudi Scuola, 1991.<br />
JOLLES, André. Formas simples. Trad. Álvaro Cabral. Cultrix: São<br />
Paulo, 1976.<br />
LAVINIO, Cristina. Discorso e Oralità.s/d<br />
MANGANELLI, Giorgio. Pinóquio: um livro paralelo. Trad. Eduardo<br />
Brandão. São Paulo: Companhia das letras, 2002.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
32
PROPP, Vladimir. Morfologia do conto maravilhoso. São Paulo: Ed<br />
Perspectiva, 1984.<br />
PROPP, Vladimir. As raízes históricas do Conto Maravilhoso. Trad.<br />
Rosemary Costhek Abílio e Paulo Bezerra. São Paulo: Martins<br />
fontes, 2002.<br />
PROPP, Vladimir. Èdipo à luz do folclore. Folclore e literatura.<br />
Trad. Antônio da Silva Lopes. Lisboa: Editorial Vega, 1997.<br />
RIOJA, José António Perez. Diccionario Literario Universal. Madrid:<br />
Teenos, 1977.<br />
SOUZA, Manuel Aveleza de. As fábulas de Esopo. Rio de janeiro:<br />
Thex Editora, 1999.<br />
SIMONSEN, Michele. O conto popular. Trad. Luis Cláudio de castro<br />
e Souza. Martins Fontes: São Paulo, 1987.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
33
As diferentes realizações do “s” implosivo e da<br />
vibrante: reflexos de fatores histórico, sociais e<br />
demográficos da cidade do Rio de Janeiro<br />
Introdução<br />
Ângela Marina Bravin dos Santos – FAMA<br />
“Cariocas têm sotaque”<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
(Adriana Calcanhoto)<br />
A Sociolingüística postula que a variação é inerente às línguas e<br />
que a heterogeneidade faz parte de todo sistema lingüístico. As dife-<br />
rentes realizações de formas lingüísticas são influenciadas por fatores<br />
tais como ambiente fonético, contexto sintático e características so-<br />
ciodemográficas, que, no âmbito dessa teoria, ganham a mesma am-<br />
plitude dos demais fatores. Assim, estudar a estrutura e evolução de<br />
uma determinada língua fora do contexto social seria desconsiderar<br />
dados fundamentais em sua descrição. No caso específico do portu-<br />
guês falado no Rio de Janeiro, aspectos sócio-históricos e demográfi-<br />
cos da metrópole são extremamente importantes para a<br />
caracterização do “linguajar carioca”, que, tal qual a cidade, é hete-<br />
rogêneo e polarizado (CALLOU e AVELAR, 2002), refletindo a<br />
natureza da colonização e dos contatos lingüísticos estabelecidos no<br />
Brasil.<br />
No que tange às formas lingüísticas, Callou e Marques (1975) e<br />
Callou (1987) desenvolveram pesquisas que buscaram investigar<br />
aspectos da linguagem carioca, levando em conta a área geográfica<br />
de residência do informante. Trata-se do estudo do S implosivo e da<br />
vibrante na fala culta do Rio de Janeiro, respectivamente. Embora já<br />
34
houvesse evidências de que a configuração lingüística atual da cida-<br />
de maravilhosa seja resquício do passado, conforme se observa na<br />
conclusão a que Callou chega “A mudança da norma de pronúncia<br />
do /R/ se insere no espaço multidimensional por sua vez histórico,<br />
social e lingüístico.” (CALLOU, 1987:144). As investigações não se<br />
desenvolveram no sentido de se estabelecerem correlações entre o<br />
Rio antigo e o Rio contemporâneo. Mas essa tarefa é muito sedutora<br />
para não ser cumprida. “Cumpramo-la”, tomando por base os dados<br />
das pesquisas citadas, referentes à variável área geográfica de resi-<br />
dência e às informações acerca dos aspectos sócio-históricos e de-<br />
mográficos do Rio de Janeiro.<br />
Da natureza da colonização e dos contatos lingüísticos<br />
A língua portuguesa aporta no Brasil junto a uma concepção es-<br />
cravista de colonização que degradava as relações humanas (FARIA,<br />
1998) e impunha o estabelecimento de dois mundos distintos: o dos<br />
senhores e o dos escravos. Divisão que marca a sociedade brasileira<br />
e, por conseqüência, o português carioca.<br />
No início, entretanto, não era bem assim. Os habitantes nativos<br />
resistiram ao contato com o branco. Apesar da resistência, os portu-<br />
gueses tinham por objetivo dominá-los e, para tanto, buscam apren-<br />
der os idiomas das tribos. Estima-se que, à época do descobrimento,<br />
havia mais de mil línguas indígenas no Brasil, de diversos troncos,<br />
dentre os quais se destaca o tupi (MATTOS E SILVA, 2001). Coube<br />
aos Jesuítas a tarefa de aprender as línguas indígenas, cujas estrutu-<br />
ras eram semelhantes.<br />
Embora os índios tenham “emprestado” suas línguas ao branco,<br />
foram dizimados ou esquecidos no interior do país. Na década de<br />
1590, no litoral da Bahia e Pernambuco, já se substituía a mão escra-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
35
va indígena pela africana (SILVA NETO, 1986), iniciando-se, por-<br />
tanto, a colonização de caráter escravista propriamente dita. A distri-<br />
buição dos escravos não se deu de maneira uniforme. No litoral,<br />
onde predominou a exportação, a presença da mão negra superava a<br />
do interior. Além disso, diferenciava-se de acordo com o tipo de<br />
produção: “maior nos engenhos e sítios de cana e menor nas unida-<br />
des com gados e alimentos” (FARIA, 1998: 294).<br />
No século XIX, o número de negros e mestiços, entre escravos e<br />
livres, chega a 3 milhões e 993 mil (COSTA,1998), ainda distribuí-<br />
dos de maneira irregular, tal como no início da colonização. As regi-<br />
ões de maior concentração eram as de Pernambuco, Bahia, Minas<br />
Gerais e Rio de Janeiro, principais centros da economia brasileira.<br />
Durante três séculos de vida colonial, os africanos e seus descenden-<br />
tes viveram sob o jugo do sistema escravista. Submetidos à relação<br />
senhor/escravos, os negros passaram por um processo de aculturação,<br />
que determinou, entre outras coisas, o abandono das línguas nativas e<br />
a opção pelo português, mas já diversificado, distante da língua do<br />
branco.<br />
Além das línguas indígenas e das africanas, havia o português<br />
europeu. A língua portuguesa chega à colônia sob o signo da diversi-<br />
dade, uma vez que os colonizadores portugueses trouxeram as dife-<br />
renças dialetais e geográficas de origem. Além disso, não se pode<br />
esquecer que para cá vieram muitas pessoas analfabetas e poucas<br />
letradas (MATTOS E SILVA, 2001), distinção fundamental para<br />
entendermos o caráter polarizado do atual português carioca.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
36
A polarização do português brasileiro<br />
Se vieram para cá analfabetos e letrados, pressupõe-se que já se<br />
delineava um quadro sociolingüístico em que duas gramáticas, se<br />
assim podemos dizer, entravam em competição (MATTOS E<br />
SILVA, 1998, apud CASTILHO, 2001): a do português europeu<br />
considerado culto, veiculado por padres e trabalhadores da adminis-<br />
tração, e a do português europeu falado, difundido pela massa de<br />
analfabetos. Acrescentando-se o fato de que na colônia já se encon-<br />
trava um montante expressivo de indivíduos não-brancos e, igual-<br />
mente, desconhecedores da escrita da língua portuguesa, tem-se uma<br />
situação perfeita para o início da polarização sociolingüística do<br />
português brasileiro.<br />
Durante quase dois séculos e meio, o latim e a língua geral dos<br />
índios eram as línguas ensinadas no Brasil. O português tornou-se<br />
oficial apenas em meados do século XVIII, a partir de medidas to-<br />
madas pelo Diretório de 3 de maio de 1757. Tais medidas inscrevem-<br />
se na Reforma Pombalina, que, segundo Celso Cunha, “tornou vio-<br />
lentamente obrigatório o ensino elementar da língua portuguesa,<br />
destruindo línguas e culturas indígenas” (1985: 80).<br />
Ao que parece, o ensino do português não foi tão violentamente<br />
obrigatório, uma vez que ficava à margem da instrução escolar a<br />
“multidão de ilegítimos da capitania”, a quem Dom João V queria<br />
que os mestres ensinassem as primeiras letras (CALLOU,<br />
BARBOSA E LOPES, no prelo). Na verdade, o desejo do Rei era<br />
mais uma medida para “inglês ver”: o ensino da língua portuguesa<br />
atingiu somente “um percentual mínimo de homens brancos e pardos<br />
socialmente aceitos” (CALLOU, BARBOSA e LOPES, no prelo).<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
37
Não resta dúvida de que a política Pombalina teve papel funda-<br />
mental na formação de uma norma brasileira. Afinal, foi graças a sua<br />
intervenção que o ensino do português se tornou oficial. Mas outro<br />
fato marcante também contribuiu para o avanço dos estudos da lín-<br />
gua: a vinda da Corte para o Brasil, o que determinou a criação, prin-<br />
cipalmente no Rio de Janeiro, de diferentes instituições públicas ou<br />
semipúblicas em que se estudava a língua portuguesa, ainda que<br />
assistematicamente.<br />
Engana-se, porém, quem imagina que a vitória do português na<br />
colônia esteja intimamente ligada às medidas pombalinas e às mu-<br />
danças sociais provocadas pela chegada da família real. Barbosa<br />
(apud CALLOU, BARBOSA e LOPES, no prelo) sustenta a hipótese<br />
de que a sobreposição da língua portuguesa sobre as indígenas e<br />
africanas deve-se a fatores demográficos, à aculturação e genocídio<br />
dos índios e negros. A política de Pombal só fez aumentar a distância<br />
entre dominados e dominadores, já que ofereceu aos primeiros uma<br />
outra opção lingüística: a língua do senhor, com a qual vinha a pos-<br />
sibilidade de ascensão social. Em conseqüência, a minoria branca<br />
torna-se referencial lingüístico para povos que se aculturavam sob o<br />
sistema escravista. É nesse panorama sociolingüístico que o portu-<br />
guês carioca evolui.<br />
Aspectos sócio-históricos e demográficos do Rio de Janeiro<br />
No início da colonização, o espaço geográfico do Rio de Janeiro<br />
tinha como limite os Morros do Castelo, São Bento e Santo Antônio<br />
da Conceição. Restringia-se, portanto, à área que hoje corresponde<br />
ao Centro da cidade. Habitavam a região mais escravos, em torno de<br />
23 mil, que trabalhadores livres, 20 mil, aproximadamente. Os repre-<br />
sentantes da elite ainda eram em número reduzido (CALLOU e<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
38
AVELAR, 2001). Deduz-se que o Rio de Janeiro e o português fala-<br />
do nessa cidade começaram a se desenvolver em meio à diversidade:<br />
de um lado, os escravos, em grande maioria; de outro, os portugue-<br />
ses.<br />
Até o início do século XIX, esse quadro social não se altera, tal-<br />
vez porque a América portuguesa ainda fosse pouco atrativa<br />
(VENÂNCIO, 2000). Em 1808, a vinda da Família Real para o Rio<br />
de Janeiro desencadeia uma série de mudanças exigidas pela neces-<br />
sidade de se abrigar, em uma cidade ainda pequena, uma Corte “or-<br />
gulhosa de seu estatuto de única representante do “sistema europeu”<br />
da monarquia” (ALENCASTRO, 1997: 24). Estima-se que 15 mil<br />
portugueses aqui aportaram (CALLOU e AVELAR, 2002). Eram<br />
integrantes da classe dirigente. No início, concentraram-se nas fre-<br />
guesias da Candelária e de São José, espaço que hoje faz parte do<br />
Centro (Rua dos Inválidos, Rua do Lavradio, Rua do Resende), Gló-<br />
ria e Catete. Nas freguesias de Santa Rita e Santana, atuais Saúde,<br />
Santo Cristo e Gamboa, fixaram moradia pessoas de baixa renda,<br />
entre escravos de ganho e trabalhadores livres. Temos, pois, no início<br />
do século XIX, uma dinâmica de contatos e contrastes sociais que,<br />
certamente, como se verá mais adiante, teve efeito na fala do carioca,<br />
na área hoje considerada Centro do Rio de Janeiro.<br />
Se levarmos em conta o fato de que chegaram mais africanos e<br />
pessoas oriundas do interior da Província do Rio de Janeiro e das<br />
Minas Gerais, o quadro sociolingüístico das áreas centrais do Rio<br />
ganha outra configuração. Há um outro componente a tomar parte da<br />
malha social: os indivíduos de outras regiões do país, o que leva<br />
Callou e Avelar a aventarem, cuidadosamente, a hipótese de que não<br />
existam indícios suficientes para pressupormos que a imigração por-<br />
tuguesa “tenha sido a base para a composição de características que<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
39
teriam permitido diferençar o falar carioca de outros falares brasilei-<br />
ros.” (2002: 104).<br />
Era necessária a expansão da cidade em diferentes direções. Do<br />
lado que hoje está situada a Zona Norte, emerge como freguesia ur-<br />
bana São Cristóvão, para onde vai não só a Família Real, mas pesso-<br />
as da classe mais favorecida. Em direção à atual Zona Sul, surgem as<br />
freguesias da Glória, Catete e Botafogo, que passam a ser procuradas<br />
pelas classes dirigentes com poder de mobilidade social. Além disso,<br />
como os membros da elite sabiam ler e escrever, levam para tais<br />
regiões o português adquirido via letramento. Assim, à medida que<br />
as relações sócio-econômicas se intensificavam nas freguesias já<br />
existentes, a classe mais abastada procurava novas localidades. As<br />
chácaras são retalhadas para dar lugar a moradias. Em conseqüência,<br />
surgem outras freguesias tanto em direção à orla marítima, cita-se a<br />
Gávea, quanto em direção ao espaço ocupado atualmente pelos bair-<br />
ros da Zona Norte, como Engenho Velho.<br />
Enquanto a elite se mobilizava geograficamente, os indivíduos<br />
de classe menos favorecida permaneciam no Centro do Rio. No iní-<br />
cio da segunda metade do século XIX, o número de pessoas de classe<br />
baixa aumenta, já que para cá vieram imigrantes portugueses de ori-<br />
gem pobre, no período denominado por Venâncio (2000) de etapa de<br />
imigração de massa. Segundo Trindade e Caeiro (apud CALLOU e<br />
AVELAR, 2002), uma das imagens dos portugueses dessa segunda<br />
leva de imigrantes era de homem pobre, inculto e oportunista. Assim<br />
sendo, pressupõe-se que trouxeram para o Rio de Janeiro uma varie-<br />
dade do português europeu não considerada padrão. Resta saber onde<br />
esses indivíduos se concentraram na cidade.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
40
Conforme já referido em Callou e Avelar (2002), de acordo com<br />
os censos de 1872 e 1890, grande parte dos novos portugueses opta<br />
pelas freguesias mais centrais: Candelária: 45%, São José: 25% e<br />
Sant’Anna: 20%; a minoria espalha-se pelas freguesias rurais, que, a<br />
essa época, já eram beneficiadas pelas ferrovias, o que propiciou a<br />
mobilidade das classes menos favorecidas para essas áreas. Nas duas<br />
últimas décadas do séc. XIX, ao longo da estrada de ferro, já se defi-<br />
niam os principais bairros da atual região suburbana do Rio de Janei-<br />
ro, dos quais se destaca Madureira. As freguesias mais distantes do<br />
centro, como Guaratiba, Campo Grande e Jacarepaguá, além de man-<br />
terem suas características rurais, abrigam um número reduzidíssimo<br />
de portugueses: 1%, 2% e 4%, respectivamente. Assim, diante da<br />
diversidade dos aspectos que entremeiam, historicamente, o falar<br />
carioca, forçoso seria considerar a nossa fala livre das influências do<br />
passado. Olhemos para os fatos lingüísticos.<br />
O “s” implosivo e a vibrante: influências do passado na fala<br />
do carioca<br />
Callou (2002) supõe que o caráter diferenciado da mobilidade<br />
espacial e populacional no Rio de Janeiro seja um dos fatores res-<br />
ponsáveis pelas diferenças lingüísticas que, atualmente, existem na<br />
fala de moradores das Zonas Norte, Sul e Suburbana. Tal suposição<br />
não surgiu ao acaso. Pesquisas sociolingüísticas desenvolvidas ante-<br />
riormente pela autora já sinalizavam a hipótese. Retomemos, primei-<br />
ramente, os dados referentes ao trabalho, em parceria com Maria<br />
Helena Marques, acerca do S implosivo, que, segundo as autoras, “é<br />
um aspecto da linguagem carioca que sempre interessou aos estudio-<br />
sos do nosso idioma” (CALLOU e MARQUES, 1975: 9) e que, su-<br />
põe-se, tenha vindo com a Família Real para o Rio de Janeiro.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
41
Um dos objetivos da pesquisa foi o de verificar como se realiza<br />
o arquifonema /S/ no Rio de Janeiro e se a sua realização está condi-<br />
cionada aos fatores diatópico, diastrático e fonético. Dentre as variá-<br />
veis extralingüísticas analisadas, destaca-se a área de residência do<br />
informante. Seis áreas da cidade foram investigadas: Campo Grande,<br />
Jacarepaguá, Madureira, Zona Norte, Centro e Zona Sul.<br />
Os resultados mostram que os cariocas preferem palatalizar o S<br />
implosivo: 85,4%. As demais realizações ficam entre 0,2 % e 8,6%.<br />
No que tange às áreas de residência, a Zona Sul e o bairro de Madu-<br />
reira têm comportamentos que nos chamam a atenção: a alveolar<br />
aparece com percentual expressivo: 28,8% e 9,3%. Tal resultado, já<br />
supunham as autoras, pode ser influência da fala de pessoas oriundas<br />
de outras regiões do país. Essa hipótese coaduna-se com a hipótese,<br />
defendida por Callou e Avelar (2002), de que a imigração portuguesa<br />
não pode ser a única responsável pelo falar carioca.<br />
De fato, os aspectos sócio -históricos e demográficos da cidade<br />
do Rio de Janeiro nos impulsionam a essa dedução, já que, como<br />
vimos anteriormente, vieram para cá, além de portugueses, pessoas<br />
do interior do Estado e de Minas Gerais. Em relação a Madureira,<br />
bairro comercial, é plausível a suposição. No tocante à Zona Sul, não<br />
seria improcedente lembrarmos que para lá foram indivíduos alfabe-<br />
tizados da classe mais favorecida. A Zona Norte é outra região que<br />
apresentou oscilação na pronúncia do S implosivo: 6,2%: alveolar e<br />
10,2%: alveolar+palatal ou palatal+alveolar. Trata-se de uma área<br />
mais antiga e tradicional e, ao contrário de Madureira, é predominan-<br />
temente residencial, sendo pouco penetrada por inovações<br />
(CALLOU e MARQUES, 1975), o que, provavelmente, explica o<br />
percentual de 6,2% da variante considerada padrão.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
42
No Centro, onde, inicialmente, a Corte residiu e onde o contras-<br />
te social era mais intenso, hoje apresenta um quadro quase uniforme<br />
em favor da palatal: 92,2%. Jacarepaguá e Campo Grande, ainda<br />
com características rurais, exibem os índices mais altos de palatal:<br />
93,6% e 98,3%, respectivamente. O zero fonético, variante inovado-<br />
ra, com 4%, desponta na região em que a palatal predomina: Campo<br />
Grande. Parece que a preferência por essa variante nas áreas mais<br />
afastadas do Centro esteja ligada à mobilidade espacial mais tardia, o<br />
que também pode justificar a maior taxa da variante inovadora em<br />
Campo Grande. Seria ingenuidade imaginar que os menos favoreci-<br />
dos, impulsionados pela necessidade de moradia, transportaram a<br />
palatal do Centro para essas regiões? De qualquer forma é um vestí-<br />
gio do passado.<br />
A realização da vibrante foi objeto de estudo da tese de Douto-<br />
rado de Callou (1987). A autora parte da hipótese de que a norma de<br />
pronúncia do /R/ forte sofrera uma mudança, que resultou em seis<br />
variantes condicionadas por diferentes fatores. Tal como no trabalho<br />
desenvolvido com Marques, buscou -se verificar se a área de residên-<br />
cia do falante poderia influenciar a pronúncia da vibrante na fala<br />
carioca. Para tanto, a cidade foi dividida em três áreas: Zona Sul,<br />
Zona Norte e Zona Suburbana, divisão tradicional. Madureira e Jaca-<br />
repaguá, investigados separadamente na pesquisa de 1977, passaram<br />
ao domínio da Zona Suburbana; o Centro, ao da Zona Sul.<br />
Para a análise dos dados, postularam-se três regras: R1: posteri-<br />
orização e fricatização, R2: posteriorização e R3: aspiração. Levou-<br />
se em conta o contexto em que as variantes figuram: início de pala-<br />
vra, intervocálica, final de sílaba e final de palavra. Esse último con-<br />
texto é analisado em separado. Com relação à R1, no primeiro<br />
contexto, a Zona Suburbana lidera a mudança: 93.89%, seguida da<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
43
Zona Norte, com 88.46% e da Zona Sul: 76.92%. Quanto à posição<br />
intervocálica, os resultados assemelham-se a esses: de um lado, a<br />
Zona Suburbana apresenta-se mais inovadora: 94.57%; a Zona Norte<br />
fica na faixa intermediária: 84.68% e a Zona Sul mantém-se mais<br />
conservadora: 79.57%. Na posição final de sílaba, não há diferença<br />
entre Zona Sul e Zona Norte. A zona Suburbana chega ao patamar de<br />
94.74%.<br />
No tocante à R2, ao contrário de R1, na posição inicial, a Zona<br />
Norte é a que se apresenta mais conservadora: 33.33%, a Zona Sul<br />
passa para a faixa intermediária: 48.94% e a Zona suburbana conti-<br />
nua liderando a mudança: 84.62%. Essa mesma configuração é veri-<br />
ficada em contexto final de sílaba. Quanto à R3, no início de palavra,<br />
os índices ficam abaixo de 10%, mas o que se verifica é uma certa<br />
aproximação entre as Zonas Norte: 2.84% e Suburbana: 1.16%. O<br />
curioso é que a aspiração é mais freqüente na Zona Sul: 3.41%. Isso<br />
também é verificado em posição intervocálica: Zona Sul: 15.58%,<br />
Zona Norte: 12.95% e Zona Suburbana: 12.36%. Em posição final de<br />
sílaba, o quadro acima delineado inverte-se, já que a Zona Norte<br />
passa a liderar a mudança, com 27.77%, ultrapassando ao longe os<br />
5.5% verificados na Zona Suburbana, até então inovadora.<br />
Em posição final absoluta, a autora verificou a presença de /R/,<br />
inexistente em outras posições. Trata-se de uma variante inovadora,<br />
que, curiosamente, alcança 67,84%, na Zona Sul; 67,35% , na Zona<br />
Norte e 66,04%, na Zona Suburbana. Segundo Callou, o fato de a<br />
Zona Suburbana exibir índice mais baixo de apagamento da vibrante<br />
deve-se, provavelmente, à tentativa de preservação de uma forma de<br />
prestígio sociocultural, o que seria justificável, já que se trata da área<br />
do Rio de Janeiro onde se concentraram pessoas de classe menos<br />
favorecida.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
44
Os resultados referentes à vibrante revelam um quadro quase<br />
simétrico: de um lado, as Zonas Sul e Norte, apresentando, predomi-<br />
nantemente, um comportamento mais conservador; de outro, a Su-<br />
burbana, liderando a mudança em direção às inovações na maioria<br />
dos contextos. A simetria desfaz-se na medida em que as variantes<br />
inovadoras penetram as áreas mais tradicionais da cidade e a Subur-<br />
bana mantém-se mais conservadora em relação ao /R/ em final abso-<br />
luto. Entretanto, se considerarmos o predomínio dos contextos,<br />
resgata-se a simetria e desenha-se um quadro em que a configuração<br />
lingüística corresponde à configuração sócio-histórico-demográfica<br />
do Rio de Janeiro. Lembremo-nos de que a área suburbana corres-<br />
ponde à região de ocupação mais recente, antigas freguesias rurais,<br />
para onde se deslocou a população de baixa renda, o que em parte,<br />
justifica a penetração de inovações. A Zona Norte e Sul correspon-<br />
dem às freguesias que receberam pessoas da classe mais favorecida,<br />
um dos indícios que justifica a realização das variantes conservado-<br />
ras.<br />
Considerações finais<br />
Os resultados referentes aos dois fenômenos lingüísticos apre-<br />
sentados são indícios de que “o linguajar carioca” é o resultado de<br />
uma dinâmica de contatos lingüísticos e contrastes sociais. Parece<br />
que aqui, de maneira muito especial, os axiomas da Sociolingüística<br />
confirmam-se e reafirma-se o caráter heterogêneo das línguas huma-<br />
nas, talvez porque o Rio seja abraçado pelo Cristo Redentor, Senhor<br />
de todas as línguas, mas, provavelmente, com sotaque carioca.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
45
Referências Bibliográficas<br />
ALENCASTRO, L.F. (org).(1977). História da vida privada no Brasil.<br />
V. 2 São Paulo, Companhia das Letras.<br />
CALLOU, D e MARQUES, M . H (1975). O –S implosivo na linguagem<br />
do Rio de Janeiro. In: Littera: revista para professor de<br />
português e de literaturas de língua portuguesa VOL. V: Rio de<br />
Janeiro, Grifo 9-137.<br />
CALLOU, D. (1987) Variação e distribuição da vibrante na fala<br />
urbana culta do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, PROED – Universidade<br />
Federal do Rio de Janeiro.<br />
CALLOU, D. (2002). Da história social à história lingüística: o Rio<br />
de Janeiro no século XIX. In: ALKMIM, Tânia Maria (org.) Para<br />
a história do português brasileiro. VOL. III: Novos estudos<br />
Humanitas/FFLCH/USP 281-292.<br />
CALLOU, D e AVELAR, J. (2002). Subsídios para uma história do<br />
falar carioca: mobilidade social no Rio de Janeiro do século<br />
XIX. In: Para a história do português brasileiro. VOL. IV. Notícias<br />
de corpora e outros estudos. Rio de janeiro,<br />
UFRJ/LETRAS, FAPERJ: 95-112.<br />
CALLOU, D, BARBOSA, A. e LOPES, C. R. A polarização sociolingüística<br />
, no prelo.<br />
CASTILHO, A. (2001). Para um programa de pesquisas sobre a história<br />
social do português de São Paulo. In: MATTOS E SILVA,<br />
R. V. (org) Para a história do português brasileiro. Vol. II, tomo<br />
2. São Paulo, USP/ Humanitas/FAPESP, 337-369.<br />
COSTA, E. V. da. (1998) Da Senzala à Colônia. 3ª edição. São<br />
Paulo: Unesp.<br />
FARIA, Sheila S. de Castro.( 1998.) A colônia em movimento: fortuna<br />
e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro, Nova Fronteira.<br />
MATTOS E SILVA (2001). De fontes sócio-históricas para a história<br />
social lingüística do Brasil: em busca de indícios. In:<br />
MATTOS E SILVA, R. V. (org) Para a história do português<br />
brasileiro. Vol. II, tomo 2. São Paulo, USP/ Humanitas/FAPESP,275-301.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
46
SILVA NETO, S. (1986). Introdução ao estudo da língua portuguesa<br />
no Brasil. Rio de Janeiro, Presença.<br />
VENÂNCIO, Renato P. (2000). Presença portuguesa: de colonizadores<br />
a imigrantes. In: Brasil 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro,<br />
IBGE.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
47
A desconstrução da identidade nacional<br />
a partir do imaginário mitológico<br />
em Ubirajara, de José de Alencar<br />
Alexandra Vieira de Almeida – UERJ<br />
Na “Advertência” a Ubirajara, José de Alencar critica os cro-<br />
nistas por não terem se reportado fielmente à realidade complexa dos<br />
grupos indígenas:<br />
Os historiadores, cronistas e viajantes de primeira<br />
época, se não de todo o período colonial,<br />
devem ser lidos à luz de uma crítica severa. É<br />
indispensável sobretudo escoimar os fatos<br />
comprovados das fábulas a que serviam de mote,<br />
e das apreciações a que os sujeitavam espíritos<br />
acanhados, por demais imbuídos de uma<br />
intolerância ríspida. (ALENCAR, 1926: 175)<br />
Estes pintavam o índio como um incivilizado, um bárbaro, um<br />
canibal, como uma reação ao desconhecido que, por sua vez, remete<br />
aos imaginários da bestialidade não só da Idade Média, mas também<br />
daqueles criados a partir do enfrentamento que podemos encontrar<br />
nos mitos gregos, em que os heróis combatem forças inconscientes e<br />
perturbadoras da ordem. O trabalho da tradução foi ler esses novos<br />
seres do Novo Mundo com o olhar do civilizador, do “interpretante”,<br />
que não deixa de ter o resíduo da visão mitológica do real. Assim, o<br />
outro se transformou em mito, em algo não reconhecível à primeira<br />
vista devido ao estranhamento, mas que ativa a memória de outros<br />
momentos em que o estranho foi incorporado, mas não inteiramente<br />
compreendido. Mas nesse novo enfrentamento, podemos assinalar a<br />
diferença da dominação européia, unindo o caráter pragmático da<br />
colonização, sendo uma prática nova, pois todo acontecimento histó-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
48
ico é novo e irreversível e o discurso antigo, mítico da fabulação.<br />
Assim, nesses dois registros: um discurso antigo e uma prática nova,<br />
encontramos o fluxo de dois rios que não se opõem, mas se hibridi-<br />
zam, formando uma corrente hídrica, híbrida, nova, encaminhando-<br />
nos para a queda livre do discurso ficcional, que não deixa de ter o<br />
resíduo do real e do discurso histórico.<br />
José de Alencar critica as causas atribuídas pelos cronistas ao<br />
canibalismo americano, como a ferocidade e a gula. Alencar diz:<br />
É ponto averiguado, pela geral conformidade<br />
dos autores mais dignos de crédito, que o selvagem<br />
americano só devorava ao inimigo, vencido<br />
e cativo na guerra. Era esse ato um perfeito<br />
sacrifício, celebrado com pompa, e precedido<br />
por um combate real ou simulado que punha<br />
termo à existência do prisioneiro. (ALENCAR,<br />
1926: 207)<br />
José de Alencar reverte a atitude genérica dos cronistas com re-<br />
lação à antropofagia, que tinham uma visão mitológica, a uma posi-<br />
ção específica do ato ritual do sacrifício. O autor de Ubirajara chama<br />
as visões dos cronistas de “caraminholas, impingidas ao pio leitor”.<br />
(ALENCAR, 1926: 207)<br />
Por isso, Alencar critica a mudança de foco com relação ao las-<br />
tro de veracidade, pois como é proposto na “Advertência”, o autor<br />
pretende separar o fictício do verdadeiro, realizando o trabalho do<br />
etnólogo, no intuito de apresentar uma narrativa verossímil com a<br />
realidade dos índios do Novo Mundo. Dessa forma, confirma a inve-<br />
rossimilhança dos cronistas. Assim, notamos a contradição potencial<br />
do vínculo ficção/realidade. Só que, na prática, Alencar fundiu a<br />
história com a lenda, fugindo, dessa forma, da proposta estética et-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
49
nográfica demonstrada constantemente em seus prefácios, posfácios,<br />
advertência, ou seja, no paratexto.<br />
No Ubirajara, José de Alencar pretendia teoricamente apresen-<br />
tar o índio ideal, o protótipo do “bom selvagem”. Por outro lado,<br />
queria afirmar a verdade última do mito, o “dizer primordial”, já que<br />
a cultura antes do descobrimento, a cultura pré-americana, apresen-<br />
tava-se como modelo primordial, encerrando as possibilidades de<br />
futuras transformações a partir da contaminação histórica. Assim,<br />
Ubirajara seria uma forma primeira, um protótipo de todas as signifi-<br />
cações e de todos os valores que os arquétipos míticos nos trazem.<br />
Mircea Eliade, no livro Aspectos do mito, define bem esta “perfeição<br />
dos primórdios”. (ELIADE, s.d.: 47)<br />
Reportando-nos à Ciência Nova, de Giambatista Vico, desco-<br />
brimos uma relação intrínseca entre o modo de pensar mítico com o<br />
modo de pensar poético. Vico afirma que o uso metafórico precede o<br />
uso literal. A poesia vem antes da prosa. Os primeiros humanos pen-<br />
savam poeticamente. Assim, com a descoberta da América, a Europa<br />
viveria a idade dos homens? E a América? Estaria vivendo na época<br />
dos heróis antes do choque cultural? Ubirajara representaria esse<br />
pensamento heróico, em que predominava a poesia? Para Vico, a<br />
idade dos homens seria a da razão, em que prima o pensamento ra-<br />
cional na sua “história ideal eterna”. Dessa forma, Alencar relaciona<br />
os personagens de Ubirajara a estes primeiros humanos que falavam<br />
poeticamente. Ubirajara fala poeticamente, assim como as outras<br />
personagens. Ubirajara, portanto, é menos Brasil, cultura primeva,<br />
nacional, e mais matriz mítica, com seu fundo temático universal.<br />
Essa língua heróica utilizava comparações, imagens, metáforas, fala-<br />
da no tempo em que reinavam os heróis. Assim, para Vico, a primei-<br />
ra ciência que se deve aprender é a mitologia, que é a interpretação<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
50
das fábulas, sendo as primeiras histórias dessas nações. Os primeiros<br />
homens estavam imersos nos sentidos, assim como as personagens<br />
do Romantismo. Vico diz:<br />
Assim, pois, a sabedoria poética, que foi a primeira<br />
sabedoria da gentilidade, teve de começar<br />
por uma metafísica, não raciocinada e abstrata,<br />
como a de agora, dos doutos, mas sentida e imaginada<br />
como deve ter sido pelos primeiros<br />
homens, pois aqueles, desprovidos de qualquer<br />
raciocínio, eram dotados de sentidos robustos e<br />
vigorosíssimas fantasias... (VICO, 1999: 153)<br />
Alencar afirma na “Advertência”: “As coisas mais poéticas, os<br />
traços mais generosos e cavaleirescos do caráter dos selvagens, os<br />
sentimentos mais nobres desses filhos da natureza, são deturpados<br />
por uma linguagem imprópria...” (ALENCAR, 1926: 176) As metá-<br />
foras condizem ao campo semântico da Natureza, demonstrando o<br />
contato harmônico do ser mítico com o cosmos, essa primeira natu-<br />
reza, em que o homem não precisava buscar um sentido, pois o sen-<br />
tido da totalidade era imanente ao ser. Jaguarê diz: “- A filha dos<br />
tocantins tem no pé as asas do beija-flor; mas a seta de Jaguarê voa<br />
como o gavião”. (ALENCAR, 1926: 7)<br />
A grande invenção mimética em Alencar foi juntar esses dois<br />
mundos antes que eles se encontrassem realmente. No romance em<br />
questão, “o selvagem não se dará em total liberdade social. Encontra-<br />
se em hierarquização social, paralela, e tão rígida quanto a européia”,<br />
como esclarece Silviano Santiago no ensaio “Liderança e hierarquia<br />
em Alencar”. (SANTIAGO, 1982: 105) Só que essa personagem<br />
transita ao mesmo tempo no espaço mítico da Natureza. Esse entre-<br />
cruzamento de contrários, antes mesmo do estabelecimento do colo-<br />
nizador no Brasil, reforça a própria estruturação mítica da<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
51
coincidentia oppositorum. Ubirajara é um herói clássico, que passa<br />
por todo um rito de passagem, elevando-se de caçador a guerreiro.<br />
Ubirajara, da nação Araguaia, vence o inimigo Pojucã e diz:<br />
“Eu sou Ubirajara, o senhor da lança, que venceu o primeiro dos<br />
guerreiros de Tupã”. (ALENCAR, 1926: 28) Aqui, ele muda seu<br />
nome para Ubirajara, o “senhor da lança”. Vencendo o inimigo, Ubi-<br />
rajara submete o inimigo ao suplício, não contradizendo a nota expli-<br />
cativa do próprio autor, que critica a visão genérica e pejorativa que<br />
os cronistas tinham dos índios americanos como antropófagos. No<br />
romance, Ubirajara responde ao seu inimigo e prisioneiro de guerra<br />
que não recusará o suplício ao Pojucã, motivo de orgulho não só para<br />
a tribo vencida, como para a vencedora, pois a força do inimigo será<br />
incorporada ritualisticamente ao vencedor e sua tribo. Ubirajara diz:<br />
Ubirajara não recusa ao bravo chefe tocantim,<br />
seu terrível inimigo, o suplício, que não negaria<br />
a qualquer guerreiro valente. Ele esperava que<br />
tua ferida se fechasse de todo, para que o grande<br />
Pojucã possa, no dia do último combate, sustentar<br />
a fama de seu nome, e a glória de um<br />
varão que só foi vencido por Ubirajara.<br />
(ALENCAR, 1926: 49)<br />
Nesse romance, Alencar trabalha, então, com a idéia da antropo-<br />
fagia tanto física quanto cultural e lingüística. De acordo com suas<br />
notas explicativas, o sacrifício humano era uma glória, um momento<br />
específico do ritual reservado aos guerreiros ilustres quando estes<br />
caíam prisioneiros. Era uma honra para o próprio prisioneiro morrer<br />
no meio da festa guerreira e ser comido, pois tal ritual comprovava<br />
sua força e valor. O autor diz na nota:<br />
Os restos do inimigo tornavam-se, pois, como<br />
uma hóstia sagrada que fortalecia os guerreiros;<br />
pois às mulheres e aos mancebos cabia apenas<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
52
uma tênue porção. Não era a vingança; mas<br />
uma espécie de comunhão da carne; pela qual<br />
se operava a transfusão do heroísmo.<br />
(ALENCAR, 1926: 210)<br />
Essa posição refaz o momento mítico da coincidentia opposito-<br />
rum. Alencar neutraliza as oposições, atenua as divergências nesse<br />
ato mágico e ritual, demonstrando, assim, uma postura anti-dialética,<br />
através da fusão dos opostos caracterizados na figura do vencedor e<br />
do vencido, que se transformam num só. Dessa forma, ele não con-<br />
tradiz a tentativa de mostrar o modelo ideal dos heróis ou dos deuses,<br />
mas quebra a idealização do índio visto teoricamente como “bom<br />
selvagem”, pois o herói clássico equaciona em si características ne-<br />
gativas e positivas. A ambigüidade da personalidade perpassa todas<br />
as figuras do imaginário greco-romano, como o herói Aquiles, o deus<br />
Dioniso, que tinha o apelido de Biformis, ?????????. A pró-<br />
pria Bíblia mostra suas contradições, ao revelar no Antigo Testamen-<br />
to um Jeová ao mesmo tempo doador da bênção e da maldição, um<br />
Deus dócil e colérico, mostrando, assim, as contradições que não<br />
obedecem a uma lógica binária. Em Ubirajara, Tupã apresenta a<br />
mesma configuração arquetípica da linguagem mítica: “Ele, que<br />
afrontava a cólera de Tupã, quando o deus irado rugia do céu, curvar-<br />
se ao aceno de um homem, fosse embora o mais pujante dos filhos da<br />
terra?” (ALENCAR, 1926: 46)<br />
Alencar, de um lado, mostra o herói valoroso que passa por pro-<br />
vas para testar a sua constância. O pajé da nação tocantim diz: “-Não<br />
basta que o guerreiro seja forte e valente, para merecer esposa. É<br />
preciso que tenha a constância do varão, e não se perturbe com o<br />
sofrimento”. (ALENCAR, 1926: 113) Por outro lado, vemos a puni-<br />
ção atribuída àqueles que não obedecem aos códigos sistematizados<br />
pela tribo, quebrando com a idéia da univocidade do “estado natu-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
53
al”, o “bom selvagem”: “-Os ritos de tua nação não punem a noiva<br />
que rejeita o prisioneiro?” (ALENCAR, 1926: 52) A expressão utili-<br />
zada por Alencar para o fruto de união entre o prisioneiro e a moça<br />
da tribo inimiga é marabá (filho da guerra). Essa junção, mestiçagem<br />
entre o prisioneiro e a índia da tribo do vencedor só reforça a coinci-<br />
dentia oppositorum.<br />
Alencar consegue, dessa forma, juntar as peças do fator local e<br />
universal e, ao mesmo tempo, do histórico e do mítico. Ao falar so-<br />
bre o Romantismo no Brasil, Antonio Candido afirma: “Tendo-se<br />
originado de uma convergência de fatores locais e sugestões exter-<br />
nas, é ao mesmo tempo nacional e universal”. (CANDIDO, 1997:<br />
15) Esse entrecruzamento reflete-se na própria linguagem utilizada<br />
por Alencar, que escreveu na Língua Portuguesa, utilizando, freqüen-<br />
temente, a sintaxe lusitana, mas apresenta um estilo brasileiro, a par-<br />
tir da invenção vocabular e tupinismos.<br />
Esses elementos na obra de José de Alencar marcam a diferença<br />
com relação à idéia de cópia servil do modelo europeu. Nele, o ele-<br />
mento híbrido é constante, afirmando, assim, a revisão crítica de<br />
Silviano Santiago, que no seu texto “o entre-lugar do discurso latino-<br />
americano” questiona a relação binária dos elementos fonte e influ-<br />
ência, seguindo a linha derridiana do deslocamento da cultura euro-<br />
péia como local de referência totalizante. O constructo da “origem”<br />
da identidade nacional e da cópia servil ao modelo é desconstruído<br />
pela linha diferenciadora. Uma diferença “que não cessa e que se<br />
articula no infinito dos textos, das linguagens, dos sistemas: uma<br />
diferença à qual cada texto retorna”. (BARTHES, 1992: 37) Essa<br />
diferença refere-se aos textos “escrevíveis” em contraposição ao<br />
texto “legível”. Roland Barthes diferencia texto escrevível e texto<br />
legível ao afirmar:<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
54
(...) aquilo que pode ser, hoje, escrito (reescrito):<br />
o escrevível. Diante do texto escrevível<br />
ergue-se seu contra-valor, seu valor negativo,<br />
reativo: aquilo que pode ser lido, mas não<br />
escrito: o legível. Chamamos clássico a todo<br />
texto legível. (BARTHES, 1992: 39)<br />
Silviano Santiago no ensaio “O entre-lugar do discurso latino-<br />
americano” aponta essa diferenciação barthesiana, ao afirmar que os<br />
escritores latino-americanos, num processo antropofágico, só produ-<br />
ziriam textos “escrevíveis”. Mas isso não quer dizer que eles produ-<br />
zam uma cópia do modelo “legível”. Eles re-escrevem o texto,<br />
dispensando-o no “campo da diferença infinita” (BARTHES, p. 39).<br />
Essa terminologia aproxima-nos do ad infinitum que encontramos no<br />
terreno do mito.<br />
E como a imagética de José de Alencar é essencialmente poéti-<br />
ca, com o uso de imagens, ritmos, musicalidade, há a possibilidade<br />
ainda mais intensa de recriação dessa outra realidade (aceitável den-<br />
tro da ordem poética), fazendo-nos lembrar do “impossível verossí-<br />
mil”, de Aristóteles em sua Poética. Assim, de acordo com Ian Watt:<br />
“O uso do mito para expressar idéias espirituais, é um dos aspectos<br />
mais característicos da poesia romântica”. (WATT, 1997: 194)<br />
Se os mitos clássicos demonstravam a essência do homem em<br />
sua ambigüidade, natureza e história, eles não poderiam ser expres-<br />
sos literal ou diretamente, mas somente por meio da linguagem poé-<br />
tica. Esse é o ideal romântico do mito. Tanto o clichê de exotismo,<br />
como a categoria da ocidentalização da cultura não seriam mais pos-<br />
síveis de ser aplicadas à cultura brasileira, seguindo essa linha de<br />
raciocínio, o que rompe com os estereótipos consagrados.<br />
Nessa visão híbrida e mestiça, o espaço do sonho<br />
pode invadir a realidade. E recorde-se a<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
55
importância dos sonhos na vida dos povos antigos,<br />
ainda expressa com vigor na Bíblia. Cassirer<br />
diz sobre a verdade do sonho e da vigília:<br />
(...) determinados conceptos míticos fundamentales<br />
sólo pueden comprenderse en su estructura<br />
peculiar si se tiene en cuenta que para el pensamiento<br />
y la “experiencia” míticos existe un<br />
tránsito continuo que flutúa entre el mundo del<br />
sueño y el de la “realidad” objetiva.<br />
(CASSIRER, 1998: 60)<br />
Essa possibilidade de unir sonho e realidade no espaço do mito<br />
é a mesma possibilidade que o fenômeno literário assume ao unir o<br />
fictício e o real pela linguagem. Em Ubirajara, o caçador Jaguarê<br />
(ainda não transformado em Ubirajara) alimenta-se do sonho para<br />
compreender o real:<br />
À noite, quando o guerreiro dormia em sua rede<br />
solitária, Araci, a linda virgem, lhe apareceu em<br />
sonho e lhe falou:<br />
- Jaguarê, jovem caçador, tu dormes descansado<br />
enquanto os guerreiros tocantins se preparam<br />
para roubar a virgem de teus amores. Ergue-te e<br />
parte, se não queres chegar tarde. (ALENCAR,<br />
1926: 40)<br />
O rito de hospitalidade também refaz o momento cosmogônico<br />
(repetição do ab origine), de conciliação dos opostos. O imaginário<br />
grego tratou desse rito de gentileza e cordialidade para com o próxi-<br />
mo, através de Homero, na Ilíada e Odisséia. Em Ubirajara, a che-<br />
gada do hóspede é confundida, inicialmente, com a vinda de Sumé<br />
na origem da formação daquela organização social e cultural:<br />
O hóspede é mensageiro de Tupã. O primeiro<br />
que apareceu na taba dos avós da nação tocantim,<br />
foi Sumé, que veio donde a terra começa e<br />
caminhou para onde a terra acaba.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
56
Dele aprenderam as nações a plantar a mandioca<br />
para fazer a farinha, e a tirar do cajú e do ananás<br />
o generoso cauim, que alegra o coração<br />
do guerreiro. (ALENCAR, 1926: 63-64)<br />
Alguns grupos indígenas também verão os europeus como deu-<br />
ses; e o rito de hospitalidade terminará facilitando a conquista. Em<br />
Ubirajara, a hospitalidade é um costume herdado dos maiores entre<br />
a tribo e o hóspede mandava na taba aonde Tupã o conduzia. Nesse<br />
sentido, a experiência do outro, da alteridade, é assimilada pela tribo<br />
dos tocantins: “O viajante é senhor na terra que ele pisa como hóspe-<br />
de e amigo; e o nome é a honra do varão ilustre, porque narra sua<br />
sabedoria. Pergunta ao estrangeiro como ele quer ser chamado na<br />
taba dos tocantins!” (ALENCAR, 1926: 68-69) Ubirajara troca de<br />
nome temporariamente e se denomina Jurandir, “o que veio trazido<br />
pela luz”, identificando-se, assim, com os ritos da tribo inimiga. A<br />
troca de nomes é constante nos romances estudados. No plano da<br />
linguagem, aponta para a dissolução de um sentido único, para a<br />
quebra da noção identitária. O sujeito está em constante devir, em<br />
construção, inacabado. Macunaíma, por exemplo, trocará de raças e<br />
funções. A pluralidade da linguagem nos faz ver a pluralidade do ser,<br />
que não se mostra como “isto” ou “aquilo”, mas como presença e<br />
ausência de trocas e transferências que apontam para o espaço ima-<br />
ginário do mito, que se realiza a partir da metáfora e da metonímia,<br />
como lugares das sínteses e condensações.<br />
Num outro momento, Ubirajara irá praticar a bigamia, intensifi-<br />
cando a coincidentia oppositorum, característica do mito e da lingua-<br />
gem literária. Alencar procura neutralizar as oposições entre as tribos<br />
inimigas: araguaia e tocantim, através de construções mitopoéticas,<br />
valores extremamente caros ao Romantismo. Isso já se apresentara<br />
no Romantismo alemão, com a mistura de temporalidades, como<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
57
podemos perceber em Goethe: o clássico e o romântico, a tradição e<br />
o moderno. Em Fausto, ocorre a união entre Fausto e Helena de<br />
Tróia, gerando um terceiro elemento híbrido.<br />
A união dos arcos demonstra esse rompimento com as linhas de<br />
parentesco, que segundo Freud seriam definidas pelo totem, que é o<br />
antepassado comum do clã. Citando James Frazer, Freud afirma: “O<br />
laço totêmico é mais forte que os laços de sangue ou de família no<br />
sentido moderno”. (FREUD, 1999: 14) Assim, os dois arcos de cada<br />
tribo delimitariam os dois objetos sagrados e poderosos que as sepa-<br />
ram. O ancestral comum que será passado de geração em geração,<br />
sendo aquele que é o mais forte, que vergará o arco-chefe de Itaquê<br />
de forma mais precisa (aqui podemos comparar com a prova do arco<br />
concedida a Ulisses na Odisséia), será o detentor do poder e chefe da<br />
tribo, servindo de modelo arquetípico a ser seguido. Ubirajara acaba-<br />
rá tendo duas esposas, sendo senhor dos arcos das duas tribos, parti-<br />
cipando de dois totens e conquistando o amor de duas mulheres.<br />
Ubirajara diz:<br />
Este é o emblema da união. Ubirajara fará a<br />
nação tocantim tão poderosa como a nação araguaia.<br />
Ambas serão irmãs na glória e formarão<br />
uma só, que há de ser a grande nação de Ubirajara,<br />
senhora dos rios, montes e florestas.<br />
(ALENCAR, 1926: 165)<br />
Dessa forma, teremos não só a mestiçagem cultural, mas tam-<br />
bém lingüística, pois as tribos indígenas no Brasil falavam dialetos<br />
diferenciados, não havendo uma unidade lingüística. Ubirajara rom-<br />
pe com o paradigma do herói “bom selvagem” proposto, inicialmen-<br />
te, por Alencar, quebrando a linha de parentesco cultural e<br />
lingüístico. Isso poderia demonstrar a visão antropofágica definida<br />
por Oswald de Andrade, pois a união das duas tribos fortaleceria o<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
58
poder da nação Ubirajara: “As duas nações dos araguaias e dos to-<br />
cantins, formaram a grande nação dos Ubirajaras, que tomou o nome<br />
do herói”. (ALENCAR, 1926: 171)<br />
Esse desejo de síntese remete não só à estruturação mítica, mas<br />
à própria configuração da linguagem e caracteriza a força mimética<br />
do romance indianista alencariano. Vera Lúcia Follain Figueiredo<br />
afirma, com relação à literatura latino-americana do século XIX:<br />
O chamado romance patriótico do século XIX<br />
latino-americano na sua vertente histórica ou na<br />
indianista (...) opera (...) uma conjugação erótico-política,<br />
projetando no par romântico, no desejo<br />
de união dos amantes, o desejo de<br />
consolidação da nações... (FIGUEIREDO,<br />
1994: 30)<br />
O jogo da visibilidade poética demonstra o reconhecimento de<br />
códigos culturais particulares, antropologicamente, das nações opos-<br />
tas: araguaias e tocantins: “É um guerreiro tocantim. De longe avis-<br />
tou Jaguarê e reconheceu o penacho vermelho dos araguaias”.<br />
(ALENCAR, 1926: 9)<br />
Essa particularidade deixa visível o processo de aglutinação do<br />
elemento local, historicamente palpável, no estilo de vida do indíge-<br />
na a uma linha aparentemente invisível que enforma o ideário da<br />
imaginação dos grandes heróis clássicos e suas relações com o meio.<br />
Pensemos nos constantes “reconhecimentos” nas tragédias gregas,<br />
como em Édipo Rei, por exemplo.<br />
A permanência da identidade faz-se através da via oral na ima-<br />
ginação mítica, em que o ato de lembrar é mais importante que os<br />
feitos heróicos em si mesmos. Dessa forma, a fala se sacraliza para<br />
repetir o ato inicial de heroísmo que está na origem de todos os mi-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
59
tos. O verbo audível torna-se mais sagrado pela presença do corpo<br />
daquele que fala e dos ouvintes que recebem a força mágica desses<br />
atos heróicos; verdadeiro modelo civilizatório e formador de uma<br />
sociedade tribal. A fala torna-se um reflexo do verbo divino, pois<br />
aquele que canta possui o dom dos deuses. O antropólogo Pierre<br />
Clastres produziu uma bela obra que comenta sobre a fala sagrada<br />
dos mitos dos índios guaranis, o que ele denomina de “belas pala-<br />
vras”. Para esses povos, belas porque permitem falar com os deuses,<br />
que não se atêm a uma particularidade ontológica, mas que englobam<br />
um canto universal que está na estrutura mítica: “Linguagem de um<br />
desejo de supra-humanidade, desejo de uma linguagem próxima da<br />
dos deuses: os sábios guaranis souberam inventar o esplendor solar<br />
das palavras dignas de serem dirigidas somente aos divinos”.<br />
(CLASTRES, 1990: 13)<br />
Por outro lado, as qualidades heróicas também não são deixadas<br />
de lado. A Timé e a Areté, a honra e a excelência fazem de Aquiles<br />
um herói a ser lembrado por gerações sucessivas. Os elementos for-<br />
madores do mito grego estão presentes em Alencar, em sua via parti-<br />
cularizante. O rapsodo Jaguarê canta suas façanhas como Ulisses fez<br />
na Odisséia: “- Guerreiros araguaias, ouvi a minha história de guer-<br />
ra”. (ALENCAR, 1926: 24) O papel da memória serve como antído-<br />
to contra qualquer possibilidade de engano ou mentira, pois a<br />
verdade não é se lembrar sempre, afastando-se do esquecimento? A<br />
verdade é alétheia, “o que não foi esquecido, omitido”.<br />
O mesmo processo de hierarquização presente em Utopia selva-<br />
gem, com relação aos ritos de Jurupari, encontra-se em Alencar:<br />
Por detrás da estacada apinham-se as mulheres,<br />
que segundo o rito pátrio não podem ser admitidas<br />
nas festas guerreiras.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
60
De longe acompanham silenciosas, com os olhos,<br />
as velhas aos filhos, as esposas aos seus<br />
guerreiros, e as virgens aos noivos.<br />
Exultam quando ouvem celebrar as façanhas<br />
dos seus; mas não ouvem murmurar uma palavra.<br />
(ALENCAR, 1926: 23)<br />
Por outro lado, a exclusão das mulheres no rito pátrio das festas<br />
guerreiras tende a reproduzir um vazio textual que se encontra na<br />
origem dos mitos. O vazio, a escuridão primeva, caracteriza o aspec-<br />
to feminino em todos os mitos, não sendo essa filiação às trevas pri-<br />
mordiais um aspecto negativizador dentro da lógica dialética, mas<br />
sim uma fonte originária de todos os discursos posteriores, de toda<br />
palavra mencionada, que é, em si mesma, no seu estado puro, dialéti-<br />
ca e diferenciadora, hierarquizando os pólos opostos do discurso -<br />
não só cultural, mas textual. No entanto, pela via do ficcional, tende<br />
a reconstruir esse vazio textual, que é preenchido pelo leitor, não de<br />
forma dialética, mas plural, como no tempo primordial dos mitos.<br />
A repetição presente no corpo do romance Ubirajara como se<br />
fosse um ritmo constante; ritmo que tende a relacionar-se ao imagi-<br />
nário do ad infinitum não só mítico, mas literário; pois o estágio pre-<br />
sente soa como leitmotiv do espaço reintegrante do passado original,<br />
assim como a obra que serve como modelo ao texto sedimentário de<br />
sua essência magmática:<br />
Eu sou Ubirajara, o senhor da lança, que venceu<br />
o primeiro guerreiro dos guerreiros de Tupã.<br />
Eu sou Ubirajara, o senhor da lança, o guerreiro<br />
terrível que tem por arma uma serpente.<br />
(ALENCAR, 1926: 28)<br />
A repetição também enfatiza o valor do guerreiro indígena, um<br />
dos objetivos principais das narrativas de José de Alencar. Acentuar<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
61
os elementos positivos do indígena, visto anteriormente como uma<br />
“tábula rasa”, periférico em referência às crônicas de viagem; que<br />
deveria ser “civilizado” pelos dominadores europeus. Numa passa-<br />
gem da Carta de Achamento do Brasil, o escrivão da armada de Ca-<br />
bral, Pero Vaz de Caminha, assim descreve um dos contatos com<br />
alguns índios: “Os outros dois, que o Capitão teve nas naus, a que<br />
deu o que já disse, nunca mais aqui apareceram - do que tiro ser gen-<br />
te bestial de pouco saber e por isso tão esquiva”. (OLIVIERI, 1999:<br />
22) Nesta carta se revela ainda a ideologia portuguesa de evangeliza-<br />
ção do indígena. A ruptura dá-se no plano da reação mitológica, em<br />
que elementos da tradição européia são miscigenados com elementos<br />
da tradição indígena. No caso de Ubirajara, não vemos expressamen-<br />
te essa combinação, mas, de forma implícita, temos a combinação do<br />
ideário do herói grego, mais do que medieval, como muitos supõem,<br />
para a reconstrução de um elemento mítico que já é híbrido em sua<br />
formação constitutiva original. A particularidade antropológica indí-<br />
gena casa-se aos esquemas de composição de heróis como Ulisses,<br />
Aquiles e Páris. Antes que vinculássemos a usurpação do imaginário<br />
de heróis medievais, voltamos muito mais no tempo, buscando a<br />
origem de temas universais do imaginário grego, o que provoca um<br />
colapso na idéia massacrante de cópia do elemento europeu, pois o<br />
português Camões, em Os Lusíadas, não misturou o pagão e o cris-<br />
tão, elementos greco-romanos e portugueses? A descendência de um<br />
e de outro só faz renovar o mito, que é estruturalmente universal,<br />
elevando-o à função desrealizadora do real, que também ocorre na<br />
literatura: “Mas Tupã ordena que o ancião se curve para a terra até<br />
desabar como o tronco carcomido e que o mancebo se eleve para o<br />
céu como a árvore altaneira”. (ALENCAR, 1926: 30)<br />
A destinação da jovem mais bela da tribo atacada ao herói ini-<br />
migo prisioneiro serve como metáfora da situação proposta por A-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
62
lencar, em seu projeto revitalizador antropofágico, que geraria uma<br />
composição textual não só mais flexível, mas que aumentasse o valor<br />
das obras nacionais, a partir do elemento particular indígena, mistu-<br />
rado a elementos caracterizadores dos heróis, que não encontramos<br />
apenas em Walter Scott, mas como constitutivo do imaginário mítico<br />
desde sempre:<br />
Os araguaias receberam de seus avós o costume<br />
das nações que Tupã criou. Eles destinam ao<br />
prisioneiro a mais bela e a mais ilustre de todas<br />
as virgens da taba, para que ela conserve o sangue<br />
generoso do herói inimigo e aumente a nobreza<br />
e o valor de sua nação. (ALENCAR,<br />
1926: 49-50)<br />
Segundo Antonio Candido, no volume 2 da Formação da litera-<br />
tura brasileira, uma das razões que levaram José de Alencar ao tema<br />
do índio foi “a vontade profunda do brasileiro de perpetuar a con-<br />
venção, que dá a um país de mestiços o álibi duma raça heróica, e a<br />
uma nação de história curta, a profundidade do tempo lendário”.<br />
(CANDIDO, 1997: 202)<br />
A questão que podemos vislumbrar aqui é a defasagem em rela-<br />
ção a dois tempos. A que tempo se refere Candido? Centrando-se a<br />
partir da colonização do Brasil pelos portugueses, não vê que a pro-<br />
fundidade do tempo lendário esteve presente entre os indígenas des-<br />
de sempre, pois a antigüidade do Brasil e de seus habitantes não é<br />
contestada e os mitos sempre perfizeram o percurso simbólico das<br />
tradições orais. Os indígenas não foram alheios a isso. Notadamente,<br />
os conhecimentos antropológicos na época de Alencar não se refe-<br />
rem ao que hoje conhecemos, mas a existência de um passado mítico<br />
formador desses primeiros habitantes é inquestionável se formos<br />
analisar todas as tradições que enformaram o ideário mítico de várias<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
63
nações, não dos dominantes, mas também dos povos colonizados,<br />
como os latino-americanos, os africanos, da tradição hinduísta, como<br />
podemos ver nos contos do Mahabarata, por exemplo. José de Alen-<br />
car atesta essa filiação em sua obra Ubirajara: “Este livro é irmão de<br />
Iracema. Chamei-lhe de lenda como ao outro. Nenhum título respon-<br />
de melhor pela propriedade, como pela modéstia, às tradições da<br />
pátria indígena”. (ALENCAR, 1926: 175)<br />
O tempo lendário, anterior ao tempo histórico é retratado no ca-<br />
pítulo “A hospitalidade”, em que temos o embate cósmico das águas,<br />
elemento primordial, aquático, que encerra em sua composição a<br />
profundidade da coincidentia oppositorum típica do mito:<br />
Ele viu o grande rio combater com o mar, no<br />
tempo da pororoca (...) Vêm de um lado as águas<br />
do mar, são os guerreiros azuis, com penachos<br />
de araruna; vêm do outro as águas do rio,<br />
são os guerreiros vermelhos com penachos de<br />
nambu.<br />
Começa a batalha. (ALENCAR, 1926: 72)<br />
A conjunção mítico-erótica de união dos elementos é represen-<br />
tada nesse embate entre as águas que se infiltram, posteriormente, na<br />
formação heróica das nações contrárias dos araguaias e tocantins.<br />
Como já afirmei, a grande invenção mimética foi unir duas realida-<br />
des antes que elas se cruzassem: a profundidade do mito anterior ao<br />
descobrimento e o tempo histórico, em que temos o processo de hie-<br />
rarquização na estrutura da vida indígena.<br />
Para Flora Süssekind, em O Brasil não é longe daqui, a inscri-<br />
ção de nossa natureza nas páginas dos escritores românticos serve<br />
como representação de nossa brasilidade frente aos povos estrangei-<br />
ros: “O destino é indiscutível: regressar à origem, descobrir o Brasil.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
64
O cenário também: natural, pitorescamente natural”. (SÜSSEKIND,<br />
1990: 35) Podemos contestar tal afirmação, ao analisarmos o espaço<br />
da inscrição da natureza como imagem formadora dos mitos e sua<br />
importância na tradição dos deuses. Basta que mencionemos os ritos<br />
de fecundidade da Grande Mãe no mundo grego e de outras culturas,<br />
desempenhando um papel universal de ato mágico-religioso que se<br />
liga à natureza como o lugar da transformação e reunificação da uni-<br />
dade perdida. No caso de Ubirajara, a natureza não é tão brasileira<br />
quanto parece, não serve de retrato peculiar aos olhos europeus. A<br />
visualização do rio Tocantins, que percorre a narrativa, a ação dra-<br />
mática, encerra a invisibilidade que se oculta por trás de seu elemen-<br />
to aquático, superficial – a profundidade do mito que corre<br />
paralelamente ao eixo literário sob a camada histórica. As metáforas<br />
remetem-nos ao campo semântico da natureza do lugar, fazendo-nos<br />
entrever códigos específicos. Mas tais elementos não traduzem ape-<br />
nas uma ordem particular, mas também cósmica, anterior ao tempo<br />
histórico, em que as tensões míticas se dão precisamente a partir da<br />
ordenação do mundo visível. Os sons da natureza servem para Itaquê<br />
reconstituir a ordem do Logos, a harmonia universal. Com a perda da<br />
visão, Itaquê aguça a sua audição. Ao cego é recusado o visível para<br />
poder apreender o que é passível de escutar vivamente na natureza.<br />
Em Ubirajara, temos a cegueira de Itaquê como uma perda que leva<br />
à sabedoria da auditividade. Itaquê não tem mais a visão para o com-<br />
bate, para a luta armada: “Mas a luz fugiu de seus olhos e ele não<br />
pode mais abrir o caminho da guerra”. (ALENCAR, 1926: 152) A<br />
sabedoria da auditividade mostra-nos, por outro lado, o reino invisí-<br />
vel da natureza: “-Pais da sabedoria, abarés, olhai aquele jatobá que<br />
se levanta no meio da campina, e que eu só posso ver agora na som-<br />
bra de minha alma”. (ALENCAR, 1926: 153-154) Itaquê torna-se<br />
um vidente dessa natureza mágica e imperceptível do imaginário<br />
mítico. A individualidade de Itaquê, na co-criação de ouvinte, funde-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
65
se na unidade harmônica e indiferenciada da natureza em sua anterio-<br />
ridade cósmica. O mundo dos sentidos é transcendido para uma or-<br />
dem outra, superior e cósmica, sendo que Itaquê compreende a<br />
linguagem do Logos, da sabedoria mítica do Cosmo. A natureza aqui<br />
representa a busca da totalidade perdida, a imanência do sentido que<br />
está além. Itaquê quer ouvir a harmonia da natureza no arco, como<br />
seu reflexo naturalizado, para reconhecer, neste, o traço peculiar que<br />
definirá o novo chefe da nação. Ele ouve o arco, reportando-se à<br />
tradição, à memória cósmica que ficou para trás, buscando a continu-<br />
idade do antepassado na nova tradição: “O semblante de Itaquê re-<br />
moçou, ouvindo o zunido que recordava-lhe o tempo de seu vigor.<br />
Era assim que ele brandia o arco outrora, quando as luas cresciam<br />
aumentando a força de seu braço”. (ALENCAR, 1926: 165) Aqui,<br />
encontramos a diacronia no ouvir, em que o anterior e o posterior se<br />
casam numa conciliação dos opostos (o presente e o passado), em<br />
que a comparação dos sons dos arcos nos revela o sentido da flecha,<br />
que é penetrar, aguçar, revelando esse duplo movimento, fazendo<br />
Itaquê penetrar no sentido do ser em harmonia com a natureza do<br />
universo, mais do que a natureza brasileira em particular: “O velho<br />
inclinou a fronte para escutar o sibilo de sua flecha que talhava o<br />
azul do céu. Os cantores não tinham para ele mais doce harmonia do<br />
que essa”. (ALENCAR, 1926: 165) Assim, é a partir do discurso<br />
mitopoético que podemos ouvir essa outra voz que se esconde nas<br />
entrelinhas dos sons da natureza e seu reflexo nos objetos mágicos.<br />
Outras vozes, outras margens, talvez a terceira margem que se<br />
encontra na coincidentia oppositorum do mito. Como se sabe, José<br />
de Alencar teria sido homenageado por Mário de Andrade, pois Ma-<br />
cunaíma seria originalmente dedicado ao criador de Iracema. Não<br />
importa que, ao fim e ao cabo, a rapsódia tenha sido dedicada a Pau-<br />
lo Prado. O nome foi suprimido, mas não a presença do imaginário<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
66
mítico, na obra prima de Mário de Andrade. Assim, o mito serve em<br />
José de Alencar para demonstrar a quebra da identidade nacional,<br />
subvertendo a lógica da crítica brasileira.<br />
Referências Bibliográficas:<br />
ALENCAR, José de. Ubirajara. Rio de Janeiro: Garnier, 1926.<br />
ARISTÓTELES. A Poética clássica. Aristóteles, Horácio, Longino;<br />
tradução direta do grego e do latim por Jaime Bruna. 7 a ed. São<br />
Paulo: Cultrix, 1997.<br />
BARTHES, Roland. S/Z: uma análise da novela Sarrasine de Honoré<br />
de Balzac; tradução de Léa Novaes. – Rio de Janeiro: Nova<br />
Fronteira, 1992.<br />
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. Vol 2. Belo<br />
Horizonte: Itatiaia, 1997.<br />
CASSIRER, Ernst. Filosofía de las formas simbólicas: El pensamiento<br />
mítico. Vol. 2. México: Fondo de Cultura Econômica,<br />
1998.<br />
CLASTRES, Pierre. A fala sagrada: mitos e cantos sagrados dos<br />
índios Guarani; tradução de Nícia Adan Bonatti. São Paulo:<br />
Papirus, 1990.<br />
ELIADE, Mircea. Aspectos do mito. Lisboa: Edições 70, s.d.<br />
FIGUEIREDO, Vera Lúcia Follain. Da profecia ao labirinto: imagens<br />
da história na ficção latino-americana contemporânea.<br />
Rio de Janeiro: Imago, 1994.<br />
FREUD, Sigmund. Totem e tabu. Rio de Janeiro: Imago, 1999.<br />
OLIVIERI, Antônio Carlos. Cronistas do descobrimento. Antônio<br />
Carlos Olivieri e Marco Antônio Villa (orgs.). São Paulo: Ática,<br />
1999.<br />
SANTIAGO, Silviano. Vale quanto pesa: ensaios sobre questões<br />
político-culturais. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.<br />
SÜSSEKIND, Flora. O Brasil não é longe daqui: o narrador, a viagem.<br />
São Paulo: Companhia das Letras, 1990.<br />
VICO, Giambattista. A Ciência Nova; tradução, prefácio e notas de<br />
Marco Lucchesi. Rio de Janeiro: Record,1999.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
67
WATT, Ian. Mitos do individualismo moderno. Rio de Janeiro: Jorge<br />
Zahar, 1997.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
68
As ferramentas para compreensão de um texto<br />
Introdução<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
Charleston Chaves – UERJ<br />
Quais são os pressupostos para que um texto seja/possa ser<br />
compreendido? O que possibilita ao leitor a capacidade de dialogar<br />
com um texto? A partir da década de 60 surgiu uma corrente lingüís-<br />
tica preocupada com o texto, porque já não se satisfazia mais com a<br />
gramática da frase ou da palavra (FÁVERO & KOCK: 2002: 11): a<br />
lingüística textual. É bem verdade que há dois aspectos imprescindí-<br />
veis para a compreensão de um texto: o saber lingüístico e o saber<br />
enciclopédico.<br />
Um desses aspectos, que é o saber enciclopédico (de mundo),<br />
certamente é imprescindível para compreender um texto, mas não o<br />
único. De nada adianta conhecimento enciclopédico se o leitor não<br />
domina as ferramentas necessárias para reconhecer os encadeamen-<br />
tos sintáticos que possibilitam a compreensão textual.<br />
Partindo do princípio em relação ao conhecimento de mundo, é<br />
necessário observar o texto abaixo:<br />
Para os economistas, considerar o consumo<br />
como um princípio organizador do sistema não<br />
é novidade. Já no plano filosófico e cultural, o<br />
consumismo tem sido alvo de análise mais críticas<br />
e pessimistas, principalmente a partir da<br />
“revolução” hippie dos anos 60. Janis Joplin<br />
pedia então a Deus que lhe providenciasse um<br />
Mercedes Bens. “All my friends have Porshes”<br />
justificava a humorada canção de protesto.<br />
69
O fato é que, mesmo desdenhado dos valores de<br />
consumo, estamos metidos nele. O Porshe psicodélico<br />
de Janis Joplin está atualmente no saguão<br />
de entrada de uma exposição no Museu de<br />
Arte Moderna de S. Francisco. (SCHUWARTS,<br />
2000)<br />
Nota-se que, nesse texto, há uma série de pré-requisitos para<br />
compreensão do mesmo. Um deles é a menção que se faz à revolu-<br />
ção hippie dos anos 60. O autor parte do princípio que o seu leitor<br />
deva compartilhar do conhecimento prévio de saber o que represen-<br />
tou tal movimento e que, por isso, há uma crítica ao consumismo,<br />
ainda mais na figura da cantora Janis Joplin, um dos maiores ícones<br />
de tal movimento. Além disso, a referência à exposição em museu do<br />
Porshe da canção é um comentário que está revestido de crítica, mas<br />
que só é percebida por conta do conhecimento enciclopédico, já que<br />
a cantora, símbolo do movimento que criticava o consumismo desen-<br />
freado motivado pelo capitalismo, rendeu-se ao próprio consumismo,<br />
reforçado pelo comentário do próprio autor no trecho “O fato é que,<br />
mesmo desdenhado dos valores de consumo, estamos metidos nele”.<br />
Entretanto, o que propicia um amplo conhecimento dessas rela-<br />
ções semânticas, dessa construção de sentido, são certos elementos<br />
lingüísticos. Um exemplo disso é a utilização do conectivo “já” em<br />
“Já no plano filosófico e cultural” que contextualmente inicia uma<br />
construção frasal que possui valor de aposição ao que havia sido dito<br />
e quem proporciona tal aspecto é justamente o vocábulo em questão,<br />
claramente com função textual de conectivo adversativo, semelhante<br />
à conjunção adversativa “mas”. E esse fator é imprescindível para<br />
entendimento do texto, porque introduz a referida crítica ao consu-<br />
mismo. Outro fator importante é a construção “mesmo desdenhado<br />
(...)”, que está no início do segundo parágrafo. Tal construção possui<br />
valor concessivo, assemelhando-se à forma desenvolvida com con-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
70
junção - mesmo que se desdenhe. O reconhecimento desse valor con-<br />
cessivo por parte do leitor é fator determinante para que compreenda<br />
o exemplo apresentado posteriormente e que respalda a crítica feita à<br />
impossibilidade de se desvincular completamente do consumismo<br />
(tema central do texto).<br />
Percebe-se, então, que esses elementos que compõem o tecido<br />
textual são importantíssimos para a articulação do mesmo e possibili-<br />
tam que o leitor possa perceber com mais segurança os sentidos ine-<br />
rentes ao texto.<br />
Abordagem teórica: gramática textual<br />
O estudo das gramáticas textuais possibilita um grande número<br />
de recursos para compreensão textual; afinal de contas, o leitor que<br />
domina tais recursos tem a competência maior de dialogar com maio-<br />
res condições com o texto. É na década de 60, na Europa, que surge<br />
o estudo das gramáticas textuais, porque a gramática da frase já não<br />
supria todas as necessidades para identificação do sentido textual.<br />
Segundo OLIVEIRA (2005: 46), passou-se também a chamar-se, na<br />
mesma época, gramática textual de lingüística textual. A rigor que-<br />
rem referir-se ao mesmo fato, ou seja, que os aspectos lingüísticos<br />
precisam ser explicados textualmente e não por meio de frases sem<br />
contexto.<br />
Assim, diversos fenômenos devem ser levados em consideração.<br />
Ainda que o saber enciclopédico seja também pré-requisito, o saber<br />
lingüístico é do mesmo modo primordial para reconhecer certos ele-<br />
mentos no tecido do texto, que possibilitam coerentes compreensões.<br />
Dentre esses mecanismos textuais estão os conectivos, sobret u-<br />
do as conjunções, que estabelecem um elo sintático, só que impreg-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
71
nado de carga semântica contextual, orientando o leitor a tirar certas<br />
conclusões, sabendo que cada trecho avaliado faz parte de um con-<br />
junto, uma superestrutura que, se bem construída, fornecerá margem<br />
para ampla leitura.<br />
É bem verdade que não só as conjunções são foco para análise<br />
das gramáticas do texto. A lingüística textual também está interessa-<br />
da em recursos anafóricos, a repetição, uso de artigos definidos e<br />
indefinidos e seus respectivos valores contextuais, entre outras carac-<br />
terísticas. Entretanto, aqui o enfoque escolhido será o estudo dos<br />
conectivos como ferramentas para compreensão textual, ou seja, para<br />
se distinguir a diferença de uso de uma adversativa e de uma conces-<br />
siva ou como uma mesma conjunção (ou locução conjuntiva) possui<br />
valores diferentes, por conta de empregos distintos, e isso é primor-<br />
dial para se chegar a um resultado satisfatório de leitura. Paralela-<br />
mente a isso, o valor semântico das preposições, dos verbos e dos<br />
advérbios muitas vezes auxiliará o processo, visto que são também<br />
ferramentas muito úteis. São justamente essas e outras ferramentas<br />
que possibilitam o reconhecimento de certos valores no corpus tex-<br />
tual ou prejudicam tal conhecimento quando o leitor não é capaz de<br />
perceber as relações sintático-semânticas existentes em diversas<br />
construções.<br />
A Lingüística Textual surge a partir de três pressupostos: o da<br />
análise transfrástica, o da construção das gramáticas textuais e o da<br />
construção das teorias do texto (FÁVERO & KOCK, 2002: 13). E é<br />
bem verdade que isso ocorre porque a gramática da frase não conse-<br />
gue dar conta de uma série de fenômenos lingüísticos, só passíveis de<br />
serem analisados pela gramática do texto. Muitas relações textuais<br />
como substituições, omissões, redundâncias, encadeamentos, entre<br />
outros aspectos são estudados pela gramática textual e ampliam o<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
72
significado do texto. É nesse ínterim que surge a importância de va-<br />
lorizar certas ferramentas - preposições, conjunções, advérbios - que<br />
promovem encadeamentos, “costuram” os elementos textuais, dando<br />
sentido aos mesmos.<br />
Os conectivos e as estratégias argumentativas<br />
Segundo Leonor Fávero e Ingedore Kock (2002: 47-49), os tex-<br />
tos argumentativos obrigam o leitor (teoria defendida por DUCROT<br />
e WEINRICH) a perceber certas pistas para que se chegue a deter-<br />
minadas conclusões. Para tal análise, “o valor semântico de uma<br />
frase argumentativa contém, entre outros elementos, o conjunto de<br />
instruções concernentes às estratégias a serem seguidas para a deco-<br />
dificação de seus enunciados.” (FÁVERO & KOCK, 2002: 48). São<br />
justamente essas estratégias que devem ser dominadas pelo leitor,<br />
que foram especificamente construídas, por exemplo, com certos<br />
conectivos que fornecem não só progressão ao texto, como também<br />
valores semânticos, dentre deles: mas, embora, já que, logo, entre-<br />
tanto, pois, e, dentre tantos outros possíveis. Importante saber que<br />
esses conectores podem ligar tanto frases como até mesmo parágra-<br />
fos. Além disso, os valores não são dispensáveis, pensando o texto<br />
como uma unidade de sentido.<br />
É fundamental observar como isso se constitui. O texto abaixo<br />
possui uma série de certos conectores que exercem papel imprescin-<br />
dível na linha argumentativa.<br />
Os principais problemas da agricultura brasileira<br />
referem-se muito mais à diversidade dos impactos<br />
causados pelo caráter truncado da<br />
modernização, do que à persistência de segmentos<br />
que dela teriam ficado imunes. Se hoje<br />
existem milhões de estabelecimentos agrícolas<br />
marginalizados, isso se deve muito mais à natu-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
73
eza do próprio processo de modernização, do<br />
que à sua suposta falta de abrangência.<br />
(FOLHA DE SÃO PAULO, 1994: 2)<br />
Percebe-se que no texto em questão, os conectivos possuem c a-<br />
ráter relevante para se compreender o que está sendo “dito”. Um<br />
exemplo disso é o reconhecimento do comparativo muito mais / do<br />
que, com a notória presença da conjunção comparativa QUE. Nesse<br />
caso, o leitor que domina e percebe tal recurso lingüístico tem possi-<br />
bilidade de compreender que a “persistência de segmentos” no setor<br />
agrícola brasileiro é menos importante que os problemas que se refe-<br />
rem “à diversidade de impactos causados pelo caráter truncado da<br />
modernização”, ou seja, os problemas da agricultura resultam muito<br />
mais da inadequação (“caráter truncado”) do processo de moderniza-<br />
ção do setor.<br />
Observa-se também que há um caráter hierárquico dos proble-<br />
mas no setor agrícola brasileiro promovido pelo uso do grau compa-<br />
rativo de superioridade mais / do que e que não pode ser lido de outra<br />
forma, com a penalidade de resultar prejuízo de sentido.<br />
E não é só isso. A linha argumentativa se solidificou na pro-<br />
gressão do texto com o conectivo SE. Embora tal conectivo esteja<br />
revestido semanticamente de valor condicional, na verdade, a oração<br />
que ele inicia - “Se hoje existem milhões de estabelecimentos agríco-<br />
las marginalizados” - é conseqüência do que se enuncia posterior-<br />
mente - “ isso se deve muito mais à natureza do próprio processo de<br />
modernização” -, isto é, a existência de milhões de estabelecimentos<br />
agrícolas marginalizados (efeito) possui um motivo (causa), que é<br />
por conta da natureza do próprio processo de modernização do setor<br />
(“caráter truncado” / inadequado). Reconhecer isso é de suma impor-<br />
tância no texto para o processo - leitura, ainda mais quando o autor<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
74
estabelece mais um eixo comparativo de superioridade (“muito mais”<br />
/ “do que“) afirmando que a natureza inadequada do processo de<br />
modernização é mais importante dentro desta CAUSA do que à “su-<br />
posta falta de abrangência” no setor agrícola. Nota-se, então, que a<br />
linha argumentativa precisa se estruturar embasada em certos ele-<br />
mentos lingüísticos.<br />
Ainda na linha de estudo das estruturas argumentativas, pode-se<br />
argumentar que um mesmo termo ganha nuance semântica distinta e,<br />
por isso, é necessário perceber e fazer distinção. É interessante ob-<br />
servar o texto que se segue:<br />
CINZAS DA INQUISIÇÃO<br />
1 Até agora fingíamos que a Inquisição era<br />
um episódio da história européia, que tendo durado<br />
do século XII ao século XIX, nada tinha a<br />
ver com o Brasil. No máximo, se prestássemos<br />
muita atenção, íamos ouvir falar de um certo<br />
Antônio José - o Judeu, um português de origem<br />
brasileira, que foi queimado porque andou<br />
escrevendo umas peças de teatro.<br />
2 Mas não dá mais para escamotear. Acabou<br />
de se realizar um congresso que começou em<br />
Lisboa, continuou em São Paulo e Rio, reavaliando<br />
a Inquisição. O ideal seria que esse congresso<br />
tivesse se desdobrado por todas as<br />
capitais do país, por todas as cidades, que tivesse<br />
merecido mais atenção da televisão e tivesse<br />
sacudido a consciência dos brasileiros do Oiapoque<br />
ao Chuí, mostrando àqueles que não podem<br />
ler jornais nem freqüentar as discussões<br />
universitárias o que foi um dos períodos mais<br />
tenebrosos da história do Ocidente. Mas mostrar<br />
isso, não por prazer sadomasoquista, e sim<br />
para reforçar os ideais de dignidade humana e<br />
melhorar a debilitada consciência histórica nacional.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
75
3 Calar a história da Inquisição, como ainda<br />
querem alguns, em nada ajuda a história de instituições<br />
e países. Ao contrário, isto pode ser<br />
ainda um resquício inquisitorial. E no caso brasileiro<br />
essa reavaliação é inestimável, porque<br />
somos uma cultura que finge viver fora da história.<br />
4 Por outro lado, estamos vivendo um momento<br />
privilegiado em termos de reconstrução<br />
da consciência histórica. Se neste ano (l987) foi<br />
possível passar a limpo a Inquisição, no ano<br />
que vem será necessário refazer a história do<br />
negro em nosso país, a propósito dos cem anos<br />
da libertação dos escravos. E no ano seguinte,<br />
1989, deveríamos nos concentrar para rever a<br />
"república" decretada por Deodoro. Os próximos<br />
dois anos poderiam se converter em um intenso<br />
período de pesquisas, discussões e<br />
mapeamento de nossa silenciosa história. Universidades,<br />
fundações de pesquisa e os meios<br />
de comunicação deveriam se preparar para participar<br />
desse projeto arqueológico, convocando<br />
a todos: "Libertem de novo os escravos", "proclamem<br />
de novo a República".<br />
5 Fazer história é fazer falar o passado e o<br />
presente criando ecos para o futuro.<br />
6 História é o anti-silêncio. É o ruído emergente<br />
das lutas, angústias, sonhos, frustrações.<br />
Para o pesquisador, o silêncio da história oficial<br />
é um¢ silêncio ensurdecedor. Quando penetra<br />
nos arquivos da consciência nacional, os dados<br />
e os feitos berram, clamam, gritam, sangram<br />
pelas prateleiras. Engana-se, portanto, quem<br />
<strong>jul</strong>ga que os arquivos são lugares apenas de poeira<br />
e mofo. Ali está pulsando algo. Como num<br />
vulcão aparentemente adormecido, ali algo quer<br />
emergir. E emerge. Cedo ou tarde. Não se destrói<br />
totalmente qualquer documentação. Sempre<br />
vai sobrar um herege que não foi queimado, um<br />
judeu que escapou ao campo de concentração,<br />
um dissidente que sobreviveu aos trabalhos for-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
76
çados na Sibéria. De nada adiantou aquele imperador<br />
chinês ter queimado todos os livros e<br />
ter decretado que a história começasse com ele.<br />
7 A história recomeça com cada um de nós,<br />
apesar dos reis e das inquisições.<br />
(SANTANA:1989:196-198)<br />
Nesse texto, há utilização do conectivo ‘como” nos trechos “Ca-<br />
lar a história da Inquisição, como ainda querem alguns (...)” e “Como<br />
um vulcão aparentemente adormecido, ali algo quer emergir”, só<br />
que com valores textuais distintos. No primeiro trecho, percebe-se o<br />
valor conformativo e, no segundo, um valor comparativo. Além dis-<br />
so, no mesmo texto, se for feita uma análise minuciosa do terceiro<br />
parágrafo, por exemplo, o uso de certos conectivos são necessários<br />
para o estabelecimento da coesão e sustentar a coerência textual. A<br />
oração “Calar a história da Inquisição” é uma causa, segundo o autor,<br />
que resulta em uma conseqüência - isto pode ser ainda um resquício<br />
inquisitorial’, adequadamente encadeado pela expressão “Ao contrá-<br />
rio” que orienta a sustentação do argumento prévio. Por fim, no<br />
mesmo parágrafo, cita-se o caso brasileiro e afirma a necessidade de<br />
reavaliar o que já ocorreu, apresentando uma causa, introduzida pelo<br />
conectivo prototípico causal “porque” – “porque somos uma cultura<br />
que finge viver fora da história”<br />
Para um leitor que não domina a norma culta, sobretudo o reco-<br />
nhecimento de tais valores desses encadeamentos sintáticos, fica com<br />
uma leitura fragmentada e difícil de ser feita. O jogo leitor-texto fica<br />
pormenorizado ante o não reconhecimento dos valores em tais itens.<br />
Não se nega aqui que não seja possível existir coerência sem coesão,<br />
discussão já muito bem tratada (FIORIM, 998: 210-211), embora em<br />
muitos casos o reconhecimento dessas estratégias coesivas seja de<br />
extrema relevância para compreensão de um texto.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
77
Os conectivos e as funções textuais<br />
Tomando como referência a linha de pesquisa em que os conec-<br />
tivos são importantes semanticamente na estruturação do texto - sa-<br />
be-se que a omissão de tais conectivos pode ocorrer, só que é<br />
interessante que isso seja feito quando não problematizar o sentido<br />
(FÁVERO & KOCK, 2002: 42). Esses conectores não são apenas as<br />
conjunções / locuções conjuntivas, mas também os advérbios / loc u-<br />
ções adverbiais, preposições / locuções prepositivas, além de out ros<br />
termos com funções textuais como também, inclusive, daí, dentre<br />
outros com mesma função.<br />
1) Conjunções / locuções conjuntivas<br />
Funcionalmente para que servem as conjunções em um texto?<br />
Não se pode falar de estudo lingüístico hoje sem falar do valor textu-<br />
al para as pesquisas do idioma, afinal de contas quando se estuda os<br />
conectivos é imprescindível mencionar seu uso. Certamente o em-<br />
prego de conjunções instaura-se em uma necessidade discursiva para<br />
promover o encadeamento sintático entre os termos que o compõem.<br />
Daí resulta o discurso e, por conseguinte, o sentido global do texto,<br />
tópicos bastante mencionados por diversos estudiosos como KOCK<br />
(2001: 30), sobretudo referindo-se ao estudo dos operadores argu-<br />
mentativos, termo mencionado por Ingedore Kock por meio do estu-<br />
do da Semântica Argumentativa de Ducrot.<br />
No texto que se segue há comprovação de que o estudo de co n-<br />
junções, muito mais do que meramente um estudo de gramática nor-<br />
mativa, é sobretudo textual.<br />
Depois de lotar museus em Londres, Berlim e<br />
Bonn, a exposição O Império Asteca foi inaugurada<br />
no museu Solomon R. Guggenheim, de<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
78
Nova York, onde poderá ser visitada até fevereiro<br />
de 2005. Será montada pela última vez no<br />
Guggenheim de Bilbao, na Espanha, antes que<br />
as 440 peças voltem para museus mexicanos e<br />
americanos, dos quais muitas delas saíram pela<br />
primeira vez. O curador da mostra, o mexicano<br />
Felipe Solís Olguín, diretor do Museu Nacional<br />
de Antropologia do México, expôs os objetos –<br />
cerâmicas, imagens de pedra e barro, jóias de<br />
ouro, prata ornamentada com turquesa, máscaras<br />
enfeitadas com mosaico, instrumentos musicais,<br />
utensílios domésticos – em ordem<br />
cronológica, de modo que o visitante possa acompanhar<br />
a trajetória desse povo desde os primórdios<br />
de seu império, no século XIV, até a<br />
derrota diante dos conquistadores espanhóis,<br />
em 1521. O que atrai tantos visitantes não é apenas<br />
a beleza e o valor arqueológico dos objetos<br />
– mas, sobretudo, o fascínio e o mistério<br />
que envolvem as civilizações perdidas da América.<br />
(...) (MENAI, 2004)<br />
Um estudo tanto da locução conjuntiva como da conjunção que<br />
foram marcadas no texto provam que uma avaliação minuciosa torna<br />
a leitura mais proficiente. Na primeira análise, a locução “de modo<br />
que” representa a finalidade de terem sido expostas as peças em or-<br />
dem cronológica para que o visitante “possa acompanhar a trajetó-<br />
ria”. Outra análise interessante é da conjunção “mas”, nota-se que<br />
não há aqui um “verdadeiro” valor de oposição no uso de tal conecti-<br />
vo. Deve ser observado que “a beleza e o valor arqueológico dos<br />
objetos” atraem os visitantes, mas não apenas isso. Nota-se que “o<br />
fascínio e o mistério” atraem também, reforçado pelo advérbio “so-<br />
bretudo”, ou seja, o conectivo “mas” não funciona obrigatoriamente<br />
como um contrapositor do que foi dito anteriormente, introduzindo,<br />
na verdade, uma informação adicional, só que com um valor especi-<br />
al, mais relevante. Isso mostra que é o estudo da gramática textual<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
79
que vai além da frase e que possibilita, então, uma ampliação dos<br />
possíveis sentidos textuais e conseqüentemente suas leituras.<br />
Advérbios / locuções adverbiais<br />
Outro estudo fundamental é o dos advérbios e o das locuções<br />
adverbiais. Esses elementos são excelentes conectores, uma vez que<br />
podem exercer funções típicas de conectivos que são “os morfemas<br />
que tem por função ligar dois enunciados” (MAINGUENEAU, 1997:<br />
160).<br />
Para Maingueneau (1997: 179), o advérbio “finalmente”, por<br />
exemplo, possui a função de “realizar a conclusão de um elemento<br />
enunciativo”. Portanto, tal termo não pode ser considerado apenas<br />
como um advérbio, mas como um conector, já que encadeará o e-<br />
nunciado e orientará o mesmo para uma conclusão. O “então” é outro<br />
advérbio que está se gramaticalizando como conectivo. No texto de<br />
Manuel Bandeira “Pneumotórax” utiliza o advérbio “então” com<br />
valor de “em tal caso” / “em tal situação”:<br />
Pneumotórax<br />
Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos.<br />
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.<br />
Tosse, tosse, tosse.<br />
Mandou chamar o médico:<br />
- Diga trinta e três.<br />
- Trinta e três... trinta e três... trinta e três...<br />
Respire.<br />
- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo<br />
e o pulmão direito infiltrado.<br />
- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
80
- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango<br />
argentino. (BANDEIRA, 1973: 52)<br />
Vê-se que nesse caso não funciona apenas como um advérbio,<br />
mas como um conector em relação ao que foi dito anteriormente,<br />
contribuindo, assim, para um encadeamento textual. Não só esses<br />
como outros advérbios e locuções são estudados com tal propósito.<br />
Preposição / locução prepositiva<br />
Tanto as preposições como as locuções prepositivas represen-<br />
tam grande importância em um texto e conseqüentemente fator de-<br />
terminante para a compreensão do mesmo. Norteiam diversos<br />
valores semânticos, e, portanto, passam a ser preponderantes para<br />
construção de sentido.<br />
Uma duas vezes por ano, quando o sentimento<br />
de culpa fica insuportável, Jim Hoffmann senta<br />
e responde aos e-mails negligenciados de uma<br />
meia dúzia de amigos que ele não vê há séculos.<br />
A introdução: “Desculpe, eu sou um péssimo<br />
amigo”. O executivo de Internet de Nova<br />
York afirma que simplesmente não tem mais<br />
tempo para os amigos. Todo mundo, desde os<br />
altos executivos até as donas de casa, parece ter<br />
a mesma queixa hoje em dia: as pessoas não<br />
dão mais a mesma prioridade às amizades.<br />
(JEFFREY, 2000)<br />
Nesse texto, as preposições “desde” e “até” desempenham im-<br />
portante papel para compreensão textual, já que o leitor proficiente<br />
deverá perceber que no trecho “desde os altos executivos até as do-<br />
nas de casa”, há um critério de abrangência que não exclui ninguém,<br />
ou seja, até os representativos das classes mais altas da sociedade até<br />
as donas de casa, todos “não dão mais a mesma prioridade às amiza-<br />
des”.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
81
Outro texto que pode nortear essa análise é o que segue:<br />
Estudo do Pacific Institute of Oakland, na Califórnia,<br />
prevê que 76 milhões de pessoas morrerão<br />
de doenças relacionadas à água até 2020.<br />
As crianças serão as mais afetadas por males<br />
causados pelo uso e ingestão de água contaminada.<br />
No mesmo período, serão registrados 65<br />
milhões de casos fatais em conseqüência da<br />
Aids em todo o mundo. (PELTIER, 2002)<br />
Percebe-se que no primeiro período há três ocorrências da pre-<br />
posição “de”, só que com valores diferentes. Na primeira há um va-<br />
lor de posse “Estudo do Pacific (...)”, indicando no corpo do texto de<br />
quem é a pesquisa; em “76 milhões de pessoas”, o valor já representa<br />
um aspecto especificativo, diferentemente da terceira ocorrência que<br />
indica causa, afinal de contas no trecho “morrerão de doenças”, as<br />
doenças são a causa da morte, valor propiciado pelo uso da preposi-<br />
ção em questão. Isso, dessa forma, propicia sem dúvida uma amplia-<br />
ção da compreensão textual.<br />
Conclusão<br />
Portanto, o reconhecimento de tais aspectos não só comprova<br />
que a gramática do texto é a mais completa para a compreensão dos<br />
fenômenos da língua como também que um texto torna-se mais com-<br />
preensível quando um leitor domina tais conhecimentos gramaticais.<br />
Não é negado aqui que o conhecimento de mundo seja também im-<br />
prescindível para compreensão textual, mas o domínio de certos fe-<br />
nômenos lingüísticos, certamente, contribui consideravelmente para<br />
tal propósito.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
82
Referências Bibliográficas<br />
BANDEIRA, Manuel. “Meus poemas preferidos”: Ediouro. Rio de<br />
Janeiro: 1973<br />
FÁVERO, Leonor Lopes; KOCK, Ingedore Villaça. “Lingüística<br />
Textual”. Editora Cortez. 6ª edição. São Paulo. 2002.<br />
GUIMARÃES, Elisa. “A articulação do texto”. Editora Ática. São<br />
Paulo. 1990.<br />
JEFFREY, Nancy Ann. “Amigos, quem tem tempo para eles? “The<br />
Wall Street Journal. In: JB. <strong>06</strong>/04/00<br />
KOCK, Ingedore Villaça. “A inter-ação pela linguagem”. Editora<br />
Contexto. 6ª edição. São Paulo. 2001.<br />
MAINGUENEAU, Dominique. “Novas tendências em análise do<br />
discurso.” Campinas: Pontes, 1997.<br />
MENAI, Tania. O mundo Sombrio dos astecas. In: Veja, 20 de Outubro<br />
de 2004 - edição 1876<br />
NEVES, Maria Helena de Moura. “A Gramática: história, teoria e<br />
análise, ensino.” Editora Unesp. São Paulo. 2002.<br />
OLIVEIRA, Aileda de Mattos. “Gramática Textual: um ponto de<br />
vista”. In: Livro da VIII SENEFIL - revista Philologus, ano 10,<br />
n.º 30 - suplemento. CEFEFIL. 2005<br />
PELTIER, Márcia. In: “o Globo”, 21 de outubro de 2002.<br />
SCHUWARTS, Gilson. “Do consumidor ao cliente”, In. Folha de S.<br />
Paulo. Caderno Mais. (27/02/00)<br />
SANTANA, Affonso R. de. “Cinzas da Inquisição”. In: “A RAIZ<br />
QUADRADA DO ABSURDO.” Rio de Janeiro, Rocco, 1989,<br />
p. 196-198.<br />
VALENTE, André (org.). “Língua, Lingüística e Literatura”. Eduerj.<br />
Rio de Janeiro. 1998.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
83
A expressão variável do imperativo<br />
nas tiras do “menino maluquinho”<br />
Jeferson da Silva Alves – UNIFACS / UFBA<br />
1. Do parado para o movimentado: a norma e o uso do imperativo<br />
no português do Brasil<br />
O imperativo é aquele modo menor que os outros,<br />
que a gente aprende na escola e acha que<br />
nunca usa (… ). Aliás, ele só é menor à primeira<br />
vista, porque é preciso aprender que as formas<br />
negativas são diferentes das afirmativas (… ). E,<br />
além disso, existem outras formas, tiradas do<br />
presente do subjuntivo, que se usam para a primeira<br />
pessoa do plural (… ) e para os pronomes<br />
chamados “de tratamento”. No final, acaba sendo<br />
o modo mais complicado do paradigma verbal.<br />
(PERINI, p. 58)<br />
A tradição gramatical (Cf. Gramáticas consultadas, no final das<br />
referências) registra que o imperativo singular é formado a partir de<br />
dois modos verbais, o indicativo para o pronome TU extraindo o –s<br />
final – cantas (canta) e que para o pronome VOCÊ devemos recorrer<br />
ao subjuntivo – cante (cante), assim como ele o é. Prescreve ainda a<br />
tradição que para o imperativo na polaridade negativa, devemos re-<br />
correr ao modo subjuntivo para todas as pessoas. Contudo, segundo<br />
Elia (apud SCHERRE, 2004: 1), “a história registra que o latim clás-<br />
sico apresentava imperativo morfológico para enunciados diretivos<br />
afirmativos nas segundas pessoas do singular e do plural, distinto da<br />
morfologia do modo indicativo”. E já lançava mão das formas do<br />
subjuntivo para expressar os enunciados diretivos na polaridade ne-<br />
gativa.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
84
No transcurso da história, houve uma confluência na fala entre<br />
as formas de terceira pessoa do modo indicativo e as formas do modo<br />
imperativo, que perdeu o –t final – cantat (canta), portanto trata-se de<br />
uma questão morfológico-fonológica, na qual cremos que houve a<br />
influência da fala para a escrita.<br />
Nos dias atuais, como as duas formas são registradas pelas gra-<br />
máticas não há estigma com nenhuma das duas variantes estratifica-<br />
das – indicativo/subjuntivo segundo estudos descritivos feitos por<br />
lingüistas de todo o Brasil, percebemos que há um recorte geográfico<br />
(Cf. SHERRE, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005; SAMPAIO,<br />
2001 e ALVES & ALVES, 2005) relacionado à variação no que diz<br />
respeito ao imperativo.<br />
2. O que dizem o “Menino Maluquinho” e sua turma?<br />
As orações imperativas se caracterizam por<br />
apresentarem uma forma especializada do verbo,<br />
denominada imperativo. (PERINI, 1996, p.<br />
64)<br />
Analisamos 75 estruturas gramaticais relacionadas ao modo im-<br />
perativo nas tiras do “Menino Maluquinho”, no ano de 2005, sendo<br />
uma por dia. Dessas estruturas, 12 foram expressas pela forma do<br />
subjuntivo e 63 expressas pela forma do indicativo, em contextos<br />
discursivos do pronome você, no qual a tradição gramatical registra<br />
que devemos lançar mão do modo do subjuntivo. Podemo s também<br />
encontrar registro do imperativo associado à forma do indicativo em<br />
enunciados com polaridade negativa, contexto em que os compên-<br />
dios de gramática só registram as formas do subjuntivo, do tipo Não<br />
liga não, vô!, Cuidado Maluquinho! Não entra ainda não!<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
85
Podemos, mais uma vez, ver que há uma discrepância entre o<br />
registro e os usos, uma vez que as gramáticas ainda (esperamos que<br />
um dia isso possa ser possível) não abarcam os usos/possibilidades<br />
reais da língua.<br />
3. “Xovê se tá chuvendo”<br />
O grupo DEIXA + EU é tão freqüente na fala<br />
brasileira que suas três sílabas sofreram uma<br />
contração e se reduziram a uma só, pronunciada<br />
“XÔ”. Por isso que “deixa eu ver” na nossa fala<br />
espontânea se diz “XOVÊ”. Temos até aquela<br />
brincadeira “se chovê molha”… (BAGNO,<br />
2004, p. 112)<br />
Sabemos que a língua falada e a língua escrita têm dinâmicas<br />
distintas, a fala, por exemplo, é mais dinâmica, menos conservadora;<br />
logo, ela varia mais que a escrita e, por conseguinte, também muda,<br />
ou melhor, é mudada pelos falantes que dela desfrutam, já “que só<br />
existe língua se houver seres humanos que a falem” (BAGNO,<br />
2002). Um exemplo desse maior dinamismo é a síncope do verbo<br />
DEIXA > XA + o pronome pessoal EU que na fala de muitos brasi-<br />
leiros, cremos nós, cambia em Ô, pelo menos é notável isso em Sal-<br />
vador.<br />
Em nossas análises, foram encontrados 8 casos com o verbo<br />
Deixar, todos expressos na forma indicativa, dos quais 3 foram pre-<br />
cedidos do pronome EU e um do pronome a gente, sem menção al-<br />
guma ao pronome TU. Vejamos os Exemplos:<br />
Pai, deixa que eu escrevo o livro!<br />
Deixa disso! Vamos ao que interessa!<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
86
tes!<br />
um jeito!<br />
Ah, Deixa de besteira! Até parece que nunca vi uma verruga an-<br />
Deixa pra amanhã!<br />
Credo, Bocão! Seu hambúrguer tá todo desigual! Deixa eu dar<br />
Ah… Deixa a gente discutir signo, Carol!<br />
Deixa eu te contar uma história nojenta!<br />
Deixa eu ajudar!<br />
A tradição gramatical registra que o uso dos pronomes pessoais<br />
do caso reto não pode ser utilizado como objeto, o que ocorre nos<br />
exemplos (5), (7) e (8). Contudo, Bechara (1999: 175), registra um<br />
caso com uma estrutura imperativa “Olha ele”, observando que se<br />
trata de acentuação enfática.<br />
Voltando ao XOVÊ: Vimos que o verbo sofre uma síncope e<br />
que o pronome de primeira pessoa do caso reto vira Ô, assim ocorre<br />
a junção do XA + Ô, na qual o Ô assimila o A do XA, formando<br />
assim o XÔ na fala dos brasileiros. Segundo Bagno (2001: 207),<br />
“este tipo de construção tem uma freqüência tão elevada que o grupo<br />
DEIXA + EU sofre uma contração, no ritmo da fala [-monitorada],<br />
em todas as variedades [+orais], quando se trata de verbo no modo<br />
imperativo, reduzindo-se a uma sílaba”.<br />
Uma interpretação que podemos adotar a partir de nossos dados<br />
é a de que verbo no imperativo seguido de pronome – na fala – po-<br />
demos encontrar pronomes oblíquo ou reto, com uma oração infiniti-<br />
va objetiva direta, o pronome preferencial é o reto, já que já temos o<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
87
sujeito do imperativo TU/VOCÊ, então os falantes marcam o outro<br />
como o sujeito da oração infinitiva e não como o objeto como regi s-<br />
tra a tradição gramatical.<br />
4. “Olhar e ver com os ouvidos”<br />
- Olhe, Macabéa…<br />
- Olhe o quê?<br />
- Não, meu Deus, não é “olhe” de ver, é “olhe”<br />
como quando se quer que uma pessoa escute!<br />
Está me escutando? (Clarice Lispector)<br />
Duas palavras com percepção visual em seu sentido original, os<br />
verbos “olhar” e “ver”, em suas formas imperativas, em alguns casos<br />
apresentam componente interacional dirigido ao ouvinte. Como defi-<br />
ne Rost (2005), esse componente “recai também, em alguns contex-<br />
tos, sobre determinados elementos e idéias veiculadas no texto do<br />
próprio falante à medida que ele, para organizar a sua fala, envolve-<br />
se menos com o ouvinte e mais consigo mesmo”. Em nossas análises<br />
foram encontrados 3 exemplos com o verbo olhar e nenhum com o<br />
seu sinônimo.<br />
Vejamos os exemplos:<br />
Olha, Bocão!<br />
Olha!<br />
Olha que legal o que eu arranjei pra você treinar!<br />
Analisando as tirinhas em que ocorreu o “olha”, nenhuma se re-<br />
laciona com o verbo na percepção de escutar, de prestar atenção.<br />
Para analisarmos a estrutura lexical do verbo “olhar” e do verbo<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
88
“ver”, tomaremos como base o trabalho de Alves & Alves (2005), no<br />
qual foi analisada a expressão variável do imperativo na fala de pes-<br />
soas na cidade de Salvador, capital da Bahia.<br />
Foi encontrado, na língua falada de Salvador, um total de 54 o-<br />
corrências com o verbo Olhar, sendo 25 destas expressas pela forma<br />
do indicativo e 29 pela forma do subjuntivo, já com o irmão quase<br />
gêmeo – o verbo Ver, foi encontrado um total sem muita expressivi-<br />
dade, somente 9, sendo 3 desses na forma indicativa.<br />
Vejamos alguns exemplos em que o verbo Olhar não está com<br />
seu significado original:<br />
“Olhe, eu vou falar com um rapaz lá”, e falou o nome lá.<br />
“Olhe, amanhã cedo todo mundo acordar pra encher os tonel”.<br />
“Olhe, mamãe isso aqui está errado… ”<br />
Exemplos com verbo, irmão mais “obediente” do Olhar, o Ver.<br />
“Coitadinho” dele! Deixa quase toda travessura para o irmão rebelde.<br />
Veja bem, meu pai era da seguinte maneira…<br />
Olha veja bem, eh, meus filhos eu tentei também chamá-los pro<br />
ramo da ciência.<br />
Eu hoje digo, “rapaz, não faça isso porque veja bem, você está<br />
se indispondo com os alunos, por exemplo”<br />
Podemos notar que tanto o verbo Olhar como o verbo Ver não<br />
estão com o sentido de conhecer ou perceber pelo sentido da vista e<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
89
sim como entender, perceber pelo sentido do ouvido, ou seja, de<br />
escutar ou atender, escutar os conselhos proferidos pelos falantes.<br />
5. Um primo que veio para participar da “bagunça”<br />
Depois dos “irmãos” /verbos Olhar e Ver, encontramos um pri-<br />
mo com as mesmas características. Mas antes de conhecermos quem<br />
é esse primo, vamos ver/olhar o que cada um desses irmãos fazem<br />
segundo o Dicionário brasileiro Globo:<br />
A origem de olhar: veio do latim vulgar adoculare, e o que ele<br />
faz? Vejamos: 2. exercer o sentido de visão e 4. observar atentamen-<br />
te; examinar, sondar, escolhemos aqui somente essas duas acepções,<br />
pois as outras estavam redundantes e essas contemplam o sentido<br />
original. Conheçamos agora seu “irmão” /verbo. De onde veio? Veio<br />
do latim vidèo, e qual a função dele? 1. perceber pela visão; enxergar<br />
e 17. observar, notar, perceber, reparar, sentir, mais uma vez por<br />
questão redundância, optamos por somente essas duas significações.<br />
Até porque esses dois “irmãos” /verbos fazem as mesmas “bagun-<br />
ças”.<br />
Chegando ao ponto da questão: quem é o “primo” /verbo que<br />
veio para participar da “bagunça” com os “irmãos” /verbos Olhar e<br />
Ver? Como podemos ver, esse “primo” /verbo é bastante conhecido<br />
dos dois “irmãos” /verbos e participa das bagunças com eles. O nome<br />
desse “priminho” é Observar. Mas será que ele é da mesma família?<br />
Mas é claro que sim! Veio do latim observáre e faz as mesmas “ba-<br />
gunças” que seus “priminhos”.<br />
Vejamos agora as “bagunças” que ele anda aprontando:<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
90
Observe, isso ocorre na universidade e as vezes tem também<br />
alguns pontos eh, isolados nas escolas de segundo grau.<br />
Observe, eh, o resultado, de toda a, a revolução da educação…<br />
Observe que o que nós temos a gente não pode de repente en-<br />
tregar de mão beijada, ba, basta nós observarmos aí pela nossa bio<br />
diversidade na Floresta Amazônica.<br />
6. Algumas considerações para serem iniciadas<br />
Que há uma discrepância entre a norma e o uso, no que se refere<br />
à expressão variável do imperativo (e outras variáveis), é notório por<br />
todos nós (falantes, estudiosos da linguagem). Portanto, não faremos<br />
conclusões, mas sim algumas considerações a serem iniciadas. A<br />
primeira é ver o que fazem os falantes utilizar verbos originalmente<br />
com a percepção de visão como se eles fossem de sentido de escuta,<br />
para chamar atenção do ouvinte, pois ainda não o sabemos (pelo<br />
menos é o que percebemos) e a segunda (e outras que podem surgir<br />
depois) é fazer um estudo real de fala, para que possamos ver quem<br />
são essas pessoas que utilizam a perífrase verbal DEIXA + EU +<br />
VER em estruturas imperativas como XOVÊ, quais são os contextos<br />
etc…<br />
Referências Bibliográficas<br />
ALVES, Jeferson; ALVES, Aiala Paloma Oliveira. A expressão<br />
Variável do imperativo singular na língua falada em Salvador.<br />
Salvador: Faculdades Jorge Amado (FJA), Curso de Letras,<br />
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 2005. (inédito)<br />
BAGNO, Marcos. Dramática da língua portuguesa: Tradição Gramatical,<br />
Mídia e Exclusão Social. São Paulo: Loyola 2001, p.<br />
207.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
91
------. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. 4 ed. São<br />
Paulo. Parábola 2004, p. 112.<br />
------. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. 16 ed. São Paulo:<br />
Loyola 2002.<br />
FERNANDES, Francisco; LUFT, Celso Pedro; GUIMARÃES, F.<br />
Marques. Dicionário brasileiro Globo. 12 ed. São Paulo: Globo,<br />
1989.<br />
LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco,<br />
1998.<br />
PERINI, M. A. Gramática descritiva do português. 2 ed. São Paulo:<br />
Editora Ática 1996, p. 63 – 4.<br />
______. Os dois mundos da expressão lingüística (reflexões sobre<br />
falar e escrever). In: A língua do Brasil amanhã e outros mistérios.<br />
São Paulo: Parábola 2004, p. 53 – 72.<br />
ROST, Andrea Cláudia. “Mapeamento dos contextos de atuação de<br />
“olha” e “veja””. In: GORKI, Edair; MITTMANN, Maryualê<br />
M.; FREITAG, Raquel M. Ko (orgs.). Workshop Abordagens<br />
Funcionais da Língua: Temas de Pesquisa. [Anais] [recurso eletrônico].<br />
Florianópolis, 2005, UFSC/CCE/CPGL. Disponível<br />
em: . Acesso<br />
em: 27 ago 20<strong>06</strong>.<br />
SAMPAIO, Dilcélia Almeida. Modo imperativo: sua manifestação/expressão<br />
no português contemporâneo. Salvador: UFBA.<br />
2001. Dissertação de Mestrado. (inédito)<br />
SCHERRE, Maria Marta Pereira. A norma do imperativo e o imperativo<br />
da norma – Uma reflexão sociolingüística sobre o conceito<br />
de erro. In: BAGNO, Marcos (org.). Lingüística da norma. São<br />
Paulo: Loyola, 2002. p.217- 230 e 242- 251.<br />
______. Norma e uso – O imperativo no português brasileiro. In:<br />
DIETRICH, Wolf & NOLL, Volker. (orgs.). O Português do<br />
Brasil-Perspectivas da Pesquisa atual. (Lingüística lusobrasileira,<br />
Iberoamericana -Vervuert. 2004. p.231-260).<br />
______. Norma e uso na expressão do imperativo em revistas em<br />
quadrinhos da Turma da Mônica. In: SILVA, Denize Elena<br />
Garcia da; LARA, Gláucia Muniz Proença & MAGAZZO, Ma-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
92
ia Adélia (orgs.). Estudos de linguaguem- Inter – relações e<br />
Perspectivas. Campo Grande: UFMS, 2003. p. 177- 191.<br />
______. O imperativo gramatical no português brasileiro: reflexo de<br />
mudança lingüística na escrita de revistas em quadrinhos. A sair<br />
em livro organizado por Sebastião Josué e Claúdia Roncarati.<br />
Livro em homenagem a Anthony Julius Naro, 2005.<br />
______.et alli. Phonic paralelism: evidence from the imperative in<br />
Brazilian Portuguese.In: (eds.). PARADIS, c. et alli. Papers in<br />
Sociolinguistic. NWAVE – 26 à I’ Université Laval (Quebéc):<br />
Nota Bene, 1998.pp. 63-72. (ISBN- 921053-95-0).<br />
______. et alli. Restrições sintáticas e fonológicas na expressão variável<br />
do imperativo no português do Brasil. II Congresso Nacional<br />
da ABRALIN e XIV Instituto Lingüístico. Florianópolis,<br />
Taciro – Produção de Cds Multimídia, 2000. pp. 1333-1347.<br />
Gramáticas consultadas<br />
ANDRÉ, Hildebrando A. de. Gramática ilustrada. 5 ed. São Paulo:<br />
Moderna, 1997.<br />
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37 ed. Ver. e<br />
ampl. Rio de Janeiro. Lucerna 1999, p. 283.<br />
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua<br />
portuguesa. 43 ed. São Paulo: Nacional, 2002.<br />
CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua<br />
portuguesa. São Paulo: Scipione, 1998.<br />
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português<br />
contemporâneo: terceira edição revista. Nova apresentação. 3<br />
ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.<br />
------. ------. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.<br />
------. Língua e Sociedade: variação e conservação lingüística. In:<br />
Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro:<br />
Nova Fronteira, 1985.<br />
------; DE NICOLA, José. Gramática contemporânea da língua portuguesa.<br />
São Paulo: Scipione, 1997.<br />
------. Curso de gramática: aplicada aos textos. São Paulo: Scipione,<br />
2001.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
93
FARACO & MOURA. Gramática. 19 ed. [ S.l.] : Ática, 2002.<br />
------. Língua e Literatura: 2º grau.volume único. 8. ed. São Paulo:<br />
Ática, 1999.<br />
MATTOS, Geraldo; MEGALE, Lafayette. Português: 2º grau. 3 ed.<br />
São Paulo: FTD, 1990.<br />
PERINI, M. A. Os dois mundos da expressão lingüística (reflexões<br />
sobre falar e escrever). In: A língua do Brasil amanhã e outros<br />
mistérios. São Paulo: Parábola 2004, p. 53 – 72.<br />
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua<br />
portuguesa. 41 ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2001.<br />
SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática: teoria e prática. 18 ed.<br />
reform. e atual. São Paulo: Atual, 1994.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
94
Afinal, que história é essa<br />
de Inglês Internacional?<br />
Zaina Aparecida Abdalla Nunes – PUC/SP<br />
O papel do Inglês Internacional tem sido alvo de constantes dis-<br />
cussões há décadas (WIDDOWSON, 1990). Tais discussões, porém,<br />
tornaram-se mais acirradas na virada do último século quando pes-<br />
quisas (MCARTHUR, 1999; GRADDOL, 1997; JENKINS, 2000)<br />
constataram que o número de falantes de inglês como segunda língua<br />
ultrapassou o número de falantes de inglês como língua nativa. Quais<br />
as implicações dessa expansão?<br />
O presente trabalho visa discutir tal expansão no que tange o en-<br />
sino do inglês em contextos monolíngues e suas implicações na for-<br />
mação de profissionais críticos e conscientes de seu papel, na nova<br />
configuração internacional que se delineia, a de um mundo globali-<br />
zado, em que relações, ao menos até o presente, tendem a se desen-<br />
volver em uma só língua.<br />
E, para responder à questão título, outras foram levantadas cujas<br />
respostas procurarei elucidar ao longo dessa exposição. São elas:<br />
normas?<br />
1. Qual a origem do Inglês Internacional?<br />
2. Quais são as implicações de seu uso?<br />
3. Quem dita as normas do Inglês Internacional e quais são essas<br />
4. Qual o papel do usuário nativo do inglês e qual o do não-<br />
nativo nesse contexto de inglês globalizado?<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
95
5. Qual é a tendência dos materiais de ensino de inglês?<br />
6. Qual é a situação do professor de inglês e a de seus alunos?<br />
7. Qual é o futuro da língua inglesa?<br />
Jenkins (2000) abre a pagina introdutória dessa publicação com<br />
a seguinte afirmação:<br />
“For the first time in the history of the English<br />
Language, second language speakers outnumber<br />
those for whom it is the mother tongue, and<br />
interaction in English increasingly involves no<br />
first language speakers whatsoever (2000: 01).”<br />
(Pela primeira vez na história da língua inglesa,<br />
os falantes de inglês como segunda língua ultrapassam<br />
numericamente aqueles cuja língua<br />
materna é o ingles e essa interação em crescimento<br />
não envolve falantes nativos).<br />
O que Jenkins (op.cit) fez foi simplesmente constatar o que vá-<br />
rios outros lingüistas já haviam previsto (RAMPTON, 1990;<br />
PHILIPSON, 1992; WIDDOWSON, 1994; SRIDHAR, 1996;<br />
CRYSTAL, 1997). Nas palavras de Sridhar (1996), o paradigma<br />
tradicional de ensino de uma L2 onde se acreditava que o aluno a-<br />
prendia inglês para se comunicar com os usuários nativos da língua<br />
não corresponde mais à realidade de uso do inglês no mundo atual.<br />
Voltando um pouco na história, no período entre o fim do reina-<br />
do da Rainha Elizabeth I em 1603 e o inicio do século 21, o número<br />
de falantes de inglês aumentou de 5-7 milhões para algo em torno de<br />
1 bilhão e meio e dois bilhões. Enquanto o inglês era falado em mea-<br />
dos do século 16 por um pequeno grupo de falantes nativos nascidos<br />
e criados nas ilhas britânicas, hoje é falado em quase todos os países<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
96
do mundo, sendo que a maior parte de seus falantes não é nativa.<br />
(JENKINS, 2003)<br />
Estatísticas variam de acordo com: as diferentes fontes consul-<br />
tadas, a forma de categorização dos usuários não-nativos de inglês e<br />
o nível de proficiência na língua inglesa desses usuários não-nativos.<br />
Segundo Crystal (1997, 2003), se pensarmos em usuários com<br />
uma ‘competência razoável’, deve haver 1 bilhão 350 milhões com-<br />
parados a 357 milhões de falantes nativos. Se formos mais rígidos<br />
nessa comparação e considerarmos somente os usuários com fluência<br />
próxima à de um nativo, mesmo assim nos depararemos com 335<br />
milhões. De uma forma ou de outra, essa tendência deve continuar a<br />
passos largos nesse século.<br />
Até pouco tempo atrás, esses falantes de inglês que chegam a 1<br />
bilhão e cujo nível de proficiência na língua varia de regular à com-<br />
petência quase bilíngüe eram descritos como falantes de inglês como<br />
língua estrangeira (EFL – English as a Foreign Language), diferen-<br />
temente dos falantes de inglês como segunda língua (ESL – English<br />
as a Second Language). Esses dois grupos, ao lado dos falantes de<br />
inglês como língua nativa (ENL – English as a Native Language),<br />
formavam o modelo tripartido descrito por Strang em 1970<br />
(MCARTHUR, 1998, 2003), usado em larga escala por lingüistas e<br />
professores de línguas. A partir da segunda metade dos anos 90, tor-<br />
nou-se comum se referir aos falantes de inglês como língua estran-<br />
geira como falante de inglês como língua internacional ou, mais<br />
recentemente, falantes de inglês como língua franca (ELF), como<br />
reflexo do fato de que esses usuários de inglês da Europa ou Japão,<br />
por exemplo, falam inglês mais frequentemente como língua de con-<br />
tato entre eles do que com nativos da língua inglesa.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
97
mento?<br />
É aí que nos perguntamos: quais as implicações desse cresci-<br />
Sob o ponto de vista social ou sócio-cultural, a língua inglesa<br />
passa a ser de domínio público e não mais de seus falantes nativos,<br />
sejam eles britânicos, americanos, canadenses, sul-africanos etc. De<br />
quem é o inglês? De ninguém e de todos.<br />
Widdowson (1994a) argumenta que os nativos do inglês não são<br />
mais os donos da língua e não têm o direito de determinar como ela<br />
deve ser falada no mundo. Ele diz:<br />
“Todas as comunidades possuem e protegem<br />
suas línguas. A questão é qual comunidade e<br />
qual cultura tem o direito de propriedade sobre<br />
o inglês padrão já que esse não mais pertence à<br />
um grupo de pessoas residentes numa ilha européia.<br />
Ele é uma língua internacional que serve<br />
a uma gama enorme de comunidades diferentes<br />
e a seus propósitos institucionais que transcendem<br />
barreiras culturais e tradicionais da comunidade.<br />
(minha tradução de JENKINS,<br />
2003:165)<br />
Os mantenedores do inglês padrão temem que a diversidade<br />
possa vir a promover uma divisão da língua em variedades ininteligí-<br />
veis. Na verdade, de certa forma, isso vem acontecendo, pois as vari-<br />
edades de inglês usadas para comunicação internacional na ciência,<br />
finanças, comércio etc., já são incompreensíveis entre si.<br />
Julgamentos de valor com relação à metamorfose do inglês são<br />
inevitáveis. Alguns lingüistas cuja língua materna é o inglês procu-<br />
ram ser imparciais nas suas colocações ou até mesmo a favor do<br />
surgimento das várias versões da língua inglesa no mundo. Os leigos<br />
(os não-linguistas), por outro lado, não deixam de registrar episódios<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
98
onde suas atitudes negativas quanto a mudanças persistem. Um e-<br />
xemplo famoso é o do Príncipe Charles em 1995, em seu discurso de<br />
lançamento do projeto Inglês 2000 do Conselho Britânico, quando<br />
enfatizou a necessidade dele, como líder mundial, de preservar a<br />
língua inglesa contra a ameaça da difusão lexical americana dizendo:<br />
“As pessoas inventam todas as formas de substantivos e verbos e<br />
formam vocábulos que não deveriam existir. Acho que devemos ser<br />
cautelosos senão tudo pode virar uma grande bagunça.” (minha tra-<br />
dução da citação no jornal The Times, 24 March 1995, JENKINS,<br />
2003: 226-227). É interessante perceber como a resistência humana a<br />
mudanças e o desrespeito pela natureza mutável da língua transpare-<br />
ce em algumas falas, sem falar na confirmação do poder que o domi-<br />
nador insiste em assegurar (a si mesmo?) que possui. Schmitz (2001)<br />
faz várias considerações a respeito da importância do contato da<br />
língua portuguesa com outras línguas que, a meu ver, se aplicam à<br />
todas outras línguas. Ele diz: “Na minha opinião, a língua portuguesa<br />
está se enriquecendo no contato com outros idiomas. O idioma está<br />
em pleno vigor, graças ao número de usuários, de autores e escritores<br />
[...] medidas para tornar um determinado idioma ‘puro’ não funcio-<br />
nam. É bom lembrar que as noções de ‘identidade’ e ‘raça’ são sem-<br />
pre construídas.”(2001:4)<br />
Sob o ponto de vista ideológico, os mais otimistas diriam que a<br />
relação dominador/dominado enfraquece à medida que não se identi-<br />
fica mais o sistema lingüístico como de exclusividade do dominador.<br />
Os menos otimistas diriam que o poder lingüístico simplesmente<br />
mudaria de mãos, pois sempre haverá um modelo a ser copiado e<br />
normas lingüísticas a serem seguidas. Vale a pena verificar as predi-<br />
ções dos lingüistas quanto ao futuro da língua inglesa. Crystal (1997,<br />
2003:137) afirma que os usuários das várias versões de inglês no<br />
mundo usarão seus dialetos ingleses locais em seus próprios países,<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
99
porém, falarão uma nova forma de inglês que ele denomina de World<br />
Standard Spoken English (WSSE – inglês padrão falado mundial-<br />
mente) em situações internacionais e que essa forma receberá grande<br />
influencia do inglês americano. Rajagopalan fala da “...emergência<br />
do fenômeno que se convencionou chamar de ‘World English’. Tra-<br />
ta-se de uma nova (itálico do autor)língua, com um conjunto de ca-<br />
racterísticas próprias, que desafia o nosso próprio conceito de língua.<br />
[World English] é um espaço de resistência, onde os povos até há<br />
pouco tempo marginalizados estão ganhando voz e vez.” (LOPES<br />
DA SILVA & RAJAGOPALAN, 2004: 226-227)<br />
Sob o ponto de vista linguístico, o inglês internacional pode vir<br />
a se tornar uma nova forma de pidgin se levarmos em conta a defini-<br />
ção de pidgin como sendo: “uma língua sem falantes nativos, não<br />
pertencente a ninguém mas, é uma língua de contato, isto é, o produ-<br />
to de uma situação multilíngüe na qual aqueles que desejam se co-<br />
municar precisam encontrar ou improvisar um sistema simples que<br />
os habilite a fazê-lo” (JENKINS, 2003:10). No caso do inglês, o<br />
sistema já existe, o que pode vir a ser feito é simplificar segundo as<br />
várias línguas maternas em questão. O sistema lingüístico passa a ser<br />
baseado num novo sistema mesclado com as línguas de contato. Por-<br />
tanto, os nativos não são mais os provedores da chamada norma cul-<br />
ta. Na verdade, há várias normas cultas: o inglês padrão culto<br />
nigeriano, o inglês de Cingapura etc.<br />
Como é que ficam, então, os papéis dos usuários nativos e não-<br />
nativos do inglês?<br />
Alguns estudiosos começaram a questionar o fato de que quan-<br />
do o inglês é usado pela comunidade internacional, isto é, entre fa-<br />
lantes de vários contextos internacionais, então não há não-nativos.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
100
Em outras palavras, enquanto a distinção nativo/não-nativo é válida<br />
para o inglês como língua estrangeira, pois o idioma é aprendido<br />
como L2 para ser usado com falantes nativos, o Inglês Internacional<br />
é usado especialmente entre os falantes de inglês como L2 sem a<br />
presença de nenhum nativo (JENKINS, 2003: 80-81). Nesse contex-<br />
to, a distinção nativo/não-nativo deixa de existir.<br />
Sob o ponto de vista pedagógico, constata-se a necessidade de<br />
ajustes nas metodologias de ensino onde a norma culta sempre foi o<br />
paradigma pedagógico. Daí, nos perguntamos, vamos ensinar o quê?<br />
Na área da Fonologia do inglês, algumas propostas de pronúncia<br />
do Inglês Internacional já foram delineadas e podemos apontar, até o<br />
momento, três direções que essas propostas tomaram:<br />
A proposta de núcleo reduzido – em 1978,<br />
Gimson propôs um núcleo fonológico artificial<br />
reduzindo o número de fonemas do inglês britânico<br />
de 44 para 29. O RIP ou Pronúncia Rudimentar<br />
Internacional foi planejada<br />
especificamente para a categoria de falantes do<br />
inglês internacional da época que necessitava<br />
falar inglês como língua franca em situações<br />
especificas de negócios.<br />
A proposta de núcleo empírico – elaborada por<br />
Bryan Jenner em 1997, sugere uma abordagem<br />
onde se tenta identificar o que todas as variedades<br />
de inglês têm em comum e se estabelece<br />
um componente comum como Inglês Internacional.<br />
Acadêmicos como Jenner acreditam que<br />
há um único sistema fonológico compartilhado<br />
por todos os falantes de inglês no mundo, independente<br />
do inglês ser 1ª, 2ª, 3ª ou qualquer<br />
língua. Uma vantagem dessa abordagem seria a<br />
de representar quase todas as variedades de inglês<br />
no mundo sem determinar suas origens.<br />
Por outro lado, como desvantagens, podemos<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
101
táveis;<br />
apontar o fato de que essa proposta exigiria um<br />
levantamento exaustivo de todas as variedades<br />
de inglês internacional usadas mundialmente o<br />
que levaria muitos anos para ser coletado. E,<br />
caso esse levantamento ocorresse, será que ele<br />
resolveria o problema da inteligibilidade?<br />
A proposta combinada de núcleo reduzido e<br />
empírico – ou núcleo da língua franca de Jenkins<br />
– Essa terceira abordagem é uma combinação<br />
da 1 e da 2 e se configurou como tentativa<br />
mais pesquisada e extensivamente detalhada já<br />
feita no sentido de oferecer aos falantes do Inglês<br />
Internacional uma proposta que garanta<br />
compreensão mútua de seus sotaques. Alguns<br />
exemplos de suas características básicas podem<br />
ser resumidos da seguinte forma (JENKINS,<br />
2003:126-127):<br />
Algumas substituições para as duas realizações do TH são acei-<br />
Pronúncia do /r/ como no inglês americano;<br />
Uso do /t/ intervocálico como no inglês britânico em palavras<br />
como water, ao invés do flap da variedade americana;<br />
Manutenção do contraste entre vogais longas e curtas como em<br />
live, e leave, mas com ênfase no contexto lenis/fortis da consoante<br />
que as precede;<br />
Uso adequado de acento contrastivo para sinalizar mudança de<br />
significado como em: He bought a car. HE bought a car, onde esta<br />
última contrasta com ‘not SHE’.<br />
Nas três direções descritas acima, inteligibilidade é o pressupos-<br />
to indiscutível e uma meta realista, porém, até o momento, não se<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
102
chegou a um denominador comum com relação ao que se entende<br />
por inteligibilidade. Kenworthy (1987) aponta para uma inteligibili-<br />
dade confortável (comfortable intelligibility), ou seja, comunicação<br />
entre falante e ouvinte sem que haja esforço por nenhuma das partes<br />
envolvidas. A origem dos problemas de inteligibilidade, segundo<br />
Kenworthy situa-se na substituição, supressão e inserção de sons, na<br />
juntura de palavras, no uso do acento, do ritmo e da entoação. É im-<br />
portante salientar que a visão de Kenworthy, como outras da mesma<br />
década e de décadas anteriores, se alinha com a idéia do falante nati-<br />
vo como sendo o modelo padrão a ser seguido. Nos anos noventa,<br />
nos deparamos com uma descrição de inteligibilidade não somente<br />
ligada à uma articulação e pronúncia claras mas, também, ao contex-<br />
to sócio-cultural do falante e de sua relação com o mundo e consigo<br />
mesmo.<br />
Aliado ao conceito de inteligibilidade, Dalton e Seidlhofer<br />
(1994) propõem que sejam considerados outros dois fatores: a acei-<br />
tabilidade e a acessibilidade, sendo o primeiro descrito como o valor<br />
dado pelos interlocutores aos seus respectivos sotaques e o segundo,<br />
acessibilidade, como sendo a qualidade de tornar uma fala clara ao<br />
ouvinte.<br />
Se o objetivo for o de capacitar o aluno a se tornar inteligível, de<br />
quem é a escolha? Do professor? Da instituição? Do mercado de<br />
trabalho? E onde fica o direito lingüístico do aluno (Matos e Celce-<br />
Murcia,1998)?<br />
Toda a situação delineada até aqui nos leva diretamente à ques-<br />
tão do papel do professor, do que ensinar e o que esperar dos materi-<br />
ais de ensino.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
103
Até o momento, as variedades do inglês que são reverenciadas,<br />
ensinadas e testadas no mundo são aquelas baseadas no inglês norte-<br />
americano e no inglês britânico. As abordagens e os materiais são de<br />
cunho comunicativo-interativo com ênfase na autonomia do aluno,<br />
na solução de problemas e em livros unilíngües, ou seja, somente em<br />
inglês. Os testes considerados mais confiáveis são aqueles que me-<br />
dem a competência do aluno em relação às normas determinadas<br />
pelos nativos. Uma saída útil e coerente para a produção dos materi-<br />
ais de ensino seria aquela criada localmente, de acordo com as neces-<br />
sidades dos usuários e levando-se em conta sua L1, isto é, utilizando-<br />
a como ponto de partida, como elemento facilitador no processo de<br />
aprendizagem da L2 (Lieff e Nunes, 1993).<br />
Quanto aos professores de inglês, apesar dos nativos ainda se-<br />
rem os mais procurados, percebe-se um grande movimento favorável<br />
aos professores não-nativos, pois estes já carregam um certo bilin-<br />
güismo como ponto de partida: dominam tanto a língua alvo como o<br />
idioma de seus alunos, como no caso dos professores brasileiros.<br />
Seidlhofer (1999:238), lingüista e professora austríaca de inglês,<br />
afirma que o professor não-nativo tem a vantagem de já ter passado<br />
pelo processo de aprendizado da mesma língua de seus alunos, e ele<br />
sabe o que é ter se apropriado da língua estrangeira para algum pro-<br />
pósito particular. E essa experiência lingüística compartilhada deve-<br />
ria ser a base da auto-confiança do professor e não de sua<br />
insegurança. Medgyes (1994), lingüista húngaro e professor de in-<br />
glês, afirma que o professor não-nativo é a pessoa certa para ensinar<br />
pronúncia por varias razões: ele compartilha da mesma língua mater-<br />
na e da mesma cultura de seus alunos (numa situação monolingue) e,<br />
por isso, pode entender as necessidades e as dificuldades deles aju-<br />
dando-os a antecipá-las ou até mesmo resolvê-las de maneira mais<br />
eficaz do que um professor nativo conseguiria.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
104
Compartilho dessas opiniões e acrescento que o papel do educa-<br />
dor envolvido no treinamento de futuros professores e no desenvol-<br />
vimento de docentes graduados é o de sensibilizá-los no sentido de<br />
se conscientizarem da importância e da coerência de suas situações<br />
bilíngües, da necessidade de perceberem que, como professores de<br />
língua estrangeira, são agentes de uma atividade crítica e política,<br />
longe daquela visão alienada de endeusamento da língua estrangeira<br />
e de seus falantes nativos, pois, como bem coloca Pennycook (1994),<br />
nenhum conhecimento, nenhuma língua e nenhuma pedagogia pode<br />
ser vista como neutra ou apolítica. Também é importante reconhecer<br />
que tais crenças ou representações não são demovidas ou modifica-<br />
das da noite para o dia. As palavras de Rajagopalan refletem bem<br />
essa preocupação: “Não é de estranhar que o ensino da língua estran-<br />
geira ainda leve muitos alunos a se sentirem envergonhados da sua<br />
própria condição lingüística” (2003:68).<br />
Pow, após realizar um estudo da contribuição da Fonologia e de<br />
uma postura reflexiva na formação docente de professores da rede<br />
pública estadual de São Paulo, concluiu que “se orientado critica-<br />
mente, [o estudo da Fonologia] pode ser um dos componentes para<br />
que o professor de língua inglesa (re)construa uma identidade profis-<br />
sional emancipada, voltada a uma excelência atingível de competên-<br />
cia linguístico-fonológica que possa ser buscada com discernimento”<br />
(2003:68).<br />
Com relação à ultima questão levantada no início dessa exposi-<br />
ção - qual o futuro da língua inglesa?- gostaria de apontar duas pers-<br />
pectivas no efeito da difusão do inglês internacional.<br />
Na primeira vemos a língua inglesa como destruidora de outras<br />
línguas. Estimativas afirmam que há no mundo entre 6 e 7 mil lín-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
105
guas e que neste novo século, 3 mil estão morrendo e 2.400 correm o<br />
mesmo risco. Não há um fator único responsável por essas ‘mortes’<br />
mas, pesquisas apontam um grande responsável: a língua inglesa. A<br />
língua no mundo globalizado ou MC World, é o inglês (JENKINS,<br />
2003:138). Não usá-lo é correr o risco de ser marginalizado dos be-<br />
nefícios da economia global. Hoje em dia, no Brasil, um dos requisi-<br />
tos para se conseguir um bom emprego é saber mais uma língua além<br />
do inglês.<br />
Na segunda perspectiva, encontramos o bilingüismo e o multi-<br />
linguismo como norma no resto do mundo e ambos terão papel im-<br />
portante na prevenção da extinção de línguas. Caso os cidadãos dos<br />
grandes países de língua inglesa abracem a causa do bilingüismo,<br />
estes deixarão de ser os grandes dinossauros monolingues no mundo<br />
multilingüe, pois, falar outras línguas significará, entre vários ga-<br />
nhos, o de desenvolver competência intercultural.<br />
De acordo com Crystal (1997, 2003:191), daqui a 500 anos, será<br />
que todos serão automaticamente apresentados à língua inglesa assim<br />
que nascerem ou até mesmo no momento em que forem concebidos?<br />
Caso isso seja parte de uma rica experiência multilingüe para os nos-<br />
sos futuros cidadãos, isto pode ser bom. Mas, se a única língua a ser<br />
aprendida for o inglês, certamente teremos o maior desastre intelec-<br />
tual que o planeta terá conhecido.<br />
O presente trabalho teve como objetivo discorrer sobre o con-<br />
ceito de Inglês Internacional, suas diversas visões na atualidade e os<br />
vários desdobramentos e implicações de uso. Ao concluir tal emprei-<br />
tada, deparo-me com mais perguntas do que aquelas levantadas inici-<br />
almente. As visões aqui citadas são somente uma parte do oceano de<br />
interpretações publicadas mundialmente a respeito do assunto. Limi-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
1<strong>06</strong>
tações de espaço impedem que se faça jus a todas elas, todavia, como<br />
acredito que toda produção acadêmica deva ser vista como parte de<br />
um ciclo de aprendizado continuo, não-linear, envolto em curiosida-<br />
de e criticidade, situado num contexto sócio-cultural pertinente, en-<br />
cerro esperando ter contribuído para que outras discussões possam<br />
ser derivadas dessa exposição.<br />
Referências Bibliográficas<br />
CRYSTAL, D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge<br />
University Press, 1997, 2003.<br />
DALTON, C. & SEIDLHOFER, B. Pronunciation. Oxford: Oxford<br />
University Press, 1994.<br />
GIMSON, A.C. “Towards an international pronunciation of English”.<br />
In: Honour of A.S. Hornby. Oxford University Press,<br />
1978.<br />
GRADDOL, D. The Future of English. The British Council, 1997.<br />
JENKINS, J. The Phonology of English as an International Language.<br />
Oxford: Oxford University Press, 2000.<br />
------. World Englishes. Routledge English Language Introduction.<br />
England: Routledge, 2003.<br />
JENNER, B. “International English: na alternative view.” Speak Out!<br />
Newsletter of the IATEFL Phonology Special Interest Group,<br />
21:10-4, England: 1997a.<br />
KENWORTHY, J. Teaching English Pronunciation. Longman<br />
Handbook for Teachers. England: Longman, 1987.<br />
LIEFF, C.D. & NUNES, Z.A.A. “English Pronunciation and the<br />
Brazilian Learner: how to cope with language transfer.” In:<br />
Speak Out! Newsletter of the IATEFL Phonology Special Interest<br />
Group, England: n.12, pp 18-28, agosto, 1993.<br />
LOPES DA SILVA, F. & RAJAGOPALAN, K (orgs.) A Lingüística<br />
que nos Faz Falhar. São Paulo: Parábola, 2004.<br />
MATOS, F.C.G. & CELCE-MURCIA, M. “Learners´ pronunciatio<br />
rights.” In: Braz-Tesol Newsletter. São Paulo, p. 14-15, Setembro,<br />
1998.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
107
MCARTHUR, T. The English Languages. Cambridge: Cambridge<br />
University Press, 1998.<br />
MEDGYES, P. The Non-native Teacher. Oxford: Macmillan, 1994.<br />
PENNYCOOK, A. The Cultural Politics of English as an International<br />
Language. England: Longman, 1994.<br />
PHILIPSON, R. Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford University<br />
Press, 1992.<br />
POW, E.M. De Jazidas, Garimpos e Artífices: a formação fonológica<br />
do professor e sua identidade profissional. Dissertação<br />
(Mestrado em Lingüística Aplicada ao Ensino da Linguagem).<br />
PUC/São Paulo, 2003.<br />
SCHMITZ, J.R. “A Língua Portuguesa Corre Perigo?!” ComCiência.<br />
Campinas, São Paulo. Unicamp: v.24, 2001.<br />
http://www.comciencia/br<br />
SEIDLHOFER, B. “Double Standards: teacher education in the Expanding<br />
Circle”. World Englishes, 18/2:233-45, 1999.<br />
SRIDHAR, K.K. “Societal multilingualism” In: S. L. Mackay and<br />
N.H. Hornberger (eds.): Sociolinguistics and Language Teaching.<br />
Cambridge: Cambridge University Press, 1996.<br />
RAJAGOPALAN, K. Por uma Lingüística Critica – linguagem, identidade<br />
e a questão ética. São Paulo: Parábola, 2003.<br />
RAMPTON, B. “Displacing the ‘native speaker’: expertise, affiliation,<br />
and inheritance”. ELT Journal 44/2, April, 1990.<br />
WIDDOWSON, H.G. “The Ownership of English.” TESOL<br />
QUARTERLY 28/2: 377-89, 1994 a.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
108
Introdução<br />
A redação do vestibular:<br />
estrutura e coerência argumentativa<br />
Cinara Ferreira Pavani – UCS<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
Vanilda Salton Koche – UCS<br />
De um modo geral, o professor de Língua Portuguesa de qual-<br />
quer nível de ensino repassa aos alunos uma estrutura formal de re-<br />
dação em detrimento de uma metodologia voltada para a<br />
discursividade, que pressupõe a construção de argumentos de um<br />
modo pessoal e intransferível. Essa estrutura formal é justificada<br />
pelas ditas exigências do processo seletivo e/ou classificatório para o<br />
ingresso na Universidade, através do Concurso Vestibular. Como<br />
professores de Língua Portuguesa Instrumental, disciplina cursada<br />
por alunos ingressantes na Universidade, e que tem como um dos<br />
objetivos principais desenvolver estratégias de produção de textos<br />
acadêmicos, verificamos, com poucas exceções, que os alunos d e-<br />
monstram insegurança quando são desafiados a escrever. Essa difi-<br />
culdade é um forte indício de que o Ensino Fundamental e Médio<br />
nem sempre oferece suporte teórico e prático suficiente para o domí-<br />
nio dos diferentes mecanismos de escrita, especialmente da argumen-<br />
tação.<br />
Nesse contexto, sentiu-se a necessidade de investigar como os<br />
alunos constroem seus textos dissertativos na prova do vestibular.<br />
Elegemos como tema de pesquisa a análise e a avaliação da coerên-<br />
cia argumentativa em redações do Concurso Vestibular, prestado por<br />
candidatos aos cursos oferecidos pelo Campus Universitário da Re-<br />
gião dos Vinhedos, da Universidade de Caxias do Sul, em janeiro de<br />
109
2002, visando refletir sobre o ensino de Língua Portuguesa, no que<br />
se refere à produção textual.<br />
O corpus da pesquisa A coerência argumentativa em redações<br />
do vestibular da UCS/CARVI foi constituído pelas dissertações dos<br />
candidatos do Concurso Vestibular Verão/2002. A amostra foi com-<br />
posta por textos escolhidos de modo proporcional e aleatório, por<br />
curso. Foram analisadas 100 redações das 1200 produzidas pelos<br />
candidatos nesse vestibular, que tiveram como tema: A relação entre<br />
pais e filhos é fator determinante no processo de escolha da carreira<br />
profissional?<br />
Neste artigo, apresentaremos um recorte da pesquisa menciona-<br />
da, abordando aspectos referentes à estrutura das dissertações dos<br />
vestibulandos. Inicialmente, buscar-se-á discutir pressupostos teóri-<br />
cos sobre a dissertação e sua estrutura e, depois, analisar até que<br />
ponto o vestibulando consegue produzir um texto estruturado, de<br />
modo a construir uma opinião sobre o assunto da prova.<br />
1. A Dissertação e sua Estrutura<br />
A dissertação e seu ensino vêm sendo objetos de reflexão de v á-<br />
rios teóricos voltados à pesquisa na área de produção textual. Para<br />
fundamentar a investigação sobre a coerência argumentativa em re-<br />
dações de vestibular, buscou-se apoio em alguns estudiosos, dos<br />
quais destacam-se Delforce (1992), Delcambre e Darras (1992), Ko-<br />
ch (1993), Garcez (2001), Hoey (1991) e Guedes (2002).<br />
A dissertação é um texto que apresenta uma questão a ser de-<br />
senvolvida, construindo-se uma opinião que responda à questão pro-<br />
posta. Para Bernard Delforce (1992), a dissertação é um texto no<br />
qual a atividade enunciativa fundamental consiste em interrogar, e<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
110
não tanto em afirmar ou refutar, em apresentar argumentos, em res-<br />
ponder.<br />
Segundo o autor, a dissertação configura-se a partir das seguin-<br />
tes características: de um lado, ela se constitui de seqüências pergun-<br />
ta-resposta sucessivas; de outro, essa passagem de uma pergunta a<br />
uma resposta efetua-se na forma de um momento de exame, de ques-<br />
tionamento, de análise. A partir dessas noções, evidenciam-se duas<br />
das operações principais do trabalho dissertativo, quais sejam, cons-<br />
truir uma problemática e uma opinião. As seqüências pergunta-<br />
resposta são o motor do texto que marcam seus laços de abertura e<br />
fechamento.<br />
A característica principal da dissertação, conforme Delforce, é a<br />
atenção que se dá ao exame da questão, pela sua relevância, tornan-<br />
do-se inadequado apresentar imediatamente uma resposta. O espírito<br />
crítico caracteriza-se por não esquecer nenhum aspecto importante<br />
do problema (1992:15).<br />
O autor ressalta que, na seqüência pergunta-resposta, o impor-<br />
tante não é a opinião-resposta que se enuncia ou a justificação-<br />
argumentação que se propõe, mas a pergunta, a construção de uma<br />
opinião no exame de uma questão. Essa opinião vai sendo construída<br />
analisando-se, antes, todas as opiniões-resposta que a pergunta pos-<br />
sibilita, avaliando-se sua pertinência e validade.<br />
Não é adequado que o produtor de um texto apresente imedia-<br />
tamente uma opinião a uma questão proposta para exame, acrescida<br />
de alguns argumentos de apoio. Segundo Delforce, esse tipo de cons-<br />
trução caracteriza um outro gênero discursivo: o da entrevista. Acon-<br />
selha o teórico que se trabalhe com os dois gêneros para que o aluno<br />
perceba as suas diferenças.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
111
Na mesma linha de pensamento de Delforce, situam-se Delcam-<br />
bre e Darras (1992), para quem a dissertação caracteriza-se pela<br />
construção de um questionamento e de uma opinião pessoal a propó-<br />
sito de um tema apresentado de forma polêmica. Segundo as autoras,<br />
para construção desse texto não basta dizer o que se pensa, com e-<br />
nunciados improvisados, mas é preciso demonstrar que se pensa,<br />
com uma opinião progressivamente construída, e como se pensa,<br />
colocando em evidência os argumentos.<br />
Na escrita da dissertação, orienta-se os alunos na procura de i-<br />
déias, através de leituras, para desenvolvê-las discursivamente num<br />
processo de construção. Essas idéias poderão gerar os argumentos e<br />
exemplos em torno da questão a ser examinada. Para Garcez, no<br />
texto dissertativo, especifica-se e detalha-se o ponto de vista em rela-<br />
ção a uma idéia preliminar, não só pelo aprofundamento da reflexão,<br />
mas também pelo esclarecimento, para nós mesmos, de nossas posi-<br />
ções em relação ao assunto (2001: 94).<br />
O importante é que o aluno desenvolva a sua idéia, dominando<br />
os fenômenos lingüísticos e enunciativos e empregando uma argu-<br />
mentação direcionada a uma conclusão que garanta a coerência glo-<br />
bal do texto. Sua opinião vai sendo construída progressivamente,<br />
evidenciando seu próprio raciocínio no exame da questão, confron-<br />
tando opiniões.<br />
2. Análise quantitativa-interpretativa da estrutura da dissertação<br />
Baseado no modelo proposto por Hoey, a est rutura da disserta-<br />
ção constitui-se das seguintes partes: situação, problema, solução e<br />
avaliação. O autor exemplifica: situação => Eu estava de serviço na<br />
guarita; problema => Eu vi o inimigo se aproximando; resposta =><br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
112
Eu abri fogo; avaliação => Eu afastei (repeli) o ataque do inimigo<br />
(1991: 28). A partir desse paradigma, propomos a divisão da disser-<br />
tação em situação-problema, discussão e solução-avaliação.<br />
Na situação-problema, apresenta-se a questão que será desen-<br />
volvida, orientando o leitor em relação ao que virá nas demais partes<br />
do texto. Nessa parte da dissertação, busca-se contextualizar o assun-<br />
to a ser abordado, em conformidade com a proposta de escrita, por<br />
meio de afirmações gerais e/ou específicas. Pode-se, nesse momento,<br />
evidenciar o objetivo da argumentação que será sustentada ao longo<br />
do texto, bem como a importância de se abordar o tema.<br />
Na discussão, expõem-se os argumentos, construindo-se a opi-<br />
nião a respeito da questão examinada. Para Guedes, todo o texto<br />
dissertativo precisa argumentar, isto é, apresentar provas a favor da<br />
posição que assumiu e provas para mostrar que a posição contrária<br />
está equivocada. Tais argumentos baseiam-se nos conceitos apresen-<br />
tados, na adequação dos fatos que apresenta para exemplificar esses<br />
conceitos, bem como na correção do raciocínio que estabelece rela-<br />
ções entre conceitos e fatos (2002:313).<br />
Na solução-avaliação, por fim, evidencia-se a resposta à questão<br />
apresentada, ou seja, nesse momento explicita-se a posição do autor,<br />
podendo haver uma conclusão ou uma apreciação e não uma simples<br />
paráfrase, ou um mero resumo das afirmações anteriores.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
113
TABELA 01: Avaliação da estrutura do texto dissertativo,<br />
com base em Hoey<br />
Situação-<br />
Problema<br />
8,00%<br />
Discussão Solução-<br />
Avaliação<br />
9,00%<br />
4,00%<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
Não empregam<br />
79,00%<br />
Ao analisarmos a estrutura presente nas dissertações dos candi-<br />
datos ao Vestibular Verão/2002, constatamos, a partir dos resultados<br />
expressos na tabela 01, que 79% dos textos não apresentam nenhuma<br />
das partes que compõem a estrutura descrita anteriormente (situação-<br />
problema, discussão e solução-avaliação). No entanto, alguns textos<br />
apresentam partes isoladas da estrutura em análise, ou seja, apenas a<br />
situação-problema em 8% dos textos; a discussão da temática em<br />
pauta, em 9% e a solução-avaliação, em 4% dos textos. A pesquisa<br />
mostrou que produzir uma dissertação com apenas um aspecto da<br />
estrutura argumentativa não garante a qualidade textual, conforme<br />
ilustra o exemplo que segue.<br />
Texto 1:<br />
Pais e filhos<br />
Os filhos são realmente influenciados pelos pais<br />
na escolha profissional?<br />
Pode-se afirmar que no passado, os jovens deveriam<br />
seguir a carreira de seus pais. Formando-se<br />
em brilhantes médicos, advogados, por<br />
exemplo, tendo enfim uma vida bem sucedida.<br />
Será que esta influência os faziam pessoas felizes<br />
ou realizadas?<br />
114
Com o decorrer dos anos, o mundo foi mudando,<br />
as pessoas sentiram a necessidade de escolherem<br />
e ao mesmo tempo expressarem suas<br />
opiniões, seus desejos... Então, percebe-se que<br />
o jovem conquistou o direito de optar por sua<br />
profissão, pelo trabalho que o beneficiará e realizará<br />
seus projetos.<br />
Atualmente, os pais deram a liberdade para o filho<br />
fazer sua próprias escolhas, mesmo imaginando<br />
um outro futuro para eles.<br />
Pois a pessoa que segue uma profissão indesejada,<br />
certamente não estará apto o bastante para<br />
trabalhar, significando a infelicidade do indivíduo.<br />
A liberdade de escolha dever ser respeitada por<br />
todos, principalmente pelos pais, pois é deles<br />
que deve vir o otimismo, a confiança para ir em<br />
luta dos ideais.<br />
O texto transcrito apresenta uma situação-problema, partindo de<br />
uma pergunta: Os filhos são realmente influenciados pelos pais na<br />
escolha profissional? No entanto, não há uma contextualização que<br />
oriente o leitor em relação ao assunto.<br />
Na seqüência, o autor não consegue promover uma discussão<br />
baseada em argumentos, nem uma solução-avaliação referente à<br />
questão abordada. Assim, percebe-se, ao longo do texto, que não há<br />
uma estrutura que conduza à argumentatividade, porque o candidato<br />
faz afirmações sem sustentá-las, tornando a sua produção inconsis-<br />
tente.<br />
No segundo parágrafo, o produtor afirma que, no passado, os<br />
jovens deveriam seguir a carreira dos pais, como se isso fosse uma<br />
regra geral e garantisse uma vida bem sucedida. Essas idéias são<br />
colocadas sem um desdobramento, que comprove a sua validade.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
115
Contradizendo a afirmação anterior, o vestibulando conclui o pará-<br />
grafo, questionando a realização e a felicidade decorrentes dessa<br />
escolha.<br />
No terceiro parágrafo, o candidato diz que tanto o mundo quan-<br />
to as pessoas mudaram e passaram a optar por sua profissão. Porém,<br />
não faz uma reflexão sobre a influência dos pais na escolha profis-<br />
sional dos filhos.<br />
O quarto e o quinto parágrafos caracterizam-se novamente pela<br />
falta de expansão das idéias elencadas. A contradição entre a afirma-<br />
ção de que o jovem conquistou o direito de optar por sua profissão<br />
(ainda no terceiro parágrafo) e a de que os pais deram a liberdade<br />
para o filho fazer suas escolhas (quarto parágrafo) gera uma ruptura<br />
de sentidos ao longo do texto. O quinto parágrafo, por sua vez, não<br />
estabelece uma relação de continuidade; ele poderia ser uma conclu-<br />
são do anterior, na medida em que sugere que os pais deram liberda-<br />
de de escolha para os filhos (quarto parágrafo), para não gerar a sua<br />
infelicidade (quinto parágrafo).<br />
No último parágrafo, o candidato afirma que a liberdade de es-<br />
colha deve ser respeitada por todos, contudo, essa idéia não se con-<br />
figura como uma resposta à pergunta formulada no primeiro<br />
parágrafo. É uma mera tentativa de fechar o texto, sem reelaboração<br />
de um posicionamento desenvolvido anteriormente, que resulte em<br />
uma solução à questão proposta.<br />
Como se observa, apesar de o texto apresentar uma das partes de<br />
uma dissertação, conforme o modelo de Hoey, as idéias não são de-<br />
senvolvidas de modo a construir uma opinião a respeito do assunto<br />
proposto na prova. A simples colocação da situação-problema no<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
116
início do texto não garante a eficiência do ponto de vista argumenta-<br />
tivo.<br />
TABELA 02 - Avaliação da estrutura formal do texto dissertativo<br />
Uso da estrutura nas redações <strong>Número</strong> %<br />
Utilizam estrutura proposta na pesquisa<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
3 3,00<br />
Utilizam estrutura tradicional 23 23,00<br />
Não utilizam nenhuma estrutura<br />
74 74,00<br />
Total 100 100,00<br />
A tabela 02 mostra que apenas 3% das dissertações analisadas<br />
vêm caracterizadas pela estrutura pesquisada; 23% apresentam a<br />
estrutura tradicional e em 74% não se constata estrutura alguma.<br />
Na seqüência, apresentamos uma das produções que tem as par-<br />
tes que compõem a dissertação, com base em Hoey. Embora apresen-<br />
te todas elas, ressaltamos que o nível de elaboração é médio,<br />
resultando em um texto pouco consistente do ponto de vista argu-<br />
mentativo. Além disso, ele apresenta problemas de escrita em geral.<br />
Salientamos que este foi o melhor texto encontrado no corpus, quan-<br />
to à estrutura analisada.<br />
117
Texto 2:<br />
Influência Profissional<br />
Hoje, como vivemos numa sociedade um pouco<br />
mais democrática, em que nossos filhos podem<br />
escolher sua própria profissão, terão eles influência<br />
da profissão dos pais?<br />
É claro que o filho vai se espelhar, devido a<br />
convivência dele com a profissão do pai. Mas<br />
isso será mais na infância, pois quando chegar a<br />
adolescência começará a tomar suas próprias<br />
decisões e ele poderá mudar de opinião.<br />
A profissão do pai nem sempre poderá influenciar.<br />
Alguns filhos, não querem nunca ter a profissão<br />
do pai, pois ele sempre estava ausente,<br />
em reuniões, em viagens de negócios, por isso,<br />
não vão querer que seus filhos passem pelo que<br />
eles passaram.<br />
Como, o pai que trabalha de representante comercial,<br />
vive em reuniões aos sábados, durante<br />
a semana quase nunca vai almoçar, pois está em<br />
outras cidades, à noite está sempre cansado e de<br />
quinze em quinze dias viaja para outra cidade e<br />
fica lá uma semana ou mais. Nenhum filho gosta<br />
de um pai ausente.<br />
Mas em uma profissão que o pai trabalha muito,<br />
mas sempre tem um tempinho para passear,<br />
brincar com o filho, que trabalha da manhã à<br />
noite, mas pode almoçar com o filho, que tem o<br />
fim de semana livre para a família. O filho terá<br />
orgulho em seguir a profissão do pai.<br />
Mas mesmo assim tem aqueles que admiram a<br />
profissão do pai mas sabem que não é aquilo<br />
que eles gostam de fazer.<br />
Então nem sempre o filho seguirá a mesma profissão<br />
de seu pai.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
118
O candidato estruturou seu texto de modo a apresentar, no pri-<br />
meiro parágrafo, a situação-problema em forma de pergunta: como<br />
os filhos podem escolher sua profissão, terão eles influência da pro-<br />
fissão dos pais? Tal questão foi redigida a partir do contexto da afir-<br />
mação inicial: Hoje, como vivemos numa sociedade um pouco mais<br />
democrática... Esta situação-problema auxilia o leitor a se localizar<br />
na proposta da dissertação e se constitui como ponto de partida para<br />
a estruturação textual, criando expectativas quanto à discussão do<br />
assunto em pauta.<br />
Do segundo ao sexto parágrafo, o candidato fez uma discussão<br />
não muito aprofundada. Apresentou seus argumentos, ora favoráveis,<br />
ora contrários à influência dos pais na escolha profissional dos filhos.<br />
Diz que a convivência com os pais na infância pode ser um fator<br />
determinante na escolha profissional, mas que pode ser alterada a<br />
partir da adolescência; no terceiro parágrafo, a expressão por outro<br />
lado antecipa um novo conteúdo e auxilia a ampliação da discussão,<br />
porque traz a informação de que a ausência dos pais no lar, por moti-<br />
vos profissionais, exerce influência negativa na escolha profissional,<br />
tendo em vista o sofrimento vivido pelos filhos. O autor mobilizou<br />
mais informações quando, a partir de vários exemplos e situações<br />
comuns, subsidiou o argumento de que há filhos que não seguirão a<br />
carreira dos pais por terem consciência de que não gostam de tal<br />
escolha.<br />
Na redação analisada, a solução-avaliação é uma simples reto-<br />
mada dos posicionamentos já apresentados: nem sempre o filho se-<br />
guirá a mesma profissão do pai. Reconhecemos que o candidato<br />
poderia ter reelaborado esse posicionamento e desenvolvido melhor<br />
sua opinião a respeito do assunto.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
119
A maior parte dos manuais de redação tem se limitado a orientar<br />
a escrita da dissertação, observando a estrutura tradicional: introdu-<br />
ção, desenvolvimento e conclusão (Granatic, 1996; Martins e Zil-<br />
berknop, 1997). Os cursos pré-vestibulares também reiteram esse<br />
modelo pré-concebido. Na introdução - primeiro parágrafo – orien-<br />
tam o aluno a escrever duas ou três frases, introduzindo o assunto,<br />
normalmente paráfrases do tema proposto, sem uma contextualiza-<br />
ção; no desenvolvimento – recomendam que o estudante produza<br />
dois parágrafos, normalmente com três ou quatro frases cada, anali-<br />
sando e desenvolvendo as idéias propostas na introdução; na conclu-<br />
são - quarto e último parágrafo – prescrevem a retomada do tema<br />
abordado e a apresentação de uma conclusão. Essa estrutura mostra<br />
que a preocupação está na forma como um fim em si mesmo, sem a<br />
necessidade de estruturar um discurso próprio, procedimento indis-<br />
pensável na produção do texto dissertativo-argumentativo. Costa Val<br />
(1993:127) critica esse procedimento no ensino da dissertação, cujo<br />
resultado é o “adestramento empobrecedor” a que é exposto o aluno<br />
diante da produção escrita, ao se delimitar o número de parágrafos e<br />
apresentar uma forma fixa de produção textual. Ressalta-se, entretan-<br />
to, que embora o aluno seja tradicionalmente orientado para escrever<br />
dessa forma, a tabela número 02 mostra que apenas 23% dos textos<br />
apresentaram a estrutura tradicional.<br />
O texto que segue exemplifica o emprego adequado dessa estru-<br />
tura na dissertação:<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
120
Texto 3:<br />
O Futuro dos Filhos Depende dos Pais<br />
A relação entre pais e filhos é um fator importante<br />
na vida de qualquer adolescente na hora<br />
de escolher sua profissão. Com isso, eles poderão<br />
optar pela carreira certa e se sentirão mais<br />
seguros, pois sabem que tem o apoio dos pais.<br />
Deve-se analisar, primeiramente, que nem todos<br />
os pais tem um diálogo aberto com os filhos,<br />
assim muitos deles ficam em dúvida a<br />
respeito do futuro. Se os pais conversassem sobre<br />
o que está faltando no campo de trabalho,<br />
em que área seria bom se especializar para mais<br />
tarde ter a certeza de conseguir um bom emprego,<br />
o filho saberia optar pela carreira certa.<br />
É necessário frisar, por outro lado, que existem<br />
pais que são ausentes na vida dos filhos, muitos<br />
deles passam dias sem mesmo se comprimentar<br />
por um motivo ou outro. Se os mesmos pensassem<br />
no futuro dos filhos saberiam que uma boa<br />
relação no dia-a dia é um grande passo para o<br />
adolescente sentir-se seguro e contar com o apoio<br />
deles para tudo.<br />
Portanto se todos os responsáveis se conscientizassem<br />
que o filho precisa de um aprendizado e<br />
uma boa relação em casa, não existiriam tantos<br />
adolescentes em dívida na hora de optar pela<br />
carreira profissional.<br />
O texto possui todas as marcas de uma estrutura tradicional. O<br />
primeiro parágrafo apresenta a introdução e trata do tema proposto<br />
na prova de redação. O segundo e terceiro parágrafos, que constitu-<br />
em o desenvolvimento, expressam um posicionamento crítico de<br />
forma implícita; as idéias não são direcionadas para uma argumenta-<br />
ção clara do autor em relação ao tema proposto. Os dados apresenta-<br />
dos são insuficientes para convencer o leitor da intencionalidade<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
121
pretendida, que não está bem articulada pelo baixo nível de informa-<br />
tividade e criticidade, em se tratando de um texto direcionado a uma<br />
banca avaliadora de vestibular. A conclusão é demarcada pelo articu-<br />
lador portanto, representação de um fechamento, muitas vezes, sem<br />
convergência para um posicionamento pessoal do autor.<br />
A maioria dos textos (74%) não apresentou estrutura alguma. A<br />
forma de colocação de algumas palavras, expressões e frases resulta-<br />
ram em textos incoerentes que, segundo Marcuschi (1983), caracteri-<br />
zam-se por ser um conjunto desordenado e sem sentido de sentenças.<br />
Acrescida a uma inconsistência argumentativa, percebemos sérios<br />
problemas no plano da escrita, em aspectos como ortografia, pontua-<br />
ção, problemas de sintaxe, dentre outros. Vejamos o exemplo:<br />
Texto 4:<br />
Meu filho no futuro<br />
Quando um casal tem um filho já pensam no<br />
futuro, ter condição de dar estudo, todos os pais<br />
gostariam que seus filhos fose um doutor, ou<br />
piloto, mas cada um tem um dom.<br />
Quando um adolescente termina o segundo<br />
grau, se tiver vontade de fazer uma faculdade<br />
ele já sabe o que vai fazer. Por isso eu mãe vou<br />
deixar minha filha escolher o que ela gosta de<br />
fazer, não posso obrigar a ser dentista se tem<br />
pavor de sangue.<br />
Hoje quantas pessoas gostariam de fazer faculdade,<br />
só não fazem porque não passam, e outras<br />
porque não tem condições financeiras de pagar.<br />
E cada vez mais é preciso ter curso superior, até<br />
para ser telefonista, secretária.<br />
Por isso é muito importante estudar, todos pais<br />
querem o melhor para seus filhos.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
122
No aspecto da estrutura, pode-se dizer que esta redação não pos-<br />
sui a estrutura baseada em Hoey, nem as partes mínimas constituti-<br />
vas de uma estrutura tradicional, que contempla introdução,<br />
desenvolvimento e conclusão (GRANATIC, 1996). Não há como se<br />
reconhecer a construção de uma opinião, porque, a cada novo pará-<br />
grafo, a autora do texto em análise introduz uma nova informação,<br />
sem articulação com a anterior. Convém destacar que esse texto é<br />
semelhante a muitos outros analisados no que se refere à construção<br />
frasal, a não diferenciação entre a língua falada e a escrita e à produ-<br />
ção de uma expressão lingüística com problemas gramaticais, orto-<br />
gráficos, de pontuação, entre outros. Essas dificuldades reforçam a<br />
falta de coerência argumentativa dos textos, na medida em que pre-<br />
judicam o desenvolvimento de um raciocínio claro, responsável pela<br />
discursividade do texto, ou seja, pela sua qualidade comunicativa.<br />
Considerações finais<br />
Em relação à estrutura da dissertação, o estudo permitiu verifi-<br />
car que a maioria dos candidatos não utilizou a estrutura baseada em<br />
Hoey (situação-problema, discussão e solução-avaliação). Alguns<br />
apresentaram partes isoladas da estrutura em análise. Os textos não<br />
evidenciaram, na sua grande maioria, uma questão inicial, para orien-<br />
tar o leitor em relação ao conteúdo. Em poucos, verificamos o de-<br />
senvolvimento de uma discussão e a apresentação de uma solução<br />
em torno do questionamento proposto. Nem mesmo a estrutura tradi-<br />
cional, geralmente ensinada no Ensino Médio, foi empregada pelos<br />
vestibulandos. Ressalta-se que uma boa dissertação é determinada,<br />
principalmente, por uma discussão de idéias de um modo organizado<br />
com vistas ao convencimento do leitor a respeito da questão aborda-<br />
da, conforme indicam os estudos de Delforce (1992), Delcambre e<br />
Darras (1992) e Guedes (2002).<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
123
Os candidatos, em sua grande maioria, não fundamentaram seu<br />
raciocínio numa argumentação consistente, manifestaram contradi-<br />
ções entre o ponto de vista e a argumentação e não conseguiram ex-<br />
por um pensamento que construísse uma opinião sobre o tema<br />
proposto na prova. Assim, em geral, o vestibulando não tinha o que<br />
dizer, o que o levou à dificuldade de apresentar argumentos na escri-<br />
ta de seu texto, que requer mais que um simples agrupamento de<br />
sentenças em torno de um assunto, pois conforme Geraldi (1993) o<br />
autor de um texto precisa ter o que dizer para que o mesmo se confi-<br />
gure como um discurso.<br />
Os textos produzidos evidenciaram dificuldades na articulação<br />
dos enunciados e parágrafos entre si, não assegurando a continuidade<br />
do discurso. Nesse sentido, Koch coloca que a argumentação estrutu-<br />
ra o discurso, marca as possibilidades de sua construção e assegura-<br />
lhe a continuidade, sendo a responsável pelos encadeamentos discur-<br />
sivos (1993:59).<br />
As dificuldades constatadas na pesquisa podem ser associadas à<br />
condição de escrita artificial da prova de vestibular (COSTA VAL,<br />
1993). O candidato produz um texto, não por uma motivação própria,<br />
mas por uma exigência de um processo seletivo do qual participa, o<br />
que compromete o espaço enunciativo. Isso decorre, provavelmente,<br />
do desconhecimento da redação do vestibular enquanto gênero textu-<br />
al, que se caracteriza pelo condicionamento a um contexto de intera-<br />
ção específico, no qual o sujeito vestibulando tem algo a dizer a<br />
respeito de um assunto determinado para outro sujeito, a banca avali-<br />
adora.<br />
O Ensino Médio, tradicionalmente, focaliza o trabalho com as<br />
tipologias textuais básicas, como a narração, a descrição e a disserta-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
124
ção. No entanto, o ensino prioritário dessas modalidades não é sufi-<br />
ciente, entre outras razões, porque não dá conta dos gêneros textuais<br />
utilizados pelos indivíduos nas mais diversas situações de interação.<br />
Essa constatação é confirmada pelos estudos de Meurer (1996).<br />
O trabalho com gêneros atende à orientação dos Parâmetros<br />
Curriculares Nacionais, que propõem o ensino de língua com base na<br />
diversidade dos discursos que circulam socialmente, não se restrin-<br />
gindo àqueles mais comuns ao universo escolar. Por isso, torna-se<br />
pertinente ampliar os estudos sobre a redação de vestibular como<br />
prática social, uma vez que o domínio desse gênero é fundamental<br />
para o acesso à universidade, e pode servir como meio de o professor<br />
de Língua Portuguesa desenvolver a competência argumentativa do<br />
aluno, tornando-o capaz de estabelecer a interação com seus interlo-<br />
cutores em diferentes situações.<br />
Referências Bibliográficas<br />
DELCAMBRE, Isabelle e DARRAS, Francine. Des modules d'apprentissage<br />
du genre dissertatif. Pratiques 75, p. 17-43, septembre<br />
1992.<br />
DELFORCE, Bernard. La dissertation et la recherche des idées ou: le<br />
retour de l'inventio. Pratiques 75, p. 3-16, septembre 1992.<br />
GARCEZ, Lucília H. do Carmo. Técnica de redação. São Paulo:<br />
Martins Fontes, 2001.<br />
GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. 4. ed. São Paulo:<br />
Martins Fontes, 1993.<br />
GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação. 4. ed. São Paulo:<br />
Scipione, 1996.<br />
GUEDES, Paulo Coimbra. Da redação escolar ao texto. Porto Alegre:<br />
Ed. UFRGS, 2002.<br />
HOEY, Michael. Patterns of lexis in text. Oxford: Oxford University<br />
Press, 1991.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
125
KOCH, Ingedore G. Vilaça. Argumentação e linguagem. São Paulo:<br />
Cortez, 1993.<br />
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Lingüística do texto: o que é e como<br />
se faz. Recife: UFPE, 1983, Série Debates 1.<br />
MARTINS, Dileta Silveira & ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português<br />
instrumental. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 1997.<br />
MEURER, José Luiz. Gêneros textuais e o ensino de português. Informativo<br />
do PET de Letras/UFSC, Florianópolis, ano 1, n.3,<br />
set. 1996.<br />
PARÂMETROS CURRICULA RES NACIONAIS: Ensino Médio.<br />
Brasília: Ministério da Educação, 1999.<br />
VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo:<br />
Martins Fontes, 1993.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
126
Introdução<br />
Revisitando Crátilo<br />
Gabriel de Ávila Othero – PUC/RS<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
Gustavo Brauner – PUC/RS<br />
Os gregos pensaram a respeito de tudo. Os gregos pensaram so-<br />
bre tudo. Eles pensaram sobre todas as questões da Antigüidade<br />
Clássica – pensaram sobre os problemas da Grécia, sobre os proble-<br />
mas de outras civilizações da época e, quando esses problemas tam-<br />
bém estavam resolvidos ou não pareciam suficientes, inventaram<br />
problemas para resolverem. Mas o importante para o presente ensaio<br />
é que os gregos também pensaram sobre a linguagem.<br />
E o presente ensaio trata do Crátilo, de Platão, uma das primei-<br />
ras investigações a respeito da linguagem. Esse texto, em forma de<br />
diálogo, confronta duas visões filosóficas concorrentes sobre a lin-<br />
guagem; a saber, a corrente naturalista e a corrente convencionalista.<br />
No desenrolar de nosso texto, faremos uma breve contextualização<br />
histórica do estudo da linguagem na Antigüidade Clássica para, em<br />
seguida, analisar de forma geral algumas das idéias nele apresenta-<br />
das, e as ramificações dessas idéias para o estudo da linguagem mo-<br />
derno e contemporâneo. Vale ressaltar que nosso ensaio tem caráter<br />
mais informacional do que investigativo, sendo apenas uma apresen-<br />
tação breve das idéias clássicas a respeito da linguagem, com algu-<br />
mas considerações a respeito do desenvolvimento de diferentes<br />
abordagens para o estudo da linguagem a partir das investigações<br />
gregas.<br />
127
1. Breve contexto histórico – os gregos e o estudo da linguagem<br />
Além de importantes estudos sobre a retórica e até mesmo sobre<br />
categorias gramaticais, os filósofos gregos tinham outra grande preo-<br />
cupação em relação à linguagem. Para os primeiros estudiosos gre-<br />
gos, a gramática era parte da filosofia. De acordo com Back &<br />
Heckler (1988: 7), os estudiosos gregos<br />
perguntavam-se se uma instituição era regida<br />
pela natureza ou pela convenção. Por natureza<br />
entendiam que ela tinha a sua origem em princípios<br />
eternos e imutáveis, fora do próprio homem<br />
e, por isso, invioláveis; por convenção<br />
entendiam que era o resultado de costumes e<br />
tradição, um tipo de “contrato social” entre os<br />
membros do grupo e, por isso, mutável. (Grifos<br />
dos autores)<br />
Desse confronto de idéias, surgiram duas correntes filosóficas<br />
envolvendo o estudo da linguagem: a dos naturalistas (também cha-<br />
mados de analogistas) e a dos convencionalistas (conhecidos também<br />
como anomalistas).<br />
Os naturalistas acreditavam que havia uma relação natural entre<br />
as palavras e os objetos que elas designavam. Para eles, as palavras<br />
eram naturalmente “apropriadas” às entidades por elas referidas.<br />
Assim, as palavras, para essa corrente de pensamento, estariam em<br />
relação direta com a natureza das coisas que designavam; se a pala-<br />
vra ‘morcego’ significa morcego, é por que essa é a referência direta<br />
à própria natureza de morcego, o animal real no mundo real. Essa<br />
naturalidade, no entanto, não era capaz de ser percebida por leigos,<br />
apenas por filósofos. As onomatopéias (que, em grego, significa algo<br />
como “criação de nomes”) eram consideradas núcleos do vocabulá-<br />
rio, a partir das quais as outras palavras se originaram.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
128
Já os convencionalistas acreditavam que a relação entre signifi-<br />
cante e significado, ou melhor, entre palavra e entidade, ou coisa, do<br />
mundo, era meramente convencional. O ato de batismo, de nomea-<br />
ção, assim, não referia, necessariamente, a natureza do objeto nome-<br />
ado, mas era, na verdade, apenas uma designação rígida para aquele<br />
objeto, uma convenção social dos falantes de determinado idioma;<br />
em outras palavras, para os convencionalistas, a palavra ‘morcego’<br />
significa morcego devido a um acordo entre todos os falantes de<br />
português brasileiro, no caso, e não porque o nome ‘morcego’ refere<br />
a real natureza do animal morcego, no mundo real. Essa relação era<br />
arbitrária, estabelecida pelo homem, não havendo, portanto, relação<br />
alguma entre uma palavra e a natureza da coisa que ela designava.<br />
Ao longo da história, a corrente convencionalista provou que a<br />
relação entre as palavras e seus referentes (ou entre significantes e<br />
significados) é mesmo estabelecida por convenção. Uma grande<br />
prova disso são as diferenças vocabulares de cada idioma. Esse as-<br />
sunto já foi extensamente debatido por Saussure. A corrente natura-<br />
lista, por sua vez, serviu de base para estudos sobre a natureza da<br />
cognição humana e sua relação com a linguagem e a competência<br />
semântica dos falantes. Trabalhos como os de Fodor são exemplos de<br />
programas de pesquisa de base naturalista.<br />
2. A obra - Crátilo, de Platão<br />
É nessa discussão entre naturalistas e convencionalistas que se<br />
insere a obra Crátilo, de Platão. Esse texto tem a tradicional estrutura<br />
de diálogo, comum à filosofia grega, e apresenta três personagens:<br />
Crátilo (filósofo que tem uma visão naturalista em relação à lingua-<br />
gem), Hermógenes (que, a princípio, tem uma visão convencionalista<br />
em relação à linguagem) e Sócrates (mentor de Platão e voz da ra-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
129
cionalidade e da sabedoria filosófica no diálogo). Crátilo e Hermó-<br />
genes representam os dois pólos extremos de pensamento; o primei-<br />
ro, naturalista, acredita que os nomes ou são verdadeiros, ou não são<br />
nomes de qualquer tipo – para ele, ou uma palavra é a expressão<br />
perfeita de uma coisa, ou é apenas um som mal articulado; o segun-<br />
do, Hermógenes, acredita que o ato de batismo, de nomeação, é con-<br />
vencional – os nomes dos objetos, assim como os nomes dos<br />
escravos, podem ser dados ou alterados sem problemas. Sócrates, por<br />
sua vez, aparece como a racionalidade, o caminho do meio, a alterna-<br />
tiva criada a partir da junção dessas duas visões opostas.<br />
O diálogo começa com Hermógenes, que pede esclarecimentos<br />
a Sócrates sobre a questão da atribuição de nomes na língua; o discí-<br />
pulo é convencionalista, mas quer que o mestre o ajude a esclarecer<br />
melhor suas idéias, já que Crátilo o estava tentando convencer a res-<br />
peito das idéias naturalistas. Com muita humildade – e alguma iro-<br />
nia –, Sócrates começa sua investigação a respeito da origem e<br />
“justeza” dos nomes. A investigação de Sócrates, diferente do pen-<br />
samento pedagógico atual, não se limita a um mesmo assunto finito e<br />
definido, com começo, meio e fim, mas sim dá vazão à investigação<br />
criativa, partindo de um ponto e procurando a melhor explicação<br />
para o tópico em debate.<br />
Primeiramente, Sócrates assume que a relação entre significante<br />
e significado possa ser naturalista – como afirmara Crátilo a Hermó-<br />
genes. Dentro dessa visão, ele se apóia na etimologia (do grego ety-<br />
mo, “verdadeiro”, e logos, “estudo” ou “ciência”) para buscar a<br />
verdade dos nomes na análise de seus elementos. Assim, ele investi-<br />
ga os nomes de diversos deuses e heróis gregos, justificando cada um<br />
deles a partir de conclusões meramente especulativas – e a partir de<br />
explicações de nomes de deuses e heróis gregos, Sócrates vai justifi-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
130
cando a adequabilidade do nome a cada personagem, coisa ou objeto<br />
nomeado.<br />
Por exemplo, o selvagem Orestes, que deve seu nome a oros<br />
(montanha); ou Agamênon, que tem seu nome – que significa “admi-<br />
rável por sua perseverança” – justificado por ter sido um bravo guer-<br />
reiro diante de Tróia, ou, ainda, a explicação do nome do deus<br />
Apolo, que queria dizer “aquele que acerta sempre o alvo”.<br />
Os nomes, ainda segundo Sócrates, seriam estabelecidos por<br />
uma espécie de legislador de nomes, alguém que conhecesse e traba-<br />
lhasse com a linguagem, assim como o artesão trabalha com peças de<br />
artesanato, ou o lirista com sua música e instrumento (as palavras são<br />
comparadas com trabalhos artísticos, pois podem ser feitas de dife-<br />
rentes materiais e, ainda assim, terão sido bem feitas se tiverem sig-<br />
nificado). O legislador deveria ser auxiliado por um filósofo, ou<br />
poderia ser um filósofo, que lidava e trabalhava com a palavra em<br />
níveis superiores aos leigos, um metanível.<br />
Durante o diálogo, como é comum em diálogos envolvendo Só-<br />
crates, o filósofo grego fica impressionado com o número de desco-<br />
bertas que ele e Hermógenes alcançam acerca da linguagem – em<br />
nenhum de seus diálogos alguém fica mais perplexo com as desco-<br />
bertas de Sócrates do que ele mesmo. Embora seja convencionalista,<br />
Hermógenes se rende à clara e envolvente argumentação de Sócrates<br />
sobre a justeza dos nomes às coisas nomeadas, seres, entidades ou<br />
objetos no mundo e fora dele.<br />
Após refletir sobre os nomes de deuses e heróis da mitologia<br />
grega, Sócrates é indagado a investigar nomes que exprimem concei-<br />
tos abstratos, como beleza, sabedoria, coragem e inteligência. Da<br />
mesma forma que antes, Sócrates expõe sua argumentação a favor do<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
131
naturalismo lingüístico e explica a origem e formação dessas pala-<br />
vras baseado em indagações filosóficas. Para ele, a palavra é espelho<br />
da junção de outras palavras que formam o seu significado. Assim,<br />
por exemplo, uma palavra como filosofia é muito bem aplicada ao<br />
seu referente, pois filos quer dizer amigo e sofia, sabedoria.<br />
Porém, nesse ponto, Sócrates se dá conta de algo: se esses no-<br />
mes derivaram de palavras primitivas que são responsáveis por lhes<br />
atribuírem significado, de onde vieram essas palavras primitivas?<br />
Como elas surgiram e se ajustaram aos objetos e entidades que agora<br />
denotam?<br />
Sócrates busca, então, auxílio nos sons da língua, e explica que<br />
os sons transmitem idéias. Assim, o fone [r] parece próprio para ex-<br />
primir a idéia de movimento, devido às vibrações que causa quando<br />
o produzimos; o [l] exprime uma idéia de “escorregadio”, o [t] e o<br />
[d] parecem ser adequados à idéia de “encadeamento” e “prisão”, etc.<br />
Essa fraca argumentação naturalista – mais adiante sustentada<br />
por Crátilo, na última parte do diálogo – é, no entanto, logo percebi-<br />
da por Sócrates. E, num misto equilibrado entre as duas teorias (natu-<br />
ralista e convencionalista), Sócrates começa a se perguntar se não<br />
existem nomes que não são bem aplicados ao objeto que designam,<br />
já que nem sempre a relação entre nome x ser ou objeto nomeado é<br />
transparente como <strong>jul</strong>gava ser.<br />
Para a aflição de Crátilo, suas teorias sobre a justeza do nome<br />
vão sendo minadas gradativamente através de questionamentos le-<br />
vantados por Sócrates. Para este, há nomes que são bem aplicados às<br />
coisas que referem e há nomes que não o são. Como saber se esse<br />
“autor” original e primitivo dos nomes estabeleceu os nomes com<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
132
conhecimento de causa? Como saber em que ele se fundou para tan-<br />
to? Essas perguntas deixam Crátilo sem respostas sustentáveis.<br />
De acordo com o estudo do Crátilo apresentado em Kahn<br />
(1973), o objetivo de Sócrates não é demonstrar se a linguagem é<br />
natural ou convencional, mas que “o estudo das palavras não é e nem<br />
pode ser de qualquer uso para a descoberta da natureza das coisas”<br />
(tradução nossa), e também que “o estudo dos nomes sugere que<br />
todas as coisas estão em movimento ou em fluxo... De fato, devem<br />
existir objetos fixos e imutáveis (nomeadamente, as Formas) se o<br />
conhecimento e o discurso podem ser possíveis” (tradução nossa).<br />
Assim sendo, se o estudo das palavras não pode ser o estudo para a<br />
descoberta da natureza das coisas, então devem existir estudos sobre<br />
como as coisas funcionam.<br />
As idéias naturalistas, por exemplo, deram vazão a outros tipos<br />
de questionamentos e investigações sobre a linguagem; não sobre a<br />
natureza das palavras e dos nomes em si, mas sobre a competência<br />
dos falantes para a apreensão, aprendizagem e uso das palavras. As<br />
pesquisas sobre a linguagem nas ciências cognitivas foram quem<br />
mais se beneficiaram das idéias naturalistas de que as palavras refe-<br />
rem a própria natureza das coisas que referem. Se a palavra do por-<br />
tuguês brasileiro ‘morcego’ refere o animal morcego, e a palavra do<br />
inglês ‘bat’ também refere o mesmo objeto no mundo, como elas o<br />
fazem, sendo duas palavras de idiomas diferentes? Ambas as pala-<br />
vras, mesmo pertencendo a idiomas diferentes, refletem e referem a<br />
natureza do mesmo objeto?<br />
Programas de pesquisa de base naturalista como, por exemplo, o<br />
de Jerry Fodor, buscam investigar essa questão – não a natureza das<br />
palavras e primitivos semânticos de algum tipo, mas sim como se dá<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
133
a aquisição, a apreensão e o uso das palavras. Para teorias desse tipo,<br />
as palavras, nos diferentes idiomas, não remetem nem referem a na-<br />
tureza das coisas, mas sim referem conceitos, e esses conceitos é que<br />
são interpretados pelo cérebro/mente humanos. Assim, se um falante<br />
qualquer do português brasileiro ouve ou lê a palavra ‘morcego’, seu<br />
cérebro/mente interpreta essa palavra como referindo o conceito de<br />
morcego. Se esse mesmo falante também conhece a língua inglesa e<br />
ouve ou lê a palavra ‘bat’, seu cérebro/mente interpreta essa palavra<br />
da mesma maneira que interpretou a palavra ‘morcego’, referindo o<br />
mesmo conceito. Enquanto as palavras nos diferentes idiomas são<br />
arbitrárias, convencionais, os conceitos a que essas diferentes pala-<br />
vras remetem não o são.<br />
Através desse diálogo, Platão antecipa idéias levantadas séculos<br />
mais tarde, com Ferdinand de Saussure. Ou seja, Platão percebeu a<br />
riqueza e complexidade da linguagem e, de certa forma, propôs que a<br />
língua fosse objeto de estudo. Além disso, o filósofo antecipou a<br />
idéia proposta por Saussure da arbitrariedade absoluta e da arbitra-<br />
riedade relativa do signo lingüístico. Através de sua investigação<br />
filosófica, ele percebeu que muitos nomes são motivados por outros<br />
mais primitivos, como Agamênon, filosofia e outros nomes compos-<br />
tos de bases primitivas.<br />
Outras palavras (a imensa maioria das palavras), no entanto, não<br />
são motivadas; são arbitrárias. Esse seria o caso das palavras primiti-<br />
vas, que foram criadas arbitrariamente e serviram de base para a<br />
criação de palavras novas, por exemplo. Isso já afirmava Platão na<br />
voz de Sócrates e pode ser visto em Saussure (1997: 152):<br />
apenas uma parte dos signos é absolutamente<br />
arbitrária; em outras, intervém um fenômeno<br />
que permite reconhecer graus sem suprimi-lo: o<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
134
signo pode ser relativamente motivado. (...)<br />
Não existe língua em que nada seja motivado;<br />
quanto a conceber uma em que tudo o fosse, isso<br />
seria impossível por definição. (Grifos do<br />
autor)<br />
Entre naturalistas e convencionalistas, Platão à sua época já<br />
propunha idéias avançadas sobre a linguagem e a arbitrariedade do<br />
signo lingüístico. Sempre através do método filosófico-investigativo,<br />
ele conseguiu refletir de maneira ponderada, unindo as duas tão o-<br />
postas teorias de uma forma sábia e comedida que, muito mais tarde,<br />
foram também revistas por aquele que hoje é considerado o pai da<br />
Lingüística Moderna.<br />
Referências Bibliográficas<br />
BACK, Sebald; HECKLER, Evaldo. Curso de lingüística 1. São<br />
Leopoldo: UNISINOS, 1988.<br />
COSTA, Jorge Campos. A arbritariedade do signo lingüístico.<br />
Enfoque, v. 02, 1973.<br />
FODOR, Jerry. Psychological explanation. Random House, 1968.<br />
------. The psychology of language. New York: McGraw Hill, 1974.<br />
------. The language of Thought. Cambridge: Harvard University<br />
Press, 1975.<br />
------. Representations. Essays on the foundations of cognitive science.<br />
Massachusetts: MIT Press, 1979.<br />
------. The modularity of mind: an essay on faculty psychology. Massachusetts:<br />
MIT Press, 1983.<br />
------. Psychosemantics. The problem of meaning in the philosophy of<br />
mind. Massachusetts: MIT Press, 1987.<br />
------. A theory of content and other essays. Massachusetts: MIT<br />
Press, 1990.<br />
------. “The Elm and the Expert, Mentalese and Its Semantics”. In:<br />
The 1993 Jean Nicod Lectures. Massachussets: MIT Press,<br />
1994.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
135
------. “Concepts; Where Cognitive Science Went Wrong”. In: The<br />
1996 John Locke Lectures. Oxford: Oxford University Press,<br />
1998a.<br />
------. In critical condition. Massachussets: MIT Press, 1998b.<br />
------. The mind doesn’t work that way - the scope and limits of computational<br />
psychology. Massachussets: MIT Press, 2000.<br />
------; KATZ, Jerrold. (eds.) The structure of language. London:<br />
Prentice Hall, 1964.<br />
------; LEPORE, Ernest. Holism: A shopper's guide. Malden: Blackwell,<br />
1992.<br />
------; LEPORE, Ernest. (eds.). “Holism: A Consumer Update”. In:<br />
Grazer Philosophische Studien, vol 46. Amsterdam: Rodopi,<br />
1993.<br />
KAHN, Charles. “Language and ontology in the Cratylus”. In: LEE,<br />
Edward N.; MOURELATOS, Alexander; e RORTY, Richard.<br />
(eds.). Exegesis and argument: studies in Greek philosophy<br />
presented to Gregory Vlastos. Assen: Van Gorcum 1973.<br />
PLATÃO. Crátilo. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1994.<br />
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingüística geral. São Paulo:<br />
Cultrix, 1997 [1916].<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
136
Uma casa para um discurso<br />
contemporâneo em Portugal<br />
Jurema José de Oliveira – UERJ<br />
Este é o lugar, o tempo. Aqui se cumprem os<br />
signos dos zodíacos humanos e perplexos. Esta<br />
é a morada, a única definitiva residência dos<br />
gestos perdidos no espaço da memória<br />
(MARTINS, 1990: 154).<br />
“Ler” um país é antes de qualquer coisa descobri-lo<br />
através do corpo e da memória, segundo<br />
a memória do corpo. Penso que é esse vestíbulo<br />
do saber e da análise que está destinado o escritor:<br />
mais consciente dos próprios interstícios<br />
da competência. E por isso que a infância é a<br />
via real para através dela conhecermos um país<br />
da melhor maneira. No fundo, só há País se for<br />
o da infância (BARTHES, 1987: 18).<br />
O objetivo deste trabalho é verificar a construção da casa na nar-<br />
rativa O Mosteiro de Agustina Bessa Luís (1980); sendo assim, ten-<br />
taremos, no decorrer da análise, detectar de que maneira o espaço do<br />
discurso contemporâneo português vai sendo construído. A obra em<br />
questão divide-se em cinco partes: “Belchior”, “O Viveiro”, “Os<br />
Doidos”, “A Sedução” e “O Medo”, sendo esta última a obra sebásti-<br />
ca, ou melhor, a narração de um ensaio escrito pelo personagem-<br />
narrador Belchior sobre D.Sebastião:<br />
Concluída as obras do mosteiro, restava-lhe<br />
dar-lhe uma aplicação conveniente, e durante<br />
alguns anos arrastou-se o caso. Ora o achavam<br />
próprio para uma escola agrícola, com a sua<br />
parte de terras muradas, ora viam ali um recinto<br />
ideal para uma colónia penal. Por fim, foi decidido<br />
conceder o mosteiro ao Ministério da<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
137
Saúde, que instalou no grande edifício restaurado<br />
um asilo de doidos (OM. p.111).<br />
A casa-nação vai pontuando, pouco a pouco, toda a narrativa,<br />
até atingir o ápice de sua razão de ser, transformando-se num asilo de<br />
loucos. O novo espaço, o asilo, apresenta leis hierárquicas que são<br />
seguidas pelos membros da casa; estas normas instauradas pelos<br />
integrantes do lugar caracterizam-no como uma casa-nação, regida<br />
por princípios rígidos e pré-estabelecidos. Apesar do diagnóstico<br />
que os loucos já receberam, o comportamento destes tem uma coe-<br />
rência tal, capaz de gerar uma reflexão sobre os parâmetros norteado-<br />
res das fronteiras entre loucura e sanidade.<br />
A voz da narrativa vai instaurando, pouco a pouco, no texto, a<br />
polêmica entre sanidade e loucura, à medida que retrata os atos e<br />
feitos dos integrantes daquela casa-nação. A resistência em permane-<br />
cer no passado, traço marcante no comportamento dos loucos, que se<br />
identificam com figuras históricas, traz à tona uma atitude coletiva,<br />
social, em que todo o povo português, movido por uma espécie de<br />
idéia fixa, estaria envolvido:<br />
(...) o jogo prodigioso da ilusão e da desilusão,<br />
era do que se tratava. (...) Belche pensava que<br />
D.Sebastião procurou uma saída sem aceitar a<br />
evidência. A evidência era a sua realidade pessoal,<br />
corpo invencível e robusto e alma feminina<br />
(...). Em Portugal de 1578 e em Portugal de<br />
1974 tratava-se de admitir uma frustração histórica,<br />
de aprender uma desilusão (OM. p.161-2).<br />
Sendo assim, “um programa de escrita engloba o seu valor<br />
pragmático, de uma enunciação que se situa na passagem do pessoal<br />
ao colectivo e ao singular” (PIRES, 1977: 19). Passagem esta que<br />
permite ao escritor deixar de lado o conflito antagônico, aceitando<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
138
uma experiência nova que lhe garante ser interlocutor, viajante, es-<br />
pectador, e encontrar na abertura histórica a fenda deixada pelo dis-<br />
curso oficial, pronta para ser preenchida, metaforicamente falando,<br />
pela escrita ficcional.<br />
I. A casa das Teixeiras ou a casa de Avis<br />
No capítulo “A Sedução”, o narrador nos mostra, num discurso<br />
reflexivo e crítico, a casa das Teixeiras, chamando-a de viveiro. Sem<br />
dúvida, era bastante curioso aquele tratamento parental, podendo-se<br />
afirmar que o laço ímpar, “a fidelidade entre as casas de São Salva-<br />
dor” (OM. p.178).<br />
Neste retrato social das casas portuguesas, traçado por Agustina<br />
Bessa Luís, fica claro para o leitor um espaço feminino envelhecido,<br />
magoado, que renega o outro, o masculino, tanto que num longo<br />
trecho deste mesmo capítulo, “A Sedução”, o personagem Belchior<br />
voa à vontade por entre a Itália e Flandres, e percebe, num momento<br />
único, que “estava longe dela, longe das suas graciosas tias que se<br />
convertiam em caricatas senhoras” (OM. p.177).<br />
O viveiro era como chamava Salvador à casa.<br />
Nela esvoaçavam as mulheres, com os seus caprichos<br />
e sacrifícios, a sua impertinência face à<br />
realidade que elas desprestigiavam, porque era<br />
quase sempre uma lei; um estorvo, uma certeza<br />
(OM. p.60).<br />
A casa de Avis é um símbolo histórico, que marcou a conquista<br />
do mar tenebroso e a passagem catastrófica de uma “pátria que fugira<br />
da terra para a região aérea da poesia e dos mitos” (MARTINS,<br />
1977: 360-1), já que o grande condutor desse barco, D. Sebastião,<br />
morrera numa batalha em Alcácer-Quibir, deixando, metaforicamen-<br />
te falando, a casa de Avis em mãos femininas, logo a composição<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
139
deste lugar denunciava um erro contínuo, desnudado pela reflexão<br />
das mesmas; sendo assim, restava-lhes permanecerem “intactas e<br />
reconciliadas com o espírito teatral da soberania (OM. p.174), que<br />
outrora glorificou a nação portuguesa. Para elas tudo era orgulho,<br />
mesmo o sofrimento e a piedade:<br />
II. Uma casa em construção<br />
Estava no auge do seu processo criador e as<br />
mulheres da casa de Avis esperavam que ele, as<br />
auscultasse como um clínico no seu dispensário.<br />
Grávidas, estéreis ou com ligeiro bócio, elas<br />
mostravam-se tão orgulhosas como a<br />
Bárbara Atalia (OM. p.174).<br />
(...) quando vinha passar escassos dias à casa de<br />
nascimento do pai, Belchior tremia pela prova<br />
que isso representava. Demasiadas mulheres<br />
num recinto habitado pelas suas forças e lidas<br />
várias. Não mulheres fúteis e madraças, mas<br />
sim possuídas duma avi<strong>dez</strong> de afirmação e de<br />
posse e em que o homem, como imagem concreta<br />
do prazer, era excluído; para ser só invejado,<br />
de maneira dissimulada até na forma<br />
lutuosa do respeito, na vida, ou na morte (OM.<br />
p.9).<br />
O romance relê, por uma ótica feminina, a sociedade portugue-<br />
sa, já que no tempo das grandes navegações foram as mulheres as<br />
excluídas das viagens marítimas. N’Os Lusíadas, canto lV – 90/91,<br />
as mães, irmãs e esposas choram na praia do Restelo ao se despedi-<br />
rem de soldados e marinheiros.<br />
Qual vai dizendo: “ó filho, a quem eu tinha Só<br />
pera refrigério e doce emparo<br />
Desta cansada já velhice minha,<br />
Que em choro acabará, penoso e amaro,<br />
Porque me deixas, mísera e mesquinha?<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
140
Porque de mi te vas, ó filho caro,<br />
A fazer o funéreo enterramento<br />
Onde sejas de pexes mantimentos?” (CA-<br />
MÕES, Canto IV-90).<br />
Qual vai dizendo: “ó doce e amado esposo,<br />
Sem quem não quis Amor que viver possa,<br />
Porque is aventurar ao mar iroso<br />
Essa vida que é minha e não é vossa?<br />
Como, por um caminho duvidoso,<br />
Vos esquece a afeição tão doce nossa?<br />
Nosso amor, nosso vão contentamento,<br />
Quereis que com as velas leve o vento? ” (CA-<br />
MÕES, Canto IV-91).<br />
O Mosteiro reconstrói a casa do discurso contemporâneo a partir<br />
da desconstrução da casa portuguesa, fundada pela História Oficial<br />
de um povo iniciador dos descobrimentos de terras de além-mar.<br />
Agustina Bessa Luís recorre a duas fontes: Os Lusíadas e a Revolu-<br />
ção dos Cravos, o dia principal.<br />
Colocamos a seguir uma citação de Jorge Fernandes da Silveira,<br />
que sabemos muito longa, mas transcrevemos integralmente, por ser<br />
fundamental para a idéia que desenvolvemos:<br />
(...) o diálogo com os textos antigos é na verdade<br />
uma das características fundamentais de uma<br />
prática discursiva que pretende conciliar especificidade<br />
de uma linguagem nova e intervenção<br />
social. Por outras palavras: há nesses livros a<br />
consciência de que o conhecimento do tempo<br />
presente leva necessariamente à releitura do<br />
processo histórico, e de que as Letras desempenham<br />
importante papel nesse recuo em direção<br />
ao futuro. Ler e escrever são, portanto, práticas<br />
revolucionárias e o autor, ao identificar-se leitor<br />
de textos formadores de uma cultura comum,<br />
configura a narrativa como possibilidade de<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
141
pensar a relação do sujeito com a História e a<br />
tentativa de responder às suas contradições.<br />
Isto posto, não estou a falar de ‘influências’,<br />
mas sim da circulação de linguagens num conjunto<br />
contraditório de formas discursivas, em<br />
que o Autor é a um tempo protagonista e espectador<br />
da sua própria criação (SILVEIRA, 1995:<br />
126-7).<br />
N’O Mosteiro, constata-se, nas cabeças brancas das Teixeiras,<br />
as marcas do sacrifício, da violência e dos longos dias de espera pe-<br />
los retornados. Agustina Bessa Luís apresenta-nos um retrato de<br />
mulheres que tiveram, desde os primórdios da sociedade portuguesa,<br />
até o 25 de abril de 1974, o seu ser desrespeitado em prol de um dis-<br />
curso de varões, de homens das grandes batalhas.<br />
O romance em questão desfaz a alma varonil que, dilematica-<br />
mente, situa-se entre uma História que se queria contínua e a descon-<br />
tinuidade provocada pela Revolução dos Cravos.<br />
Diferente de Matilde, que só comia pão de trigo<br />
e às furtadelas, escondendo na mão a talhada<br />
duma maneira furtiva, como se a tivesse por<br />
imerecida ou se precavesse contra a cobiça;<br />
gesto também imemorial, vindo de tempos de<br />
perseguição e denúncia. (...) sempre comia a<br />
horas desencontradas, no quarto, num canto da<br />
mesa e sem toalha posta (...) pronta a sumir-se<br />
por uma porta próxima (...). Memória de tempos<br />
extraordinariamente vividos em alerta, em<br />
suspeita, que tornavam o olhar penetrante, o<br />
punho fechado debaixo do avental, um estranho<br />
curvar dos ombros, como se eles levassem em<br />
cima a mochila do fugitivo pelos caminhos do<br />
exílio (OM. p. 13-4).<br />
Segundo Eduardo Lourenço, o laço próprio que une o escritor,<br />
enquanto tal, à sua Pátria, é a escrita, a problematização dessas rela-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
142
ções é antes de tudo problematização da escrita (LOURENÇO, 1988:<br />
80-1). O Vinte e Cinco de abril torna-se para os prosadores um rico<br />
material de análise, transformador do trabalho artístico e crítico.<br />
III. Belchior: a voz da reescritura<br />
“Era um menino de bom natural que teve em<br />
sorte uma alma boa”. Como Salomão, o rei, ele<br />
queria merecer a sabedoria; mas a sua alma já<br />
não lhe parecia boa, mas sim corrompida, porque<br />
era inclinada a demasiadas investigações,<br />
como prazeres sinuosos e inesgotáveis (OM.<br />
p.53).<br />
A figura de Belchior nos é apresentada como o laço possível en-<br />
tre a narrativa passada e sua proposta discursiva de um presente que<br />
oscila entre uma História reconhecida pelos mais velhos, e aquela<br />
que este deseja registrar com a feitura de seu livro. Sendo assim, a<br />
personagem busca nas falas das tias Teixeiras os elementos essenci-<br />
ais, uma sabedoria, metaforicamente falando, de cunho celestial.<br />
Segundo José Cardoso Pires, a partir do 25 de Abril o escritor<br />
não era mais:<br />
(...) o animal à margem ou o ornamento tolerado<br />
que uma Política dita de Espírito pretendera<br />
estrangular durante meio século. De todas as<br />
áreas culturais, a literatura tinha sido a mais segregada<br />
pelo ódio fascista, agora dispunha de<br />
voz total, a que quisesse. E participava, recebia<br />
incentivos, apelos vários à intervenção (PIRES,<br />
1977: 274).<br />
Desta forma, “um livro não repete as coisas como elas são; ser-<br />
ve para indicar o caminho do seu esclarecimento” (SANTIAGO,<br />
1985: 171):<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
143
(...) só o filho de Basílio chegou a doutor, (...)<br />
com aquele legado de enciclopédias e tratados<br />
médico-cirúrgicos. (...) Belchior lia a descrição<br />
das doenças como outros tantos mistérios de<br />
senalho, com os seus prenúncios, desejos, apaziguamentos<br />
e consumação. A morte era aquilo,<br />
o amor era aquilo: a febre, o tumor, o espasmo,<br />
o medo. Um dia, tia Assunta, viu-o no canto do<br />
salão, meio encoberto pela sombra da estante<br />
aberta de par em par, esventrada dos seus livros<br />
perigosos (OM. p.35).<br />
Na fala do narrador, constata-se que a ilusão e a desilusão eram<br />
uma evidência. Estas marcas trazem à tona o verdadeiro rosto da<br />
sociedade. Comprova-se isto no recurso narrativo da escritora, que,<br />
utilizando-se de dois momentos paradigmáticos da História de Portu-<br />
gal – a morte de D. Sebastião em Alcácer-Quibir e a Revolução dos<br />
Cravos – busca esclarecer uma realidade ocultada por um vislumbre<br />
de glória. Neste processo hipnótico coletivo, encontram-se os doidos<br />
do mosteiro a provar a necessidade da representação para o funcio-<br />
namento da sociedade portuguesa:<br />
(...) No mosteiro Belche encontrava, de maneira<br />
mais linear, todo o problema da hominização.<br />
Havia nos doidos essa necessidade de compos ição<br />
de um personagem, acesso a uma cultura<br />
em sincronia com a História (OM. p.153).<br />
A presença do mosteiro na narrativa é altamente importante para<br />
uma reflexão acerca da identidade portuguesa na atualidade, já que<br />
os loucos da casa-nação, o asilo, se apresentam como personagens<br />
históricos. Paradoxalmente, na memória portuguesa a espera pelo<br />
“encoberto”, ou melhor, D. Sebastião, fazia parte do universo dos<br />
ditos “normais”.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
144
A última parte do texto, “o medo”, é aquela em que a obra escri-<br />
ta por Belchior ganha destaque, tendo em vista que nos quatro capí-<br />
tulos precedentes a feitura do livro sebástico foi apenas mencionada.<br />
Nesta parte do romance, o mesmo toma corpo, e assume lugar no<br />
nível narrativo do texto maior, O mosteiro. Belchior fora, até a quarta<br />
parte do romance, personagem, mas no quinto, e último capítulo,<br />
tornara-se narrador. Com a mudança no foco narrativo, passamos,<br />
então, a ser guiados por uma voz em primeira pessoa.<br />
O par loucura/sanidade, explorado por Agustina Bessa Luís em<br />
O mosteiro, traz à tona um assunto discutido exaustivamente na atua-<br />
lidade: o simulacro. Os caminhos da simulação, tão constante na<br />
sociedade, tornam quase impossível a distinção entre essência e apa-<br />
rência, diferenciação fundamental para o conhecimento dos sintomas<br />
que afligem a memória social de um povo:<br />
V. Conclusão<br />
Mas todos eles, (...) conheciam aquele estado<br />
falso da loucura e tinham contacto com uma realidade<br />
desenvolvida no interior da própria cultura;<br />
(...). A loucura era outra simulação; a mais<br />
radical, decerto, e Belche tinha a certeza que<br />
todos os povos caminhavam para ela ou a escolhiam<br />
voluntariamente (OM. p.153).<br />
“o observador intervém para modificar de alguma<br />
forma o fenômeno observado”<br />
(CALVINO, 1990: 121-3).<br />
Segundo Kristeva, o estrangeiro habita em nós; ele é a face o-<br />
culta da nossa identidade, o espaço que arruína a nossa morada, o<br />
tempo em que se afundam o entendimento e a simpatia (KRISTEVA,<br />
1994: 9).<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
145
Esta categorização de estrangeiro torna o “nós” precisamente<br />
problemático, já que o estrangeirismo começa quando o “eu’ percebe<br />
sua diferença, e se desfaz no momento que admitimos ser estrangei-<br />
rados, “rebeldes aos vínculos e às comunidades” (KRISTEVA, 1994:<br />
9).<br />
O personagem Belchior reúne em si os traços visíveis do estran-<br />
geirado em seu próprio país. Belchior representa a figura que recusa<br />
os princípios reconhecidos pelo grupo, inverte, ou melhor, renega os<br />
fatos históricos ditos verdadeiros em defesa da sua diferença, não<br />
somente nacional (quando se propõe escrever um livro que dará um<br />
novo perfil ao mito sebastianista), e étnica, mas essencialmente sub-<br />
jetiva e irredutível.<br />
O discurso feminino é a mola mestra, por meio da qual Belchior<br />
constrói e desenvolve uma temática intrínseca ao texto maior, o ro-<br />
mance propriamente dito. As cinco irmãs são, ao longo da obra, a<br />
voz do outro, acuado, silenciado durante anos e anos numa sociedade<br />
patriarcal.<br />
Uma narrativa de mulheres retrata, dentre outras coisas, um tra-<br />
ço marcante no chamado estrangeirado, ser o outro. Sem dúvida, foi<br />
com a subversão do individualismo excessivo, a partir do momento<br />
em que o cidadão-indivíduo cessou de se considerar único e glorioso<br />
para descobrir as suas incoerências e os seus abismos, isto é, as suas<br />
estranhezas, que o estrangeirismo veio à tona. Adormecido no seio<br />
da comunidade, desponta e revela-se na narrativa contemporânea,<br />
nas linhas e entrelinhas discursivas que tentam delinear um novo<br />
perfil da sociedade portuguesa.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
146
Referências Bibliográficas<br />
BARTHES, Roland. Incidentes. Lisboa: Quetzal, 1987.<br />
CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo:<br />
Companhia das Letras, 1990.<br />
CAMÕES, Luís de. Os lusíadas. 5 ed., Porto: Porto Editora Limitada,<br />
s/d.<br />
ECO, Humberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo:<br />
Companhia das Letras, 2002.<br />
LEPECKI, Maria Lúcia. O romance português contemporâneo na<br />
busca da história e da historicidade. Le Roman Portugais Contemporain.<br />
Paris: Fondation Calouste Gulbenkian/Centre Cultural<br />
Portugais, 1984.<br />
LOPES, Silviana Rodrigues. A alegria da comunicação. Lisboa:<br />
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, s/d.<br />
LOURENÇO, Eduardo. Labirinto da saudade. Lisboa: Publicações<br />
Dom Quixote, 1988.<br />
LUÍS, Agustina Bessa. O mosteiro. 3 ed. Lisboa: Guimarães & C. a<br />
Editores, 1984.<br />
MARTINS, Albano. Vocação do silêncio. Lisboa: Biblioteca de<br />
Autores Portugueses, 1990.<br />
MARTINS, Oliveira. História de Portugal. Lisboa: Guimarães & C. a<br />
Editores, 1977.<br />
PIRES, José Cardoso. E agora José? Lisboa: Moraes Editores, 1977.<br />
SANTIAGO, Silviano. Em liberdade. 3 ed. Rio de Janeiro: Paz e<br />
Terra, 1985.<br />
SILVEIRA, Jorge Fernandes da. In: Concurso para professor titular<br />
de literatura portuguesa. Rio de Janeiro: Comprovação de Títulos<br />
- V.4, 1995, mimeo, UFRJ.<br />
SOARES, Tatiana Alves. Da recriação ao desvendamento a<br />
(des)construção do mito em Augustina Bessa Luís. Universidade<br />
Federal Rio de Janeiro, 1993, 2<strong>06</strong> fls. mimeo.<br />
KRISTEVA, Julia. Estrangeiros para nós mesmos. Rio de Janeiro:<br />
Rocco, 1994.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
147
A haplologia morfológica das formas X-ção:<br />
enfoque diacrônico e representação<br />
morfo-prosódica<br />
Introdução<br />
Carlos Alexandre Gonçalves – UFRJ / CNPq<br />
Luciana de Almeida Silva – UFRJ<br />
Neste artigo, analisamos o fenômeno da haplologia morfológica<br />
(queda de sílabas em fronteira de morfemas) das construções X-ção<br />
com os instrumentos da Morfologia Prosódica (McCarthy, 1986),<br />
que incorpora à descrição morfológica aspectos da fonologia não-<br />
linear.<br />
No processo de formação de palavras X-ção, sílabas que apre-<br />
sentam uma coronal como último onset da forma de base tendem a<br />
sofrer o processo, como se observa em ‘concessão’ e ‘expu lsão’,<br />
haplologias de ‘conceder’ e ‘expulsar’, que resultam do contato do<br />
onset coronal da base com o onset coronal do sufixo nominalizador.<br />
No artigo, defendemos, com base na Geometria de Traços (cf.<br />
Clements & Hume, 1995), que a adjacência do traço [coronal] é evi-<br />
tada nas formações em análise quando segmentos coronais se encon-<br />
tram em fronteira de pés. Para tanto, recorremos à Fonologia Métrica<br />
(cf. Hayes, 1991) para representar o fenômeno.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
148
A natureza da haplologia<br />
A haplologia constitui processo fonológico que se caracteriza<br />
pela supressão de uma sílaba em fronteira de palavras ou de morfe-<br />
mas, sendo, por isso mesmo, um típico fenômeno de interface da<br />
fonologia: ou com a morfologia ou com a sintaxe. Acontece haplolo-<br />
gia quando sílabas em fronteira ficam adjacentes e apresentam iden-<br />
tidade de traços, como se vê no exemplo a seguir:<br />
(01)<br />
Em (01), os onsets e os núcleos das sílabas 3 e 4 – formadas da<br />
direita para a esquerda – são idênticos e, por isso mesmo, tendem a<br />
se fundir, figurando, no nível fonético, somente uma das sílabas. Há,<br />
portanto, perda de uma sílaba ([dzi]) na fronteira das palavras ‘facul-<br />
dade’ e ‘de’, resultando na forma “faculdade letras”. Outros exem-<br />
plos de haplologias sintáticas são “lei(te) de cabra”, “merca(do) de<br />
trabalho” e “peda(ço) de pão”.<br />
“fa.cul.da. de . de .le.tras”<br />
s4 s3<br />
A haplologia se manifesta, em português, também no nível da<br />
palavra, embora casos desse tipo sejam bem menos freqüentes que os<br />
encontrados na sintaxe. Segundo Faria (1970: 266), o fenômeno<br />
“consiste na supressão de uma sílaba, quando, na mesma palavra,<br />
duas próximas começam pela mesma consoante ou quando a vogal,<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
149
centro da sílaba, está fechada por duas consoantes idênticas”. Nas<br />
formações X-oso e X-ção, o processo de derivação pode resultar em<br />
formas haplologizadas, como se vê nos exemplos em (02):<br />
(02)<br />
bondade + oso > *bondadoso > bondoso<br />
maldade + oso > *maldadoso > maldoso<br />
suspende + ção > *suspende/s/ão > suspensão<br />
Como se vê em (02), o processo de derivação por sufixaç ão de-<br />
veria promover o acréscimo de uma sílaba à palavra derivante. Entre-<br />
tanto, os sufixos, ao serem anexados às formas de base, levam ao<br />
apagamento de segmentos fônicos devido à igualdade de traços nas<br />
fronteiras das formas combinadas. Com isso, derivado e derivante<br />
apresentam o mesmo número de sílabas e a mesma estrutura métrica.<br />
Os exemplos de (02) ilustram o que chamamos de haplologia<br />
morfológica: a deleção de sílabas é determinada pela interação dos<br />
componentes fonológico e morfológico, haja vista que o acréscimo<br />
de afixos pode deixar adjacente uma seqüência de segmentos idênti-<br />
cos ou foneticamente muito próximos.<br />
Embora em menor freqüência, outras formações morfológicas<br />
favorecem a atuação da haplologia. Esse fato pode ser percebido<br />
através dos exemplos a seguir:<br />
(03)<br />
Candura: [Por *candidura < cândido + -ura]<br />
Catalografia: [De catálogo + -grafia]<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
150
Dedurar: [De dedo-durar]<br />
Esplendíssimo: [De esplêndido + íssimo]<br />
Etário: [Do port. *etatário < lat. aetate, 'idade',<br />
+ -ário]<br />
Gratuidade: [De gratuito + -(i)dade]<br />
Idólatra: [De idololatra]<br />
Minhocultura: [De minhoca + -cultura]<br />
Semínima: [De semi- + mínima]<br />
Tragicômico: [De trági(co) + cômico]<br />
Volumetria: [De volume + -metria]<br />
Neste artigo, limitamo-nos à análise da haplologia resultante da<br />
combinação de uma base verbal com -ção, sufixo nominalizador,<br />
como exemplificado na terceira linha de (02) e mais fartamente em<br />
(04), a seguir:<br />
(04)<br />
admiti + ção > *admiti/s/ão > admissão<br />
converte + ção > *converte/s/ao > conversão<br />
satisfaze + ção > *satisfaze/s/ão > satisfação<br />
produzi + ção > *produzi/s/ão > produção<br />
ascende + ção > *ascende/s/ao > ascensão<br />
aludi + ção > * aludi/s/ão > alusão<br />
protege + ção > *protege/s/ão > proteção<br />
corroe + ção > *corroe/s/ao > corrosão<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
151
exclui + ção > *exclui/s/ão > exclusão<br />
A haplologia como fenômeno histórico<br />
A haplologia morfológica é um fenômeno que remonta ao latim<br />
e foi muito freqüente na evolução para o português. Verificam-se<br />
casos de haplologia morfológica em vocábulos latinos, como os e-<br />
xemplificados em (05):<br />
(05)<br />
*honestitas > honestas<br />
*societitas > societas<br />
*fastitidium > fastidium<br />
A haplologia dos nomes deverbais X-ção pode ser explicada<br />
historicamente e, por isso, acreditamos que o fenômeno não seja<br />
produtivo na língua portuguesa contemporânea. Para demonstrar que<br />
a estrutura haplológica dos substantivos deverbais em português<br />
constitui fenômeno histórico, convém explicitar alguns dados diacrô-<br />
nicos acerca de sua origem.<br />
Em latim, as formas verbais são apresentadas nos dicionários a-<br />
través do que denominamos formas primitivas dos verbos que, por<br />
sua vez, são dispostas do seguinte modo, tomando por base a forma<br />
latina referente ao verbo português ‘aludir’: alludo, alludis, alludere,<br />
allusi, allusum. A primeira corresponde à 1ª pessoa do singular do<br />
presente do indicativo; a segunda, à 2ª pessoa do singular do presente<br />
do indicativo; a terceira, ao infinitivo presente ativo; a quarta, à 1ª<br />
pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo; e a quinta cor-<br />
responde ao supino.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
152
Os verbos e os substantivos deverbais em português foram ori-<br />
ginados de diferentes formas latinas. Um exemplo disso é o infinitivo<br />
do português, que corresponde ao infinitivo do latim. Logo, a forma<br />
latina alludere, que possui o radical de infectum, após sofrer mudan-<br />
ças fonológicas, passa a ‘aludir’ (português). Já os substantivos de-<br />
verbais latinos foram desenvolvidos a partir das formas menos<br />
verbais – os particípios passados – que, por sua vez, originaram-se<br />
do supino. Em outras palavras, o particípio de alludere é allusus, -a,<br />
-um, que possui o radical do supino allus-. Dessa maneira, o substan-<br />
tivo formado é allusio, allusionis. Portanto, as formas deverbais com<br />
sufixo -ção que iremos analisar neste trabalho evoluíram a partir<br />
desses substantivos latinos e o infinitivo, por outro lado, foi origina-<br />
do de uma forma que já apresentava um radical distinto, o de infec-<br />
tum.<br />
É possível tecer essas afirmações com base na cuidadosa análise<br />
feita da etimologia dos verbos e nomes em questão. Esse rastreamen-<br />
to foi feito objetivando esclarecer a breve relação entre verbo e sub s-<br />
tantivo deverbal descrita no Dicionário Etimológico da Língua<br />
Portuguesa (CUNHA, 1986).<br />
Em todos os exemplos de (<strong>06</strong>), a seguir, as formas infinitivas<br />
provêm dos radicais de infectum, enquanto as construções nominali-<br />
zadas X-ção advêm das antigas formas de supino. Como se vê, nome<br />
e verbo evoluíram de étimos diferentes. No entanto, acreditamos,<br />
numa fase histórica mais pretérita provavelmente os nomes deverbais<br />
tenham sofrido um processo fonológico de abrandamento de traços.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
153
(<strong>06</strong>)<br />
inserir inserção<br />
inserere insertio, -onis (part. pass. insertus, -a, -um)<br />
suprimir supressão<br />
supprimere suppressio, -onis (part. pass. suppressus,-a,-um)<br />
conceber concepção<br />
concipere conceptio, -onis (part. pass. conceptus, -a, -um)<br />
permitir permissão<br />
permittere permissio, -onis (part. pass. permissus, -a, -um)<br />
aspergir asperção<br />
aspengere aspersio, -onis (part. pass. aspersus, -a, -um)<br />
concluir conclusão<br />
concludere conclusio, -onis (part. pass. conclusus, -a, -um)<br />
Nas formações em análise, a menor identidade fonética entre o<br />
verbo e o nome correspondente tem, portanto, motivação histórica.<br />
No entanto, a atual situação de pares verbo/nome do tipo suspen-<br />
der/suspensão pode ser satisfatoriamente descrita, assumindo-se a<br />
existência de uma haplologia morfológica motivada por propriedades<br />
articulatórias da consoante que inicia o sufixo de nominalização.<br />
Nesse caso, cabe identificar e analisar os contextos que favorecem ou<br />
bloqueiam a ocorrência do fenômeno. Para descrever a haplologia<br />
morfológica dos nomes deverbais X-ção, utilizamos um corpus cons-<br />
tituído de cerca de 200 formações com perda segmental. Os dados<br />
foram rastreados a partir dos dicionários eletrônicos Aurélio<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
154
(HOLLANDA, 1999) e Houaiss (HOUAISS, 2001), através de busca<br />
pelas terminações “são”, “cão” e “ssão”.<br />
O comportamento das formas X-ção com haplologia<br />
Nas formações rastreadas, sílabas que apresentam uma coronal<br />
(som produzido na parte anterior frontal da língua) como último on-<br />
set da forma de base tendem a sofrer o processo, como se observa em<br />
‘concessão’ e ‘emissão’, haplologias de ‘conceder’ e ‘emitir’, que<br />
resultam do contato do onset e do núcleo coronais da base com o<br />
onset coronal do sufixo nominalizador – uma fricativa alveolar (/s/).<br />
Isso pode ser observado através do esquema apresentado a seguir, em<br />
(07), para /conceder + /s/ão/ > *conce(de)/s/ão > conce/s/ão e /emitir<br />
+ /s/ão/ > *emi(ti)/s/ão > emi/s/ão.<br />
(07)<br />
No processo de formação de nomes deverbais X-ção, a variável<br />
lexical que caracteriza a base, nos termos de Villalva (2000), é o<br />
tema do verbo, ou seja, o sufixo -ção é anexado à forma verbal que<br />
contém o radical e a vogal temática. Por exemplo, em “neutralizar”,<br />
o verbo, cujo tema é “neutraliza”, aparece maximamente representa-<br />
do na estrutura morfológica do substantivo “neutralização”.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
155
Nos casos aqui analisados, o contato da última sílaba do tema<br />
verbal (justamente aquela em que aparece a vogal temática) com o<br />
sufixo nominalizador, ambos com traço coronal, provoca o apaga-<br />
mento dos elementos coronais da base, havendo, em decorrência, o<br />
não-aproveitamento do tema: a forma verbal não está maximamente<br />
representada na estrutura morfológica do nome porque a sílaba final<br />
do verbo não se realiza foneticamente.<br />
A haplologia dos nomes deverbais em -ção é um processo que<br />
afeta principalmente substantivos que derivam de verbos de 2ª e 3ª<br />
conjugações, como, por exemplo, “compreender / compreensão” e<br />
“agredir / agressão”. Isso se deve à coronalidade de /e/ e /i/ que, por<br />
sua vez, constituem a vogal temática verbal. Dessa maneira, um dos<br />
contextos favoráveis à atuação do fenômeno (o mais freqüente) é o<br />
de contato entre três elementos coronais: o onset e o núcleo da última<br />
sílaba da base verbal e o onset do sufixo -ção.<br />
A haplologia em questão se explica, portanto, pela adjacência de<br />
segmentos coronais – vogais anteriores, consoantes alveolares e ál-<br />
veo-palatais – numa fronteira morfológica que também coincide com<br />
uma fronteira de pés, como veremos mais adiante. Dessa maneira, a<br />
coronalidade deve se manifestar no onset e/ou na rima. Esse fato<br />
explica por que nomes deverbais de 1ª conjugação são menos afeta-<br />
dos pelo processo: eles apresentam, na rima, uma vogal que não se<br />
especifica como [coronal] – /a/, um segmento [dorsal].<br />
Verbos de 1ª conjugação também podem sofrer ação do fenô-<br />
meno, como se observa em “rejeitar / rejeição”, muito embora me-<br />
nos de 10% dos dados rastreados seja de tema em -a. Nesse caso, o<br />
onset da sílaba final do tema tem de ser idêntico ou maximamente<br />
semelhante ao onset do sufixo. Dessa maneira, dois traços atuam em<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
156
conjunto: [coronal] e [sonoro]. Por isso, somente verbos de 1ª conj u-<br />
gação terminados em /t/ e /s/ sofrem haplologia. Os dados aparecem<br />
em (08):<br />
(08)<br />
abusa + ção > *abusa/s/ão > abusão<br />
compulsa + ção > *compulsa/s/ão > compulsão<br />
dispersa + ção > *dispersa/s/ão > dispersão<br />
expressa + ção > *expressa/s/ão > expressão<br />
expulsa + ção > *expulsa/s/ão > expulsão<br />
injeta + ção > *injeta/s/ão > injeção<br />
interdita + ção > *interdita/s/ão > interdição<br />
inventa + ção > *inventa/s/ão > invenção<br />
isenta + ção > *isenta/s/ão > isenção<br />
junta + ção > *junta/s/ão > junção<br />
propulsa + cão > *propulsa/s/ão > propulsão<br />
revisa + ção > *revisa/s/ão > revisão<br />
Pelo que se expôs anteriormente, pode-se afirmar que a haplolo-<br />
gia dos nomes deverbais X-ção não é um fenômeno produtivo atual-<br />
mente, já que não formamos verbos de 2ª e 3ª conjugações<br />
(paradigmas fossilizados), isto é, nenhum verbo novo se forma em<br />
nossa língua com vogal temática [coronal]. A produtividade dos ver-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
157
os de 1ª conjugação torna o fenômeno improdutivo, já que a termi-<br />
nação “-ar” constitui bloqueio para a haplologia, uma vez que o nú-<br />
cleo da sílaba final da base se especifica como [dorsal].<br />
Por outro lado, há casos de haplologia em nomes cuja sílaba fi-<br />
nal do verbo é constituída apenas de núcleo silábico que se especifica<br />
como coronal: “incluir / inclusão”; “concluir / conclusão; corroer /<br />
corrosão”. Isso indica que a coronalidade se manifesta no constituin-<br />
te sílaba e não só no onset, necessariamente.<br />
Os quadros a seguir ilustram os contextos que favorecem a ha-<br />
plologia das formas X-ção, em ordem decrescente de importância:<br />
(a) três segmentos coronais adjacentes (09); (b) dois segmentos co-<br />
ronais adjacentes (10); e (c) dois onsets coronais desvozeados adja-<br />
centes separados por um segmento dorsal (11):<br />
(09)<br />
a) Verbos: agredir, converter, conduzir,<br />
proteger<br />
RADICAL VOGAL<br />
TEMÁTICA<br />
Onset<br />
núcleo<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
SUFIXO<br />
onset<br />
[coronal] [coronal] [coronal]<br />
/d, t, s, z, š, ž<br />
/<br />
/e, i/ /s/<br />
158
(10)<br />
(11)<br />
b) Verbos: corroer, concluir<br />
RADICAL VOGAL<br />
TEMÁTICA<br />
onset<br />
Ø<br />
núcleo<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
SUFIXO<br />
onset<br />
[coronal] [coronal]<br />
/e, i/ /s/<br />
c) Verbos: rejeitar, expressar<br />
RADICAL VOGAL<br />
TEMÁTICA<br />
onset<br />
[coronal]<br />
[- sonoro]<br />
núcleo<br />
[dorsal]<br />
SUFIXO<br />
onset<br />
[coronal]<br />
[- sonoro]<br />
/t, s/ /a/ /s/<br />
Com base nos dados, é possível concluir que há casos de sílabas<br />
sem onset que sofrem haplologia (10); logo, a rima que apresenta<br />
núcleo coronal é tão importante quanto à sílaba que tem a coronali-<br />
dade se manifestando no onset. Nessas duas situações (09 e 10), a<br />
sílaba, como um todo, caracteriza-se como coronal. No terceiro caso,<br />
ao contrário, a sílaba não é inteiramente coronal e, em função disso,<br />
159
a haplologia das formas X-ção não constitui processo produtivo na<br />
língua. A força que desencadeia o processo é um princípio da gramá-<br />
tica universal denominado OCP (Obligatory Countor Principle), que<br />
conspira contra a adjacência de formas com material fonológico i-<br />
dêntico.<br />
O domínio da regra de haplologia<br />
Das cerca de duzentas formações rastreadas, mais de 70% (qua-<br />
se cento e cinqüenta formas) são imparissilábicas, isto é, apresentam<br />
número ímpar de sílabas, como, entre outras, “concessão”, “emis-<br />
são”, “alusão”’ e “dispersão”. Esse fato corresponde a uma segunda<br />
grande motivação para o fenômeno: o apagamento de material fono-<br />
lógico levado a cabo pela haplologia evita que, no processo de for-<br />
mação de pés métricos, sílabas fiquem desgarradas (não-integradas a<br />
pés).<br />
Formas X-ção canônicas (sem haplologia) necessariamente le-<br />
vam a um aumento no número de sílabas da base verbal e, com isso,<br />
modificam a estrutura métrica da forma verbal derivante, como se vê<br />
na representação em (12). Assim, verbos dissilábicos (“malhar”)<br />
formam nomes deverbais trissilábicos (“malhação”); verbos trissilá-<br />
bicos (“escovar”) formam nomes com quatro sílabas (“escovação”),<br />
e assim sucessivamente. Nas representações a seguir, ( ) delimita o<br />
constituinte pé, formado da direita para a esquerda em função do<br />
peso da sílaba final (nas formas verbais infinitivas e nas nominaliza-<br />
ções correspondentes, forma-se um pé com a sílaba que contém “r” e<br />
“o” na posição de coda), os símbolos * e . indicam, nesta ordem, o<br />
constituinte forte e o membro fraco do pé. Como se observa em (12),<br />
o nome deverbal apresenta, em sua margem esquerda, uma sílaba<br />
desgarrada (a).<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
160
(12)<br />
a. nu. lar a . nu . la . ção<br />
( * . ) (*) (* .) (*)<br />
Verbos com número par de sílabas, como “malhar”, têm um tro-<br />
queu moraico formado à direita e, por isso, apresentam uma sílaba<br />
desgarrada na posição inicial. Nomes correspondentes em -ção, ao<br />
contrário, por se caracterizarem pelo acréscimo de uma sílaba à base,<br />
têm todas as sílabas integradas a pés, como se constata a partir da<br />
representação em (13):<br />
(13)<br />
ma . lhar ma . lha . ção<br />
(*) (* .) (*)<br />
Como mais de 70% dos dados analisados apresentam número<br />
ímpar de sílabas, verbo e nome têm a mesma estrutura métrica, já<br />
que uma sílaba – no caso das formas com haplologia – é suprimida<br />
quando se acrescenta o sufixo. Com a queda de constituintes da últi-<br />
ma sílaba do tema verbal, o nome resultante tem todas as sílabas<br />
integradas a pés. Confrontem-se, em (14) abaixo, as estruturas métri-<br />
cas do verbo “suspender”, do nome deverbal sem haplologia “sus-<br />
pendeção” e do nome com haplologia “suspensão”:<br />
(14)<br />
sus . pen . der sus . pen . de . /s/ão<br />
( * . ) ( * ) ( * . ) ( * )<br />
sus . pen . são<br />
( * . ) ( * )<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
161
Como se vê em (14), a queda de uma sílaba da base verbal regu-<br />
la a estrutura métrica de nomes deverbais correspondentes, já que,<br />
com a aplicação da regra de haplologia, nenhuma deixa de ser inte-<br />
grada a pés. Não pode ser obra do acaso o fato de maioria esmagado-<br />
ra dos dados apresentar número ímpar de sílabas: a haplologia, nesse<br />
caso, é motivada por fatores de ordem métrica.<br />
Resta falar, ainda, do domínio da regra. A coronalidade dos<br />
segmentos envolvidos no processo está numa fronteira de pés métri-<br />
cos. Desse modo, a haplologia das formas X-ção tem como domínio<br />
uma fronteira de pés. Tal domínio também caracteriza as formações<br />
X-oso, como ressaltado em Gonçalves & Barbosa (20<strong>06</strong>). Observa-<br />
se, na representação a seguir (15), que o sufixo -dade, que apresenta<br />
dois onsets /d/s adjacentes, não sofre haplologia nas formas sem -<br />
oso. Isso ocorre porque os dois /d/s estão subordinados a um mesmo<br />
pé. Quando se acrescenta -oso, há uma reestruturação métrica e os<br />
/d/s adjacentes passam a ser constituintes silábicos de pés diferentes,<br />
havendo, nesse caso haplologia.<br />
(15)<br />
?<br />
( *<br />
.)<br />
?<br />
bon.da.de<br />
? ?<br />
bon.da.do.so<br />
(* .)<br />
( .)<br />
Desse modo, o domínio da haplologia morfológica em portu-<br />
guês é a categoria pé: segmentos adjacentes idênticos ou maxima-<br />
mente semelhantes são apagados quando subordinados a diferentes<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
bon.do.so<br />
( * )<br />
( .)<br />
?<br />
162
pés. No caso das formas X-ção, que terminam em sílaba pesada, já<br />
que o último constituinte é uma semivogal ([w]), um troqueu é for-<br />
mado à direita e, por isso, esse pé fica adjacente ao anterior, que<br />
pode ou não apresentar segmentos coronais (no onset, no núcleo ou<br />
em ambas as posições silábicas). Caso a sílaba adjacente subordinada<br />
ao pé imediatamente anterior ao que contém o sufixo apresente seg-<br />
mentos coronais, o processo se aplica, caracterizando a haplologia.<br />
Sobre a recuperabilidade morfológica<br />
Cabe ressaltar que há falantes que recuperam a forma haplologi-<br />
zada e este é um caso que Rocha (1998) denomina de “recuperabili-<br />
dade morfológica”. As formas mais transparentes – isto é, sem<br />
haplologia – são utilizadas (a) como recurso estilístico de ênfase,<br />
como em “suspendeção de alunos” e “concedeção de medalhas”; (b)<br />
para reiterar uma ação praticada com freqüência, “inventação de<br />
moda”; ou (c) para estabelecer uma noção semântica singular a al-<br />
gum termo novo, “cantação de histórias”. Percebe-se, pois, que a<br />
construção opaca (com haplologia) e a transparente (sem haplologia)<br />
não constituem sinônimos, já que a forma recuperada morfologica-<br />
mente se especializa com a aquisição de um conteúdo aspectual.<br />
Palavras finais<br />
Embora a haplologia morfológica das formas X-ção seja um fe-<br />
nômeno de fonética histórica (Coutinho, 1976; Faria, 1970), é possí-<br />
vel descrevê-la, na atual sincronia da língua, com os instrumentos da<br />
Morfologia Prosódica (McCarthy, 1986). Nesse caso, utilizamos a<br />
Geometria de Traços (Clements & Hume, 1995) para especificar os<br />
aspectos articulatórios dos segmentos envolvidos. Concluímos, po r-<br />
tanto, que o traço [coronal], presente tanto no onset quanto na rima,<br />
favorece a haplologia da última sílaba da base verbal quando em<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
163
contato com -ção, que se inicia por um onset coronal. Além disso,<br />
com base na Fonologia Métrica, assumimos que o domínio da regra é<br />
a categoria prosódica ‘pé’, que exerce pressão em favor do apaga-<br />
mento tanto nas formações X-ção quanto nas derivações X-oso. Por<br />
fim, ressaltamos que a haplologia tende a regular a estrutura métrica<br />
do nome deverbal, já que o fenômeno afeta prioritariamente nomes<br />
imparissilábicos.<br />
Referências Bibliográficas<br />
CLEMENTS, George & HUME, Elizabeth. The internal organization<br />
of speech sounds. New York: Cornell University, 1995.<br />
COUTINHO, Ismael de Lima. Gramática histórica. Livraria acadêmica.<br />
Rio de Janeiro, 1976.<br />
CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da Língua<br />
Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.<br />
FARIA, Ernesto. Fonética histórica do latim. Rio de Janeiro: Livraria<br />
Acadêmica, 1970.<br />
GONÇALVES, Carlos Alexandre & BARBOSA, Maria Fernanda.<br />
Haplologia Morfológica das formações X-oso: um enfoque otimalista.<br />
Signum – Revista de Lingüística. Londrina, UEL, 8 (1):<br />
25-35, 20<strong>06</strong>.<br />
HAYES, C. Metrical stress theory. Cambridge: CUP Press, 1991.<br />
HOLLANDA, Aurélio Buarque. Dicionário Aurélio eletrônico –<br />
século XXI. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.<br />
HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa.<br />
Rio de Janeiro: Livraria Objetiva / Instituto Antônio<br />
Houaiss, 2001.<br />
McCARTHY, J. A prosodic theory of nonconcatenative morphology.<br />
Linguistic Inquiry, New York, vol. 12, n. 3, p. 373-417,<br />
<strong>jul</strong>./<strong>dez</strong>., 1986.<br />
ROCHA, L. C. Estruturas morfológicas do português. Belo Horizonte:<br />
Ed. da UFMG, 1998.<br />
VILLALVA, A. Estruturas lexicais do português. Coimbra: Almedina,<br />
2000.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
164
A morfologia derivacional na gramática<br />
gerativa e sua contribuição ao ensino<br />
fundamental e médio<br />
1. Introdução<br />
Antônio Sérgio Cavalcante da Cunha – UERJ / FFP<br />
O ensino de morfologia derivacional nas gramáticas brasileiras<br />
apresenta vários problemas, alguns dos quais são abordados por Luiz<br />
Carlos de Assis Rocha.<br />
Segundo o autor, as gramáticas tradicionais brasileiras sofrem<br />
com o peso da tradição, dando ênfase à contribuição greco-latina ao<br />
idioma. São apresentadas listas de prefixos, radicais e sufixos, com<br />
seus significados, sem a preocupação de se saber se o falante nativo<br />
reconhece aqueles elementos como formadores de palavras no portu-<br />
guês atual.<br />
Por exemplo, Oiticica menciona que a palavra mulato (a) tem<br />
sufixo –ato(a), de origem italiana, diminutivo aplicado a animais.<br />
Assim, tal vocábulo teria tido, na sua origem, o significado de “mula<br />
pequena” ou “semelhante à mula” ou “cor de mula”. Em sala de<br />
aula, o efeito que tal revelação faz é um misto de constrangimento<br />
(para as pessoas mulatas) e comédia. E para quê? Nenhum falante do<br />
português conhecia tal significado original. Hoje, mulato(a) é o mes-<br />
tiço resultante da mistura de negro e branco.<br />
Oiticica cita os prefixos –men, -me, -min como sendo de origem<br />
latina e formadores de nomes de ação como em “certame” (ação de<br />
combater), “regime” (ação de reger). E menciona, também, que tal<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
165
sufixo aparece em “carne”, “cume”, “nome”. Nessas palavras, não há<br />
sequer a idéia de ação. E, mesmo nas duas primeiras palavras citadas,<br />
em que há idéia de ação, o falante atual não tem consciência da exis-<br />
tência de tal sufixo.<br />
Derivado desse primeiro problema, surge outro: a mistura de<br />
sincronia e diacronia. Elementos mórficos altamente produtivos na<br />
língua atual, assim como outros improdutivos, mas que são reconhe-<br />
cidos pelos falantes convivem com elementos que sequer são rec o-<br />
nhecidos pelos falantes.<br />
João Domingues Maia, por exemplo, apresenta, como formador<br />
de diminutivo, o altamente produtivo sufixo -inho/-inha e suas vari-<br />
antes -zinho/-zinha, ao lado de sufixos que aparecem em pouquíssi-<br />
mos itens lexicais, muitos dos quais desconhecidos pelos falantes: -<br />
acho (em “lobacho”, diminutivo de “lobo”), -ucho(a) (diminutivo<br />
formador de “papelucho” e “casucha”). Pode-se dizer que, no portu-<br />
guês atual do Brasil, estes dois últimos sufixos, se é que são realmen-<br />
te sufixos e não sufixóides, inexistem e que as palavras citadas como<br />
exemplos de uso desses elementos sequer são utilizadas.<br />
Mesmo quando o critério é estritamente sincrônico, vemos pro-<br />
blemas em vários compêndios de gramática. Rocha Lima, por exem-<br />
plo, apresenta-nos o sufixo -ada como formador de substantivos a<br />
partir de substantivos e dá como exemplos “boiada”, “colherada”,<br />
“facada”, “laranjada”, “marmelada”, “meninada”, “noitada”, “pedra-<br />
da”. Ora, em “laranjada” e “marmelada”, o significado passado pelo<br />
sufixo é de “alimento feito com”, mas em “boiada” e “meninada” é<br />
de coletivo e, em “facada”, a idéia é de “golpe dado com”. Assim,<br />
não se trata de apenas um sufixo, mas de vários sufixos com a mes-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
166
ma forma fônica e gráfica. Ou seja, o autor deixou de considerar o<br />
significado que esse elemento tem em cada uma das palavras citadas.<br />
vorecem:<br />
Esta situação tem perdurado graças a diversos fatores que a fa-<br />
- o imobilismo do ensino, no caso, o de língua portuguesa nos<br />
níveis fundamental e médio. Os salários dos professores são baixos,<br />
não há esforço por parte da maioria das escolas em atualizar esses<br />
docentes. Assim, eles repetem o que está nos livros, mas não refle-<br />
tem sobre o que está nos livros. É muito mais cômodo, na atual situ-<br />
ação do ensino no Brasil, simplesmente repetir sem refletir.<br />
- interesses econômicos. Não se produzem gramáticas com uma<br />
orientação mais moderna porque não há interesses editoriais. Segun-<br />
do Rocha, uma gramática que seja muito diferente das demais difi-<br />
cilmente venderia. O objetivo é massificar a venda das gramáticas<br />
nos níveis fundamental e médio. Para isso, uma gramática não pode<br />
ser inovadora.<br />
- autoridade. Segundo Rocha, as gramáticas afirmam, mas nada<br />
discutem. Os alunos e professores aceitam as gramáticas tradicionais<br />
como se elas fossem donas da verdade. Não se trata apenas de auto-<br />
ridade, mas de autoritarismo das gramáticas.<br />
Rocha ainda aponta o compromisso com o ensino como um dos<br />
fatores que fazem com que a morfologia derivacional seja ensinada<br />
da forma como é. Segundo ele, a pesquisa, de um modo geral, não<br />
pode estar comprometida com qualquer fator que não seja a própria<br />
pesquisa. No entanto, vemos com restrição as afirmações de Rocha.<br />
Cremos que a pesquisa não deve, necessariamente, estar comprome-<br />
tida com o ensino, mas o imobilismo no ensino de morfologia deri-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
167
vacional não se deve a isso, mas ao fato de que muitas pesquisas são<br />
ignoradas ou deixadas de lado pelos professores, por falta de conhe-<br />
cimento e atualização com relação a elas, e pelas gramáticas, por<br />
interesses econômicos. Embora o ensino possa utilizar muitas das<br />
novas pesquisas feitas, a não vontade e, muitas vezes, a dificuldade<br />
de mudar alguma coisa é que levam a essa situação de letargia no<br />
ensino.<br />
2. O panorama atual da gramática gerativa e o papel da<br />
morfologia dentro dela<br />
Atualmente, a gramática gerativa tem dado muito relevo à ques-<br />
tão da aquisição da linguagem. O programa minimalista, construído<br />
dentro da Teoria de Princípios e Parâmetros, busca chegar a um con-<br />
junto que seja o menor possível das propriedades gramaticais (prin-<br />
cípios e parâmetros) de cada língua.<br />
Baseado na idéia da existência de uma Gramática Universal,<br />
comum a toda espécie humana e que facilita a aquisição das línguas<br />
humanas pelos falantes, há dois aspectos de que devem ser conside-<br />
rados: um aspecto internamente determinado, uniforme para a espé-<br />
cie humana, e outro externamente determinado (pela experiência<br />
individual) que varia de indivíduo para indivíduo. O modelo de P &<br />
P coloca a hipótese de que os limites de variação externa nas línguas<br />
internalizadas são extremamente reduzidos. Por exemplo, o parâme-<br />
tro sujeito nulo, para um falante do português, é positivo, de modo a<br />
permitir expressões como “Vamos ao cinema”. Já para um falante do<br />
inglês, o respectivo parâmetro é ligado negativamente, conseqüente-<br />
mente não permitindo expressões do tipo “Went to the movies”.<br />
O programa minimalista (PM) trata com a idéia-chave de retirar<br />
do modelo tudo aquilo que não é estritamente necessário, do ponto<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
168
de vista da inserção da linguagem na mente e dos seus mecanismos<br />
internos, quer do ponto de vista da parcimônia do próprio modelo.<br />
Corrêa (20<strong>06</strong>) aponta que “a aquisição da língua materna, de<br />
forma natural e espontânea, durante os primeiros anos de vida da<br />
criança, se é por um lado esperada e tomada como índice de desen-<br />
volvimento normal, é, por outro lado surpreendente, dada a regulari-<br />
dade do processo ante a diversidade e a complexidade das línguas<br />
humanas.” E acrescenta que “já aos três anos de idade”, crianças são<br />
capazes de compreender e formular enunciados lingüísticos estrutu-<br />
rados de acordo com as propriedades que caracterizam a língua de<br />
sua comunidade. Exceto por distinções sutis de ordem semântica ou<br />
pragmática, por estruturas gramaticais peculiares da língua escrita e<br />
pela dimensão do léxico, que se amplia indefinidamente em função<br />
da ampliação de conhecimentos em diferentes domínios, a língua de<br />
uma criança de cinco anos equivale à de um falante adulto.<br />
Nesse panorama, o léxico ocupa um lugar secundário, sendo as<br />
línguas internalizadas um repositório de conhecimentos sobre sons,<br />
significados e organização estrutural dessa língua. O léxico é, então,<br />
visto como um conjunto de entradas, um dicionário mental, que se<br />
amplia indefinidamente, como disse Correa, à medida que os conhe-<br />
cimentos dos falantes em diversos domínios são ampliados. Já as<br />
regras da sintaxe parecem ser adquiridas rapidamente e num estágio<br />
bastante inicial da vida, provavelmente até a puberdade.<br />
Volta o léxico nos dias atuais a ser encarado como era no início<br />
da gramática gerativa (Teoria Padrão), como uma lista não ordenada<br />
de entradas de que o falante se serve na construção de enunciados<br />
lingüísticos. Segundo Di Sciullo e Williams “o léxico é como uma<br />
prisão, só contém os fora-da-lei e a única característica que os ele-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
169
mentos do léxico têm em comum é o fato de todos serem fora-da-<br />
lei”. Logo, para esses autores, o léxico não tem estrutura e, portanto,<br />
não é relevante para a gramática.<br />
As relações existentes entre os itens que compõe o léxico e o<br />
papel do conhecimento dessas relações (regras) passaram, então, a<br />
ter papel secundário nos estudos gerativos. Poucos são os estudiosos<br />
que se dedicam, dentro da GG, ao estudo do léxico, gerando um con-<br />
junto extremamente limitado de pesquisas sobre sua estrutura. Este<br />
também é um elemento que dificulta o uso dos conhecimentos sobre<br />
morfologia derivacional no ensino.<br />
3. Algumas questões básicas acerca da morfologia derivacional<br />
de base gerativa<br />
O objetivo da morfologia de base gerativa é explicar o conheci-<br />
mento lingüístico que um falante nativo tem acerca do léxico de sua<br />
língua. Segundo Basílio (1980), tal conhecimento lingüístico consti-<br />
tui-se dos seguintes elementos:<br />
- um conjunto de entradas lexicais;<br />
- um conjunto de regras construído a partir das relações que o<br />
falante estabelece entre as entradas lexicais;<br />
- um conjunto de restrições à aplicação dessas regras.<br />
Com relação ao conjunto de regras, Basílio destaca que existem<br />
Regras de Análise Estrutural (RAE), regras de caráter interpretativo,<br />
que permitem ao falante a análise da estrutura das palavras de sua<br />
língua. Assim, o falante sabe que o item “adoração” é formado da<br />
mesma maneira que o item “transformação”, ambos constituídos de<br />
um verbo e do sufixo nominalizador –ção. Da mesma maneira, “sa-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
170
pateiro” e “jardineiro” são formados a partir de um substantivo a-<br />
crescido de um sufixo –eiro, que, nessas palavras, acrescentam a<br />
idéia de profissional que trabalha com o objeto representado pela<br />
base (“sapato” e “jardim”). Segundo Jackendoff (1975), o conheci-<br />
mento internalizado dessas regras, que para o autor são as Regras de<br />
Redundância, facilitam a aquisição de novos itens lexicais formados<br />
da mesma maneira.<br />
Basílio acrescenta que, além das RAEs, existem as Regras de<br />
Formação de Palavras (RFP), de caráter produtivo que permitem ao<br />
falante criar novas palavras na língua. Segundo a autora, a toda RFP<br />
está associada uma RAE, pois o falante, reconhecendo a estrutura de<br />
várias palavras a partir de uma mesma RAE, pode usá-la produtiva-<br />
mente para a criação de novos itens lexicais. No entanto, a recíproca<br />
não é verdadeira, isto é, o fato de o falante reconhecer uma determi-<br />
nada relação lexical por meio de uma RAE, não necessariamente fará<br />
com que tal relação seja usada produtivamente na formação de novas<br />
palavras.<br />
Assim, todos os falantes do português reconhecem que em “ale-<br />
gria”, “ousadia”, “covardia”, “valentia”, temos o mesmo sufixo (-ia)<br />
acrescentado a uma base adjetiva na formação de substantivos abs-<br />
tratos, mas parecem não mais usar esse sufixo de forma produtiva em<br />
novos itens lexicais. Teríamos, então, uma RAE sem uma RFP cor-<br />
respondente.<br />
Em grande parte, isso se deve ao fato de que, geralmente, na<br />
morfologia derivacional temos mais de um sufixo que, por exemplo,<br />
forma substantivos abstratos a partir de substantivos. Havendo essa<br />
concorrência, alguns sufixos tendem a ser produtivos, enquanto ou-<br />
tros passam à improdutividade. Assim ocorre com outras relações<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
171
lexicais. Mas suponhamos que um falante não conheça a palavra<br />
“ousadia”. Ele pode perfeitamente usar outro sufixo formador de<br />
substantivos abstratos a partir de adjetivos e construir uma nova pa-<br />
lavra (“ousa<strong>dez</strong>a”, por exemplo, formada pelo acréscimo ao adjetivo<br />
“ousado” do sufixo –eza, também formador de substantivos abstratos<br />
a partir de adjetivos, só que mais produtivo do que –ia).<br />
Aliás, segundo Basílio, nessa guerra entre sufixos, sempre que<br />
sufixos altamente produtivos estiverem disponíveis, os falantes não<br />
farão uso daqueles que aparecerem num número mais restrito de<br />
itens lexicais.<br />
Outro ponto importante é saber por que certas palavras são for-<br />
madas e outras não. Além da produtividade dos elementos lexicais,<br />
existem, também, as chamadas condições de produção. Assim, uma<br />
palavra pode não ser formada porque já existe outra, a partir da<br />
mesma base, a partir de elemento mórfico concorrente. É a chamada<br />
restrição paradigmática. Scalise diz que se trata de uma tendência de<br />
economia no léxico. Mas essa tendência não é absoluta. É pouco<br />
provável que, um falante forme “ousa<strong>dez</strong>a”, pois já existe “ousadia”.<br />
Mas, se ele não conhecer “ousadia”, ou, se num determinado mo-<br />
mento, faltar-lhe essa palavra, ele poderá formar “ousa<strong>dez</strong>a”. Um<br />
exemplo disso está no registro em dicionário de dois substantivos<br />
abstratos a partir do verbo “aniquilar” (“aniquilação” e “aniquila-<br />
mento”), ambos com o sentido de ato de aniquilar. Teoricamente,<br />
essas duas formas só poderiam coexistir caso cada uma delas assu-<br />
misse um significado distinto. Mas o que se vê é que isso não acon-<br />
teceu.<br />
Por questões de eufonia, o falante poderá deixar de formar uma<br />
palavra. Por exemplo, um profissional que trabalhe exclusivamente<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
172
com a organização de cruzeiros marítimos, poderia ser chamado de<br />
“cruzeireiro”, mas tal palavra não foi formada. Isto pode ser explica-<br />
do pela junção do eiro, que finaliza a palavra “cruzeiro”, com o sufi-<br />
xo –eiro. No entanto, Rocha (1999) considera que essa restrição,<br />
chamada de fonológica, é a menos importante, uma vez que os falan-<br />
tes se acostumem com a nova palavra, ela deixará de soar estranha. A<br />
prova disso é a existência de “cabeleireiro”, que vem de “cabeleira”<br />
pelo acréscimo de -eiro. Assim, temos a junção eira + -eiro, que,<br />
neste caso, não provoca nenhum estranhamento.<br />
Há, também, restrições de natureza pragmática. Muitas vezes,<br />
uma palavra não se forma porque o falante não sente necessidade de<br />
lexicalizar formas não relevantes. Rocha diz que nossa cultura con-<br />
sagrou o termo “doleiro”, mas não “franqueiro”, por não haver al-<br />
guém especializado em comercializar francos. Como não há,<br />
também, alguém especializado em comercializar euros, é muito pro-<br />
vável que a palavra “eureiro” também não venha a ser formada.<br />
As restrições discursivas são aquelas impostas por um tipo de<br />
discurso. É muito improvável que, num discurso formal, encontre-<br />
mos uma nova forma X-udo, uma vez que tal sufixo é pejorativo,<br />
aparecendo apenas no discurso muito informal. Assim, se uma nova<br />
palavra X-udo vier a ser criado, ela o será num texto informal.<br />
Aronoff apresenta uma série de possibilidades de bloqueio à<br />
formação de um novo item lexical. Um deles é o bloqueio heterôni-<br />
mo, pelo qual uma palavra não se forma pela existência de outra,<br />
completamente diferente (um heterônimo), com o mesmo significa-<br />
do. Assim, “aviãozeiro” não se formaria pela existência de “piloto”.<br />
Mais uma vez, podemos dizer que tal bloqueio não é absoluto, não<br />
estando descartada a formação de um item lexical, mesmo que já<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
173
exista um heterônimo, com o mesmo significado, se o falante desco-<br />
nhecer o item já existente no léxico.<br />
Outro tipo de bloqueio apresentado por Aronoff é o homofônico<br />
em que uma palavra não se forma com determinado significado por-<br />
que já existe na língua com outro significado. Assim, “cobreiro” com<br />
o significado de “trabalhador em ninas de cobre” não se forma pela<br />
existência de “cobreiro”, que nomeia uma doença. No entanto, o<br />
próprio Aronoff diz que, quando uma palavra entra para o léxico,<br />
pode ganhar ou perder significados previstos pela RFP por meio da<br />
qual foi formada. Assim, não é difícil imaginar que “cobreiro” possa<br />
um dia ganhar um outro significado, como, por exemplo, o acima<br />
especificado.<br />
Finalmente, um dos fatores apontados por Rocha para a não<br />
formação de um novo item lexical é a inércia morfológica. Neste<br />
caso, a não formação não se dá por nenhum dos fatores apresentados<br />
acima. Não há nenhuma razão que impeça a formação, mas a palavra<br />
não existe na língua. Poderá até um dia existir, pois não há nada que<br />
impeça sua existência. Rocha diz que se a língua consagra “orelhu-<br />
do”, “bochechudo” e “bigodudo”, por que “olhudo”, “bocudo” e<br />
costudo não são produtos reais?<br />
Outro ponto de fundamental importância é entender por que no-<br />
vas palavras se formam. A resposta está nas três funções na formação<br />
de palavras. A função mudança categorial decorre da necessidade de<br />
usarmos um item lexical de uma determinada classe de palavras, por<br />
causa da estrutura da frase e esta palavra não existe. Por exemplo,<br />
temos, em português, o verbo “atingir”, mas podemos, em um deter-<br />
minado contexto, precisar usar o substantivo proveniente do verbo<br />
“atingir”, pois a estrutura da frase assim nos obriga. Das duas uma:<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
174
ou mudamos totalmente a estrutura da sentença de modo a não preci-<br />
sarmos mais usar o substantivo e sim o verbo, ou criamos a forma<br />
derivada “atingimento”.<br />
A função expressiva de avaliação é aquela pela qual criamos<br />
uma nova palavra por uma necessidade afetiva por meio do uso de<br />
sufixos afetivos, enfáticos e intensificadores.<br />
A função rotulação está relacionada com nossa necessidade de<br />
dar nome às coisas, às ações, às qualidades, aos lugares. Está ligada<br />
às necessidades sociais, à cultura, à tecnologia, enfim, ao mundo que<br />
nos cerca.<br />
Importante observar, também, que quando um falante forma<br />
uma nova palavra, esta pode nascer apenas da necessidade de mo-<br />
mento. Por exemplo, numa conversa entre patroa e empregada, por<br />
ocasião da morte dos integrantes do conjunto Mamonas Assassinas, a<br />
empregada, referindo-se à compra em massa de CDs do grupo, que<br />
logo se esgotaram, disse: “A senhora viu a compração de CDs dos<br />
Mamonas Assassinas?”. A empregada, que tem apenas o primeiro<br />
segmento do Ensino Fundamental, formou uma nova palavra usando<br />
uma regra da língua; acrescentou o sufixo –ção, com o sentido de “o<br />
exagero daquilo que é expresso pelo verbo” para suprir uma necessi-<br />
dade expressiva momentânea. Um bancário formado em direito usou<br />
a mesma regra ao reclamar do excesso de notícias de mortes de pa-<br />
rentes e conhecidos que ficou sabendo em curto período ao proferir a<br />
seguinte sentença: “Espero que tenha finalmente acabado essa mor-<br />
reção.” Da mesma forma que a empregada doméstica, a criação de<br />
“morreção” se deu devido a uma necessidade momentânea de ex-<br />
pressão de uma idéia ou situação. Trata-se de formações esporádicas,<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
175
que são usadas por um ou outro falante, em determinado momento,<br />
sem, no entanto, passarem ao domínio da coletividade.<br />
Outras criações lexicais passam para o domínio da coletividade.<br />
A palavra “imexível”, formada rigorosamente de acordo com as re-<br />
gras da língua, é o caso típico de uma formação esporádica, criada<br />
por um ministro de estado em um determinado pronunciamento na<br />
televisão, que se transformou em formação institucionalizada, isto é,<br />
passou a fazer parte do léxico de um conjunto maior de pessoas,<br />
provavelmente pelo fato de ter causado um escândalo na época, de-<br />
vido ao uso, por um ministro de estado, de um termo não dicionari-<br />
zado em pronunciamento na TV.<br />
Por fim, um outro aspecto importante está relacionado à dicio-<br />
narização. Os dicionários apresentam inúmeras palavras que não são<br />
mais usadas na língua e, muitas vezes, deixam de registrar formas<br />
que já são do conhecimento coletivo. Um dicionário é sempre uma<br />
obra inacabada, precisando ser constantemente atualizado. Para mui-<br />
tas pessoas, uma palavra só pode ser usada se estiver dicionarizada.<br />
Isso ocorre, principalmente, quando se exige o uso da língua em<br />
situações formais.<br />
4. Morfologia gerativa e o ensino<br />
O primeiro benefício de se aplicar a morfologia de base gerativa<br />
– dentro de bases que levem em conta o grau de maturidade do aluno<br />
– é o de deixar claro para esses estudantes que eles já trazem um<br />
conhecimento internalizado de sua língua.<br />
Essa idéia é, sem qualquer dúvida, importante para a auto-<br />
estima do aluno. Ao invés de se sentir um incapaz em sua própria<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
176
língua, o aluno percebe que sabe algo e que a escola vai aprimorar o<br />
seu conhecimento.<br />
Assim, é importante dizer ao aluno que a língua não está arada<br />
no tempo, nem no espaço. Usamos a língua em muitas situações<br />
diferentes: em conversas informais com parentes e com amigos, em<br />
bilhetes, em cartas para amigos, quando nos dirigimos ao diretor da<br />
escola, oralmente ou por escrito, quando fazemos uma redação para<br />
um concurso, etc. Cada uma dessas situações exigirá que usemos a<br />
língua de forma diferente. Não nos dirigimos ao diretor da escola da<br />
mesma maneira com que nos dirigimos a um amigo íntimo, quer no<br />
vocabulário que usamos, quer nas construções das sentenças que<br />
formam nosso texto.<br />
É também essencial que expliquemos que, desde que nascemos,<br />
entramos em contato com a língua de nossa comunidade e, aos pou-<br />
cos, chegamos às regras da gramática de nossa língua. Uma criança<br />
com cinco anos, como disse Correa, em muitos aspectos, tem sua<br />
gramática internalizada praticamente igual à de um falante adulto.<br />
No entanto, como o registro com que entramos em contato durante o<br />
período de aquisição da linguagem é o oral informal/familiar, domi-<br />
namos um vocabulário restrito e uma sintaxe mais simples, que privi-<br />
legia frases curtas e sem grande número de relações de subordinação.<br />
Isso ocorre porque essas são características do registro informal oral.<br />
A escrita, no entanto, é diferente da fala. E a escrita formal si-<br />
tua-se ainda mais longe da fala informal. Por isso, cabe à escola en-<br />
sinar aos alunos aqueles registros que ele ainda não domina.<br />
Na morfologia gerativa, vários conceitos podem ser usados,<br />
mesmo no Ensino Médio, desde que o professor traga exemplos que<br />
possam elucidar tais conceitos. A distinção entre formação esporádi-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
177
ca e formação institucionalizada deve ser trazida ao conhecimento do<br />
estudante. A partir da idéia de que os falantes de uma língua possu-<br />
em um conjunto de regras relativas ao léxico dessa língua, uma for-<br />
mação esporádica poderá ser usada, em momentos de informalidade,<br />
para suprir a carência de um termo. No entanto, em trabalhos for-<br />
mais, dar-se-á preferência às formações institucionalizadas.<br />
Contudo, vale observar que, mesmo em textos jornalísticos, são<br />
constantes as formações esporádicas. Por exemplo, a revista Veja,<br />
em 2002, criou o termo “politicossauro” para referir-se a um candi-<br />
dato à Presidência da República. O Ministro Antônio Rogério Ma-<br />
gri, em uma fala na televisão, disse: “A Previdência Social é<br />
imexível”. Não é difícil para o professor, por meio de pesquisa em<br />
jornais e revistas levar exemplos dessas criações e discuti-las com os<br />
alunos.<br />
O professor pode, inclusive, ao usar tais exemplos tirados de<br />
jornais e revistas verificar o entendimento que os alunos tiveram<br />
desses novos termos. Isso mostrará a eles que são capazes de inter-<br />
pretar palavras novas com as quais nunca tenham entrado em contato<br />
antes.<br />
Igualmente importante é fazer o aluno entender que muitas pa-<br />
lavras, embora possíveis na língua, a partir de uma regra de formação<br />
de palavras, não se formam por um conjunto de restrições e bloquei-<br />
os. Não é necessário nomear tais restrições e bloqueios, mas apenas<br />
explicá-los aos alunos. Não formamos uma determinada palavra<br />
porque já existe outra com o mesmo significado, ou porque nossa<br />
realidade não necessita a criação daquele termo, ou porque nos soa<br />
estranha, etc.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
178
É interessante fazer com que o aluno descubra a regra que sub-<br />
jaz a um conjunto de palavras-irmãs na língua. Pode o professor,<br />
inclusive, exercitar a criatividade do aluno fazendo-o criar novas<br />
palavras a partir da mesma regra. Mesmo que essas palavras não<br />
existam, o professor poderá explicar que elas um dia poderão ou não<br />
vir a existir.<br />
Igualmente, pensamos que o professor não deve reprimir o alu-<br />
no se ele cria uma nova palavra dentro das regras da língua, e usa em<br />
uma redação. Desde que haja compatibilidade entre o grau de forma-<br />
lidade do termo criado e o texto no qual ele empregou o termo, por<br />
que desestimular essa criatividade?<br />
Assim, é necessário que o professor faça distinção entre regras<br />
que produzem novas palavras e regras improdutivas. Por exemplo,<br />
substantivos abstratos são formados a partir de adjetivos, por meio de<br />
um grande número de sufixos. Todos eles entram em concorrência.<br />
Aqueles que aparecem em um maior número de itens lexicais tendem<br />
a se tornar produtivos, enquanto os que aparecem em um número<br />
menor itens tornam-se improdutivos. Assim, sufixos como –eza e –<br />
idade são mais produtivos do que –ia. O que diferencia –eza de –<br />
idade e que o primeiro só pode formar substantivos abstratos a partir<br />
de adjetivos primitivos, enquanto o segundo também se combina a<br />
adjetivos derivados.<br />
5. Conclusões<br />
Mudar o ensino no Brasil não é uma tarefa fácil. Uma melhor<br />
preparação dos professores e um maior interesse na melhoria do en-<br />
sino são fundamentais. Um ensino que leve o aluno a não ter medo<br />
de expor suas idéias e suas conclusões ao invés de levá-lo a memori-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
179
zações inócuas. Um ensino que explore sua criatividade ao invés de<br />
reprimi-la.<br />
A morfologia derivacional de base gerativa tem muito a contri-<br />
buir. Para isso, as pesquisas nessa área devem ser ampliadas. Mesmo<br />
na sufixação, área mais explorada na morfologia gerativa, faltam<br />
estudos em quantidade e profundidade suficientes para elucidar as<br />
regras da língua. Nos demais processos de formação de palavras<br />
(prefixação, composição, etc.), os estudos são ainda mais parcos.<br />
Devem os profissionais da área entender, também, que ensino e<br />
pesquisa não são incompatíveis. A negligência com que alguns pes-<br />
quisadores tratam o ensino de língua é lamentável. Não são raros, no<br />
meio acadêmico, aqueles que vêem a pesquisa como uma atividade<br />
superior, enquanto o ensino é considerado como atividade menor.<br />
Enquanto essa realidade persistir, será difícil mudar alguma coisa no<br />
ensino.<br />
Os órgãos governamentais devem, também, estar atentos para a<br />
má qualidade do ensino nos níveis fundamental e médio. Cabe a<br />
esses órgãos incentivar pesquisadores para que produzam, a partir de<br />
suas pesquisas, textos que possam ser utilizados no Ensino Funda-<br />
mental e Médio.<br />
Enfim, uma mudança no ensino, seja de morfologia derivacio-<br />
nal, seja em qualquer área, depende da soma de esforços de governo,<br />
meio acadêmico, escolas. Sem essa soma, nada poderá ser feito de<br />
produtivo.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
180
Referências Bibliográficas<br />
ARONOFF, Mark. Word formation in generative grammar. Cambridge-Massachussets/London-England,<br />
The MIT Press: 1976.<br />
ARONOFF, Mark & FUDEMAN, Kirsten. What is Morphology?<br />
Malden-U.S.A./Oxford-United Kingdom/Carlton-Australia,<br />
Blackwell Publishing: 2005.<br />
BASÍLIO, Margarida. Estruturas lexicais do português. Petrópolis,<br />
Vozes: 1980.<br />
------. Teoria lexical. São Paulo, Ática: 1987.<br />
------. Formação e classes de palavras no português do Brasil. São<br />
Paulo, Contexto: 2004.<br />
CHOMSKY, Noam. O programa minimalista. Trad.: Eduardo Paiva<br />
Raposo. Lisboa, Caminho: 1999.<br />
CORRÊA, Letícia Maria Sicuro. Conciliando processamento lingüístico<br />
e teoria de língua no estudo da aquisição da linguagem. In:<br />
CORRÊA, L. M. S. (org). Aquisição da linguagem e problemas<br />
do desenvolvimento lingüístico. Rio de Janeiro, Ed.PUC-Rio/<br />
São Paulo, Loyola: 20<strong>06</strong>.<br />
CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova gramática do português<br />
contemporâneo. Rio de Janeiro, Nova Fronteira: 1985.<br />
DI SCIULLO, Anna-Maria & WILLIAMS, Edwin. On the definition<br />
of word. Cambridge-Massachussets/London-England, The MIT<br />
Press: 1987.<br />
JACKENDOFF, Ray. Morphological and semantic regularities in<br />
the lexicon. In: Language, v. 51, n. 3, p. 639-671: 1975.<br />
MAIA, João Rodrigues. Gramática: teoria e exercícios. São Paulo,<br />
Ática: 2000.<br />
OITICICA, José. Manual de análise. Rio de Janeiro, Francisco Alves:<br />
1950.<br />
ROCHA, Luiz Carlos de Assis. Estruturas morfológicas do português.<br />
Belo Horizonte, Editora da UFMG: 1999.<br />
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua<br />
portuguesa. Rio de Janeiro, José Olympio: 1989.<br />
SCALISE, Sergio. Generative morphology. Dordrecht-<br />
Holland/Riverton-U.S.A., Foris Publications: 1986.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
181
O rugir do leão<br />
(o jargão dos rodoviários do Rio de Janeiro)<br />
Luiz Fernando Dias Pita – FAFIMA / UFRJ<br />
Realizar a análise do jargão de dada categoria profissional pode<br />
ser uma excelente fonte de subsídios para que melhor se compreenda<br />
tanto a mecânica do surgimento de novos vocábulos no idioma; co-<br />
mo a da adaptação de termos oriundos de outros campos semânticos<br />
à realidade da categoria profissional selecionada. Ademais, o acom-<br />
panhamento de um determinado jargão, quando realizado de maneira<br />
contínua, permite rastrear, sincrônicamente, a trajetória, dentro do<br />
corpus do idioma, de um conjunto vocabular. O presente trabalho<br />
consiste numa pesquisa acerca das variações vocabulares da língua<br />
portuguesa encontradas em um grupo específico: o dos rodoviários<br />
da cidade do Rio de Janeiro, auto-apelidados “leões”.<br />
A cidade do Rio de Janeiro tem uma geografia ímpar: tendo<br />
crescido inicialmente entre o mar e a montanha, espalhou-se contor-<br />
nando tanto o maciço da Tijuca quanto a Serra do Grajaú. Isto con-<br />
cedeu aos transportes coletivos uma importância que em diversas<br />
outras cidades não desfrutou: a de ser um espaço de integração social<br />
e de produção cultural.<br />
Diversos são, na cultura popular carioca, os exemplos em que os<br />
transportes coletivos atuam ou são apresentados como referência<br />
cultural. Qualquer exame, ainda que superficial, na produção artística<br />
– majoritariamente a musical – carioca evidenciará de pronto as figu-<br />
ras dos antigos bondes ou dos trens como tema recorrente neste pa-<br />
norama cultural. Isto se deu porque, devido à expansão urbana em<br />
direção às zonas Oeste e da Leopoldina – ocorridas desde a década<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
182
de 1930 – o percurso dos longos trajetos destes meios de transporte<br />
de massa fez com que estes se impregnassem no cotidiano de seus<br />
usuários e fosse, por esta mesma razão, guindado também às catego-<br />
rias de espaço de produção e de espaço de divulgação desta mesma<br />
cultura.<br />
Ao referirmo-nos aos transportes como espaço de produção de<br />
cultura, devemos recordar um fato ao mesmo tempo prosaico e corri-<br />
queiro dos trens do Rio de Janeiro, nos quais ainda hoje, devido ao<br />
longo e demorado trajeto, diversos grupos soem formar-se nas com-<br />
posições: rodas de samba, de forró, de carteado, etc. Não é incomum<br />
que, nestes grupos, músicos produzam e apresentem diversos traba-<br />
lhos inéditos de feição totalmente popular.<br />
Da mesma forma, a figura do trem – ou do bonde – serviu como<br />
tema para uma expressiva parcela da produção musical – estamos<br />
restringindo-nos unicamente a este tópico – carioca de diversas dé-<br />
cadas. No caso dos bondes, mesmo as propagandas neles veiculadas<br />
ainda se recordam alhures, bastando citar-se os versos:<br />
“Veja, ilustre passageiro,<br />
o belo tipo faceiro,<br />
que o senhor tem a seu lado,<br />
pois acredite,<br />
quase morreu de bronquite,<br />
salvou-o o rhum creosotado.”,<br />
cuja autoria já foi atribuída sucessivamente a Bastos Tigre, Ola-<br />
vo Bilac e Martins Fontes, como suficiente exemplo. Da mesma for-<br />
ma também os trens foram temas de diversas canções, como o samba<br />
abaixo, de autoria de Artur Villarinho, Estanislau Silva e Paquito,<br />
gravado por Geraldo Pereira no ano de 1940.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
183
“Patrão, o trem atrasou,<br />
Por isso estou chegando agora.<br />
Trago aqui o memorandum da Central<br />
Dizendo que o trem atrasou meia hora<br />
O senhor não tem razão<br />
P’ra me mandar embora.”<br />
Os trens motivaram ainda importantes produções cinematográfi-<br />
cas, desde as chanchadas da Atlântida até o premiado Central do<br />
Brasil, de Walter Salles.<br />
Contudo, o processo de desmonte da rede de bondes na cidade<br />
do Rio de Janeiro, ocorrido em princípios da década de 1960, assim<br />
como a expansão urbana para regiões como Jacarepaguá ou Barra da<br />
Tijuca – fora do eixo ferroviário – ocasionou total reformulação no<br />
panorama viário da cidade, que passou a ter nos ônibus a principal<br />
forma de transporte de massa. Entretanto, o ônibus não produziu<br />
senão muito esporádicas aparições na produção cultural, tendo tido<br />
em Rap do 175, de Gabriel, o Pensador, o momento de sua maior<br />
repercussão como tema. Ademais, a substituição dos bondes e trens<br />
pelos ônibus como opção preferencial para pequenos e médios traje-<br />
tos multiplicou, no espaço urbano, a figura do rodoviário.<br />
O profissional rodoviário foi, durante os anos de 1970 a 1990,<br />
uma das categorias profissionais mais numerosas da cidade, chegan-<br />
do, segundo dados do sindicato da classe, ao expressivo número de<br />
cerca de 34.000 profissionais, divididos entre as categorias de moto-<br />
rista, cobrador, fiscal, despachante e inspetores, hoje trabalhando<br />
apenas no município do Rio de Janeiro, tendo como empregadores<br />
cerca de 20 empresas de transporte coletivo, (falo apenas daquelas<br />
que trabalham diretamente no setor de trânsito), excluídos ainda a-<br />
queles que trabalham nas regiões periféricas do perímetro urbano,<br />
como a Baixada Fluminense e/ou São Gonçalo e Niterói, e também<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
184
os que trabalham no chamado transporte alternativo, ou ainda em<br />
empresas de transporte de cargas ou de valores. Estimativas mais<br />
conservadoras, publicadas pela Fetrasnpor – o sindicato patronal –<br />
determinam a existência de cerca de 22.000 rodoviários trabalhando,<br />
durante três turnos diários, em 17.000 coletivos somente nesta cida-<br />
de. Como ambos sindicatos nos forneceram dados relativos ao ano de<br />
1998, notemos que este número reduziu-se nos últimos anos, seja<br />
pela concorrência do transporte alternativo, seja pelo paulatino fim<br />
da categoria cobrador, substituído em geral pelo motorista.<br />
Tendo em vista a conjugação de fatores como o da quantidade<br />
do elemento humano imerso nesta atividade profissional e pelo pano-<br />
rama social comum de sua origem, é natural que formulem um jargão<br />
profissional relativamente extenso, razão pela qual decidimo-nos por<br />
realizar uma brevíssima investigação sobre o referido jargão, mesmo<br />
porque diversos dos termos utilizados pelos rodoviários do Rio de<br />
Janeiro, já se incorporaram ao vocabulário corrente de dita cidade,<br />
configurando-se um processo de influência que ultrapassa os limites<br />
profissionais.<br />
Assim sendo, iniciamos um levantamento dos termos usados pe-<br />
los rodoviários da cidade e igualmente dos contextos de sua utiliza-<br />
ção. Nosso intuito é o de registro destes termos antes de seu<br />
desaparecimento ou de sua definitiva incorporação ao vocabulário<br />
urbano, quando certamente já não será possível rastrear ou distinguir<br />
sua origem.<br />
Com essa finalidade, elaboramos um glossário básico das ex-<br />
pressões do jargão rodoviário que lhe são particulares, tendo já ex-<br />
cluído outras que hoje se encontram “consagradas” na linguagem<br />
popular, não obstante tais formas serem utilizadas também pelos<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
185
odoviários. Este glossário foi elaborado com base em nossa experi-<br />
ência pessoal como ex-rodoviário e tomou como padrão a linguagem<br />
utilizada por rodoviários de três empresas: Transportes Amigos Uni-<br />
dos S.A., Transportes América Ltda., e Empresa Rubanil S.A., cujas<br />
linhas percorrem as zonas do Centro, Sul, Norte e Leopoldina; co-<br />
brindo assim grande parte da cidade do Rio de Janeiro e configuran-<br />
do o caráter “geral” dos termos que apresentamos.<br />
Primeiramente, evidenciaremos tratarem-se as variações por e-<br />
les produzidas como diafásicas, ou seja, diferenças vocabulares entre<br />
os tipos de modalidade expressiva (pode ser entre língua falada e<br />
escrita, entre linguagem masculina e feminina e, entre outras; o jar-<br />
gão, sendo este tratado neste trabalho). A terminologia dos rodoviá-<br />
rios abarca, por força do ofício, diversos termos relativos à mecânica<br />
e funcionamento dos veículos de transporte coletivo; também encon-<br />
tramos termos direcionados a explicitar as relações entre os diversos<br />
tipos de profissional que trabalham no setor; assim como vocábulos<br />
referentes aos passageiros de dito meio de transporte.<br />
Mas, estudando-se um pouco mais a fundo e percebendo tam-<br />
bém que tal grupo provém todo das classes C e D, pode-se notar que<br />
tais formações vocabulares são também variações diastráticas, ou<br />
seja, diferenças entre camadas socio-culturais (podem ser divididas<br />
em nível culto, linguagem-padrão e linguagem popular, sendo esta<br />
última o assunto deste trabalho).<br />
Isto faz do jargão dos rodoviários uma possibilidade de exame<br />
também do processo de formação e de divulgação dos socioletos<br />
presentes na cidade do Rio de Janeiro, até porque, devido ao grande<br />
contato diário de toda a população (incluindo as classes mais altas)<br />
com tal grupo profissional, certas palavras deste vocabulário especí-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
186
fico influenciam a fala de todos e, por isso, algumas delas não lhe<br />
soarão estranhas; além disso, a classe rodoviária consegue divulgar<br />
muito mais rapidamente, e num maior espaço físico regional, os ter-<br />
mos que cunha.<br />
Como a linguagem usada pelos “leões” acaba por influenciar<br />
aquela das pessoas que se valem dos coletivos, os vocábulos e e x-<br />
pressões cunhadas por eles passam a fazer parte da gramática do dia-<br />
a-dia até em outros ambientes que não aqueles específicos onde se<br />
podem encontrar rodoviários. Assim, esta diafasia é assimilada por<br />
toda a gente e língua se modifica e se enriquece de expressões que<br />
podem ser compreendidas também fora de seu contexto de origem.<br />
Afinal, são milhões de passageiros que levam tais expressões para<br />
suas casas.<br />
Todo este processo acaba por desaguar na deriva do idioma, e<br />
também por configurar-se como um elemento contribuinte nas muta-<br />
ções do idioma – não que as outras profissões também não se pres-<br />
tem a esta contribuição, todavia estamos seguros de que apenas as<br />
dos rodoviários acabou por originar um jargão terminológico co-<br />
mum, baseado nas experiências profissionais vivenciadas diariamen-<br />
te pela categoria, e em constante diálogo com as gírias formuladas no<br />
meio social em que vivem, e com o qual estejam em contato.<br />
Esperando desde já que este levantamento sirva como subsídio<br />
para pesquisas de maior monta, apresentâmo-lo em seguida:<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
187
Terminologia do jargão rodoviário<br />
ARRASTAR - diz-se do carro que trafega em velocidade me-<br />
nor que a usual, fazendo diminuir o espaço entre este e o que lhe<br />
segue, reduzindo o número de passageiros do segundo carro.<br />
AVARIA - despesa paga pelo motorista por qualquer dano o-<br />
corrido ao veículo, seja de causa humana ou mecânica, além dos atos<br />
de vandalismo praticados por passageiros.<br />
BACURAU - é como se chama o carro encarregado de trafegar<br />
durante a madrugada.<br />
BANDALHA - além do sentido usual de dirigir perigosamente,<br />
pode indicar mudança no itinerário (v.).<br />
BARCO - forma usada para denominar o carro.<br />
BELISCAR - diz-se do ato praticado pelo cobrador de enganar,<br />
seja o passageiro ou a empresa para a qual trabalhe, usando de artifí-<br />
cios tais como: permitir ao passageiro saltar pela porta traseira, pular<br />
a roleta, não registrar as passagens pagas por mulheres grávidas e<br />
demais pessoas que entrem pela frente etc.<br />
BIFE - prática de algumas empresas de premiar financeiramente<br />
os motoristas e cobradores cujos veículos transportem mais do que a<br />
média de passageiros do dia, em geral, o “bife” equivale a 10% da<br />
diária de trabalho.<br />
BOA (A) - forma pela qual se chama a última viagem (v.) do<br />
dia, usa-se como complemento dos verbos buscar, levar ou trazer.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
188
BONDE - Antes de que a gíria do narcotráfico usasse o termo<br />
como sinônimo de comboio de veículos, bonde era um dos termos<br />
pelos quais os rodoviários se dirigiam aos ônibus em si.<br />
sageiros.<br />
BONECO - maneira pela qual os rodoviários chamam os pas-<br />
CALOTEIRO - diz-se daquele passageiro que não paga a pas-<br />
sagem, usando de artifícios tais como saltar pela porta traseira ou<br />
pular a roleta. A prática era muito comum ao tempo em que a porta<br />
de entrada era traseira, sendo substituída hoje pela simples invasão<br />
do carro.<br />
CATINGAR - diz-se do carro quando começa a manifestar al-<br />
gum defeito.<br />
CASA - nome dado pelos rodoviários às empresas para as quais<br />
trabalham.<br />
CASCUDO - forma pela qual se denomina o rodoviário que te-<br />
nha muitos anos de profissão.<br />
CARONA - (dar carona) ato de permitir que alguém viaje sem<br />
pagar a tarifa.<br />
CARRO - nome dado aos ônibus.<br />
CARRO EFETIVO - diz-se do carro que circula unicamente<br />
em determinada linha, com uma determinada equipe de trabalho.<br />
CARRO DE HORÁRIO - carro encarregado de cumprir núme-<br />
ro determinado de viagens, independentemente da quantidade de<br />
passageiros ou da jornada diária de trabalho regulamentada em lei.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
189
COBRADOR - funcionário encarregado de cobrar as tarifas aos<br />
passageiros.<br />
CU-D’ÁGUA - denominação aplicada àqueles que, por qual-<br />
quer razão, manifestem algum traço de covardia, por exemplo: recu-<br />
sar-se a sair da garagem com um carro defeituoso, não discutir com<br />
caloteiros etc.<br />
DEITAR - diz-se da ação de conduzir lentamente, fazendo com<br />
que os pontos se encham de passageiros, para que assim se lote o<br />
carro, perfazendo a quantidade de fichas (v.) exigidas na linha (v).<br />
trabalho.<br />
DEITÃO - diz-se do motorista que “deita” (v. deitar).<br />
DOBRAR - ato de num mesmo dia, realizar dupla jornada de<br />
DOBRINHA - apelido dado aos rodoviários que “dobram”.<br />
EFETIVO - diz-se do rodoviário que possui a primazia de tra-<br />
balhar em determinada linha e carro todos os dias.<br />
FICHAS - nome dado às passagens vendidas, (certamente uma<br />
reminiscência do tempo em que os cobradores forneciam uma ficha<br />
plástica ao passageiro, para que este depositasse num cofre quando<br />
deixasse o carro). fazer fichas: exigência das empresas para que<br />
cada carro de determinada linha venda no mínimo uma quantidade<br />
pré-determinada de passagens, baseada na média diária de passagei-<br />
ros da linha.<br />
FILIPETA - termo pejorativo indicando as notas e moedas de<br />
baixo valor.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
190
FURAR O BARCO - diz-se do funcionário que, indo trabalhar<br />
em sua folga, impede que o colega de trabalho tenha carro disponí-<br />
vel.<br />
GANCHO (estar no) - diz-se do funcionário que, por qualquer<br />
razão, está impedido de trabalhar.<br />
GUIA - boleta que indica o número do carro, horário de traba-<br />
lho, quantidade de fichas (v.), nome dos rodoviários, etc.<br />
nibus.<br />
ITINERÁRIO - percurso efetuado por determinada linha de ô-<br />
JESUS TÁ CHAMANDO - diz-se dos assentos individuais lo-<br />
calizados à frente dos veículos, junto à antiga porta de descida. O<br />
nome provém do fato de que, em caso de choque frontal, o passagei-<br />
ro ali sentado invariavelmente sofre ferimentos, muitas vezes fatais.<br />
LEÃO - a) termo que designa rodoviários em geral. b) o uni-<br />
forme dos rodoviários. leão falso - diz-se das pessoas que, vestidas<br />
com o uniforme de rodoviário, se valem do direito de não pagar a<br />
passagem, entrando pela porta dianteira.<br />
LINHA - termo utilizado para definir um determinado trajeto<br />
realizado por um número de carros; linha de corno, designa a linha<br />
cujo trajeto percorra logradouros perigosos ou de muito tráfego.<br />
LOTAÇÃO - diz-se da quantidade máxima de passageiros que<br />
podem ser transportados por um ônibus. l. de carro, quando já se<br />
atingiu a lotação máxima. l. de banco, quando, embora não hajam<br />
mais lugares para se sentar, ainda não há pessoas de pé.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
191
MÃO (PEGAR NA) - 1) diz-se do funcionário que, após “do-<br />
brar”(v.), recebe ao fim do dia o valor de sua diária, ao invés desta<br />
ser-lhe creditada em folha de pagamento. 2) diz-se do ato de receber<br />
as passagens sem registrá-las (v. beliscar).<br />
MAPA - diz-se dos documentos utilizados pelos despachantes<br />
para controlar o fluxo de carros em suas respectivas linhas.<br />
PÉLA-SACO - termo pejorativo que designa o rodoviário baju-<br />
lador, (a forma popular puxa-saco quase não se usa entre rodoviá-<br />
rios).<br />
PIRATA - termo com que se designam ônibus ou demais veícu-<br />
los não-autorizados de transporte coletivo.<br />
PONTO - termo que designa a parada de ônibus. ponto final:<br />
diz-se daquele onde termina a viagem (v.).ponto de retorno: desig-<br />
na aquele de onde o carro retorna, cumprindo, assim, meia-viagem.<br />
(v).<br />
RESERVA - diz-se do rodoviário que não dispondo de carro<br />
efetivo (v. carro), trabalha unicamente quando algum colega falta ou<br />
se atrasa; obs.: os dias não-trabalhados não são pagos.<br />
SECRETA - diz-se do fiscal não-uniformizado que viaja nos<br />
carros verificando o andamento do serviço. Tal fiscal não é jamais<br />
conhecido pelos rodoviários e portanto pode denunciar aos patrões<br />
tudo o que observar da conduta dos funcionários (v. X-9).<br />
SEGURA A BOCA (NA PARADA)! - expressão que significa<br />
algo como: Vamos lá! ou Agüente firme!, usada para incentivar os<br />
colegas.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
192
SOBRAR - diz-se do fato de, chegando o funcionário à gara-<br />
gem para iniciar seu expediente, não haver carro disponível.<br />
TABELA - intervalo regulamentado pela empresa entre os di-<br />
versos carros de uma mesma linha.<br />
TELEVISÃO - crachá instituído pela Fetranspor (sindicato pa-<br />
tronal) para identificar a todos os rodoviários da Região Sudeste; o<br />
apelido se deve ao fato deste crachá ser muito grande e de cor abóbo-<br />
ra.<br />
TROCADOR - forma pela qual os passageiros chamam o fun-<br />
cionário encarregado de cobrar as passagens. De fato, tal função não<br />
existe, sendo tais funcionários registrados como cobradores.<br />
T.U. (TURNO ÚNICO) - carro que transita apenas no horário<br />
de pique, com a mesma turma de rodoviários.<br />
X-9 - (v. secreta).<br />
VIAGEM - itinerário realizado por uma linha de ônibus, em seu<br />
percurso de ida e volta ao ponto final. (v.). meia-viagem: termo uti-<br />
lizado quando se cumpre o percurso de ida. (v. boa).<br />
VISTA - diz-se do letreiro que indica o itinerário do veículo.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
193
Referências Bibliográficas<br />
LOPES, Edward. Fundamentos da Lingüística Contemporânea, 3 ed,<br />
São Paulo: Cultrix, 1993.<br />
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingüística Geral, 17 ed, São<br />
Paulo: Cultrix, 1976.<br />
VILARINHO, Artur; SILVA, Estanislau; “PAQUITO”. O trem atrasou.<br />
Intérprete: Geraldo Pereira. In: PEREIRA, Geraldo. História<br />
da Música Popular Brasileira. Rio de Janeiro: Fermata,<br />
1955. 1 disco sonoro. Lado A, faixa 1.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
194
O sentido da terra e o sentido divino:<br />
a leitura e a subversão da iconografia<br />
e dos valores cristãos em<br />
O evangelho segundo Jesus Cristo<br />
de José Saramago<br />
Jefferson Eduardo Pereira Bessa – UERJ<br />
A principal matéria deste trabalho recai sobre a fruição interpre-<br />
tativa do romance O evangelho segundo Jesus Cristo com relação a<br />
textos já existentes, isto é, às Escrituras Sagradas. A leitura no ro-<br />
mance de Saramago assume uma atitude moral que determinará a<br />
positividade ou a negatividade de uma interpretação dada. O valor da<br />
vida, então, aparece concomitantemente à leitura que cada um pro-<br />
põe fazer do mundo; no caso do romance, da vida de Cristo. Para o<br />
narrador de O evangelho, há uma leitura negativa e uma positiva dos<br />
acontecimentos da vida de Jesus Cristo. Tais diferenças veremos<br />
detalhadamente no desenvolvimento do texto.<br />
O desvio de toda iconografia cristã “abre” o romance O evange-<br />
lho segundo Jesus Cristo de José Saramago. A descrição de uma obra<br />
pictórica, que apresenta a cena clássica da morte de Cristo na cruz,<br />
aponta para a possibilidade que o narrador detém para construir a sua<br />
leitura (ou releitura) de fatos descritos nos Evangelhos.<br />
Contrariamente à atitude dos religiosos que, diante de uma obra<br />
que representa qualquer momento da vida de Cristo, mostram-se<br />
prontamente a reverenciar e a adorar as imagens santificadas, o nar-<br />
rador nas primeiras linhas não se inibe e rebate: “o que temos diante<br />
de nós é papel e tinta, mais nada”. Ou seja, no romance, o efeito de<br />
obediência e respeito das figuras sagradas da iconografia cristã, as<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
195
quais impressionam e dominam os homens, torna-se o caminho pelo<br />
qual se iniciará a desmistificação que o narrador fará com relação ao<br />
mundo moral do cristianismo.<br />
Para a pertinência de uma análise no âmbito da recepção, da fru-<br />
ição e também da interpretação de obras de arte, o conceito de obra<br />
aberta, desenvolvido por Umberto Eco, possibilitará a aproximação<br />
de alguns questionamentos conseqüentes da inter-relação autor/leitor,<br />
obra/interpretação e autoridade/liberdade. Em O evangelho, esse<br />
conceito será útil e proveitoso tanto para pensar a apropriação de<br />
Saramago do texto bíblico (a partir da epígrafe) quanto a leitura do<br />
narrador frente ao quadro na primeira parte.<br />
O conceito de obra aberta compreende uma noção estética do<br />
objeto artístico que se organiza em experiências múltiplas e flexíveis<br />
ante a forma engendrada por um artista. Isto é,<br />
(...) no ato de reação à teia dos estímulos e de<br />
compreensão de suas relações, cada fruidor traz<br />
uma situação existencial concreta, uma sensibilidade<br />
particularmente condicionada, uma determinada<br />
cultura, gostos, tendências,<br />
preconceitos pessoais, de modo que a compreensão<br />
de forma originária se verifica segundo<br />
uma determinada perspectiva individual (ECO,<br />
1969: 40).<br />
Do modelo completo e fechado da arte clássica às possíveis in-<br />
terpretações da obra aberta, a intervenção e o processo interpretativo<br />
do receptor sobre a obra de arte fundamentam a análise do narrador<br />
ante a obra de arte. Através de seu conhecimento e de sua visão dian-<br />
te do cristianismo, o narrador de O evangelho fará digressões, levan-<br />
tará hipóteses e ironizará situações e personagens.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
196
Interessante que essa interferência interpretativa do narrador se<br />
vincula explicitamente também a uma crítica dos preconceitos que<br />
impregnam os valores gerais da sociedade. O alvo, então, é duplo:<br />
dirige-se tanto ao mundo cristão quanto aos preconceitos atuais. Bus-<br />
cando identificar os personagens bíblicos na obra que se apresenta<br />
em sua frente, o narrador, ao deparar-se com uma personagem de<br />
cabelos louros, ironicamente identifica nela Maria Madalena; assim<br />
diz:<br />
Com tais razões não pretendemos afirmar que<br />
Maria Madalena tivesse sido, de facto, loura,<br />
apenas estamos conformando com a corrente de<br />
opinião maioritária que insiste em ver nas louras,<br />
tanto as de natureza como as de tinta, os<br />
mais eficazes instrumentos de pecado e perdição<br />
(SARAMAGO, 2003: 9).<br />
Esse “leitor” das imagens cristãs em O evangelho segundo Jesus<br />
Cristo, na tentativa de direcionar sua interpretação, deixa claro que a<br />
leitura mais possível pode estar fundamentada por uma visão precon-<br />
ceituosa de mundo, incutida principalmente na cultura cristã. Recria,<br />
dessa maneira, o sentido do quadro que tem diante de si, tentando<br />
reconhecer os personagens por algum elemento exterior – a cor do<br />
cabelo, por exemplo.<br />
Desse modo, a importante experiência que vivenciou diante do<br />
quadro será o caminho que percorrerá todo o romance. Se toda obra<br />
de arte é, segundo Umberto Eco, “aberta” porque não comporta ape-<br />
nas uma interpretação, o narrador mostra-se pronto a construir uma<br />
releitura ativa na qual a sua participação demarcará a intolerância do<br />
universo cristão. Interpretar é recriar a visão e as idéias de outro a-<br />
través da nossa própria visão do mundo.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
197
A fruição subversiva da narrativa cristã, que será reestruturada<br />
por todo o romance, é anunciada logo na epígrafe; Saramago revela<br />
uma passagem do livro de Lucas (1, 1-4) em que a idéia de apropria-<br />
ção de narrativas possibilita a todos a oportunidade de reescrever os<br />
Evangelhos. Em outras palavras, Saramago possui, como todos os<br />
homens, a faculdade legal de executar uma narração, segundo a sua<br />
visão, de alguns fatos bíblicos.<br />
Já que muitos empreenderam compor uma narração<br />
dos factos que entre nós se consumaram,<br />
como no-los transmitiram os que desde o princípio<br />
foram testemunhas oculares e se tornaram<br />
servidores da Palavra, resolvi eu também depois<br />
de tudo ter investigado cuidadosamente<br />
desde a origem, expor-tos por escrito e pela sua<br />
ordem, ilustre Teófilo, a fim de reconheças a<br />
soli<strong>dez</strong> da doutrina em que foste instruído<br />
(SARAMAGO, 2003: epígrafe)<br />
Esse empreendimento arbitrário de fruição textual apresenta tan-<br />
to o texto de Saramago quanto o texto bíblico como uma forma pos-<br />
sível, as quais são assumidas obviamente com atitudes<br />
interpretativas diferentes (de afirmar ou subverter) diante de um<br />
determinado testemunho da tradição.<br />
Dessa maneira, o narrador alerta: “quando será que aprendere-<br />
mos que há certas coisas que só começaremos a perceber quando nos<br />
dispusermos a remontar às fontes” (SARAMAGO, 2003: 43). Eis a<br />
intenção do narrador: desfazer o sentido cristão dado ao mundo, re-<br />
montar os evangelhos a fim de que possamos compreender por outro<br />
ângulo o que aconteceu com esses fatos históricos e, conseqüente-<br />
mente, atribuir novos valores ao mundo.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
198
Estamos, desse modo, diante de uma performance (ISER, 1996:<br />
341-363) encenada pelo narrador. A performance se caracteriza,<br />
sobretudo, pela subversão dos referentes comuns da sociedade ou da<br />
natureza. Assumindo uma manipulação do artista com relação aos<br />
elementos naturais ou artificiais, os artistas em geral tendem a colo-<br />
car às avessas o sentido cristalizado. A encenação performática, ca-<br />
racterística da obra de arte, se configura no<br />
jogo do texto que resulta de uma transformação<br />
de seus mundos de referência; no entanto, deste<br />
jogo emerge algo que não pode ser deles deduzido.<br />
Em conseqüência, nenhum desses mundos<br />
pode ser objeto de apresentação, pois o texto de<br />
modo algum está reduzido a ser a representação<br />
de algo previamente dado (ISER, 1996: 342).<br />
A perfomance do narrador do romance O evangelho segundo<br />
Jesus Cristo se identifica na criação de um referente diferente daque-<br />
le primeiro, que no caso é aquele referente bíblico. Então, a tentativa<br />
de leitura desse narrador torna-se uma encenação que reiventa o que<br />
já está dado por uma tradição. Em outras palavras, o narrador per-<br />
formático se volta não para uma referência descritiva ou reprodutora,<br />
mas produtiva ou manipuladora que se desvia do elemento dado.<br />
Esse caráter produtivo e performático em O evangelho recai so-<br />
bre o ‘desvio’do narrador com relação a uma tradição que cristalizou<br />
os acontecimentos da vida de Cristo. A imaginação, portanto, como<br />
elemento fundamental para a releitura feita em O evangelho, é o<br />
ponto central para que comece o seu ‘como se’ – condição básica,<br />
segundo Iser, para construção de mundo com referências que possibi-<br />
lita contestar ou afirmar verdades e mentiras de uma época. Afirma,<br />
enfim, que o conjunto valorativo da História, da Filosofia, da Política<br />
e da Arte representa uma ética que se substituem ao longo do tempo,<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
199
uma vez que a sociedade constrói um modelo ideal de viver e de<br />
relacionar em comunidade.<br />
Qual a finalidade da encenação literária do romance O evange-<br />
lho? Obviamente que se fundamenta no objetivo de liberação de uma<br />
sociedade que se volta para valores religiosos. No entanto, as mani-<br />
festações artísticas possuem em si essa função que possibilita uma<br />
revelação ou uma subversão da ordem dada. Sobre tal finalidade Iser<br />
responde que a literatura<br />
se transforma no panorama do que é possível,<br />
pois não é restringida pelas limitações, ou pelas<br />
considerações que determinam as organizações<br />
institucionalizadas no interior das quais a vida<br />
humana em geral se desenvolve (ISER, 1996:<br />
352).<br />
Vale observar que essa releitura, ou melhor, essa “tradução” da<br />
linguagem pictórica para linguagem escrita permitirá o narrador a-<br />
dentrar numa correnteza da transcriação através da qual executará<br />
sua interpretação. Nessa recriação paralela, observa-se em O evange-<br />
lho o objetivo de subverter o significado da mensagem concedida<br />
pela fonte. Parece que a cena empreende desconstruir o efeito sacra-<br />
lizado que poderia provocar aquelas imagens, gerando, contraria-<br />
mente, no narrador, um uso sacrílego das figuras.<br />
Conseqüentemente, todas as personagens que configuram tal o-<br />
bra pictórica serão niveladas à superfície terrestre; com a descrença<br />
da existência de um mundo divino, para além dos homens, o narrador<br />
desconsidera a “divinização” dos homens – no caso, Jesus – e das<br />
coisas. Por isso, não se deve fazer diferenças entre os mundanos e os<br />
divinos nem falsear a realidade, inventando um outro mundo, “pela<br />
simples razão de que tudo isto são coisas da terra, que vão ficar na<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
200
terra, e delas se faz a única história possível” (SARAMAGO, 2003:<br />
13).<br />
Encerra assim a primeira parte do livro, prenunciando o cami-<br />
nho que percorrerá sua história: o sentido humano com mentiras,<br />
injustiças, contradições, rancor, egoísmo, reconciliação e amor. Em<br />
O evangelho encontra-se, portanto, uma interpretação dos textos<br />
sagrados. Pensamos que o leitor, para o seu consolo, não deva rece-<br />
ber o romance de Saramago apenas como um jogo fictício, isto é,<br />
consolidando um velho preconceito de que está diante de uma fanta-<br />
siosa história a fim de que suas convicções não sejam abaladas. O<br />
leitor, ao contrário, deve pensar que, como a epígrafe de Lucas usada<br />
no livro, Saramago indica que o próprio discurso da Bíblia o permite<br />
exercitar tal leitura e que o empreendimento de sua leitura é tão pos-<br />
sível como a leitura dos evangelhos foi possível. Ou seja, sua história<br />
se torna tão aceitável como qualquer outra que tivesse estudado os<br />
fatos e se propusesse a narrá-los.<br />
A fim de pensar nas possíveis interpretações que podem sofrer o<br />
mundo, podemos trazer o Zaratustra de Nietzsche. Em “Os mil obje-<br />
tos e o único objeto” Zaratustra revela que por trás de todo valor há<br />
um criador, ou seja, identifica a figura do homem como avaliador e<br />
criador de um sentido para a realidade. Assim, o personagem diz:<br />
O homem é que pôs valores nas coisas com a<br />
intenção de se conservar; foi ele que deu um<br />
sentido às coisas, um sentido humano. Por isso,<br />
se chama “homem”, o que aprecia. Avaliar é<br />
criar. Ouvi, criadores! (...). Pela avaliação se dá<br />
o valor, sem a avaliação, a noz da existência seria<br />
oca (NIETZSCHE, 2005: 58).<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
201
O homem surge, então, como o princípio de toda a avaliação,<br />
que se define como o modo de ser e de existir do homem. A partir da<br />
avaliação, surgirá a criação de valores que <strong>jul</strong>gará os elementos em<br />
relação. Nesse momento, estarão em jogo as crenças, os sentimentos<br />
e os pensamentos, os quais decisivamente determinarão a maneira<br />
positiva ou negativa de ser e estar sobre a terra (DELEUZE, 1976: 3-<br />
4).<br />
Podemos encontrar essas duas maneiras de encarar a vida no<br />
romance O evangelho segundo Jesus Cristo: a positiva se caracteriza<br />
por valorizar o homem e a terra; a negativa, ao contrário, estima um<br />
mundo ilusório e fantasiado.<br />
Manifesta-se, desse modo, a discussão sobre os sentidos e as<br />
significações dadas às coisas e ao mundo. Podemos dizer que a ava-<br />
liação do narrador de O evangelho é regida por uma ação que rebate<br />
uma outra – a cristã naturalmente. Duas instâncias interpretativas<br />
configuram o discurso do narrador: a cosmovisão do cristianismo – a<br />
da pintura e a das Escrituras – e a dele, conseqüente daquela que ele<br />
tende a subverter, permitindo o narrador pela escrita reorganizar o<br />
seu discurso pautado numa preocupação em atribuir sentidos huma-<br />
nizados às atitudes e à vida de personagens bíblicos.<br />
Antes, contudo, de adentramos na visão positiva da vida de Sa-<br />
ramago, pensemos na sua visão negativa do mundo. A essa falsa<br />
crença num além-mundo, Nietzsche chama niilismo. Essa atitude se<br />
fundamenta numa visão de mundo que anula o significado da vida e<br />
do homem e volta-se para a criação de valores superiores, os quais<br />
compõem supostamente o verdadeiro mundo. A necessidade do<br />
ideal ascético a que se refere o filósofo se constitui especialmente<br />
em:<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
202
Inventar “fábulas” sobre um “outro” mundo diferente<br />
deste não tem sentido a não ser que domine<br />
em nós um instinto de calúnia, de<br />
depreciação, de receio: neste caso nos vingamos<br />
da vida com a fantasmagoria de uma “outra”<br />
vida distinta desta e melhor do que esta.<br />
(NIETZSCHE, 2000: 55)<br />
Assim, alguns elementos como Deus, o Bem e até mesmo a Ci-<br />
ência configuram a negação deste mundo em nome de um outro<br />
mundo. Niilistas, portanto, são os homens que aniquilam a vida em<br />
nome de uma outra vida. Arquiteta-se um além inexistente estabele-<br />
cido pela crença na fé ou na razão. Acrescenta-se a essa invenção a<br />
conseqüente violência com que os homens usam uns contra os ou-<br />
tros. Na opinião de José Saramago, a figura de Deus é a responsável<br />
por grande parte da violência do mundo, que também impede o cum-<br />
primento da humanização. Em seu ensaio O fator Deus, o escritor<br />
fala que<br />
Deus não é mais que um nome, o nome que, por<br />
medo de morrer, lhe pusemos um dia e que viria<br />
a travar-nos o passo para uma humanização<br />
real. Em troca prometeram-nos paraísos e ameaçaram-nos<br />
com infernos, tão falsos uns como<br />
os outros, insultos descarados a uma inteligência<br />
e a um sentido comum que tanto trabalho<br />
nos deram a criar. (SARAMAGO, 2001: 6)<br />
Essa capacidade de fabulação do homem se fundamenta princi-<br />
palmente na vontade do homem em justificar as causas e os efeitos<br />
dos acontecimentos. Criam-se, então, paraísos e infernos a fim de<br />
iludir e de ameaçar os homens. A crítica de Saramago se refere prin-<br />
cipalmente à promessa de humanização feita pelos seguidores de<br />
Deus, os quais, ao contrário, justificam em nome de Deus toda ação e<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
203
atitude desumana. Sendo Deus, neste caso, algo que nos impede a<br />
chegar à “humanização real”.<br />
O efeito da imaginação de um além-mundo se deve também à<br />
memória. Em O evangelho, faz-se uma crítica à memória por sua<br />
imprecisão e tendência a inventar. A memória, segundo o autor, dire-<br />
ciona-se facilmente a caminho da fantasia, submetendo o homem à<br />
obediência:<br />
(...) e o dia chegará em que se terá perdido a<br />
memória do que aconteceu, então, dado que os<br />
homens para tudo querem explicação, falsa ou<br />
verdadeira, inventar-se-ão umas quantas histórias<br />
e lendas. (SARAMAGO, 2003: 143)<br />
Constroem-se, assim, narrações breves, de caráter alegórico des-<br />
tinadas a ilustrar um preceito, uma moral. A vontade de justificação<br />
dos homens ativa a memória, que pode fabular ou pode remontar a<br />
seu gosto o passado. O pecado de Adão é um exemplo de invenção e<br />
memória. O pecado original conserva um princípio de culpa que<br />
recai sobre o gênero humano, sendo transmitido a todos os homens,<br />
que já nascem, por isso, em estado de culpa.<br />
Conseqüentemente a tal ensinamento, a noção de pecado na<br />
doutrina cristã proclama ao homem a necessidade do sentimento de<br />
culpa a fim de alcançar o além-mundo. Para tanto, deve o homem<br />
abdicar-se de seus desejos. Para alcançar esse efeito a partir da cruci-<br />
ficação de seu filho Jesus Cristo, Deus revela a sua tática: “A um<br />
mártir convém-lhe uma morte dolorosa, e se possível infame, para<br />
que a atitude dos crentes se torne mais facilmente sensível, apaixo-<br />
nada, emotiva” (SARAMAGO, 2003: 310).<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
204
O romance assinala uma atitude que se opõe à moral cristã, uma<br />
vez que os valores gerados pelo cristianismo configuram um mundo<br />
inexistente e falso, privilegiando uma dominação que torna o homem<br />
inferior e fraco diante desta força sobrenatural, oculta. O cristianis-<br />
mo, portanto, apresenta uma moral que deprecia e que despreza a<br />
capacidade do homem no mundo. Essas “estratégias” de poder das<br />
quais Deus lança mão exemplificam a avaliação que Deus faz do<br />
homem, o qual se destaca, sobretudo, por sua propensão à dependên-<br />
cia e à submissão:<br />
o homem é pau para toda a colher, desde que<br />
nasce até que morre está disposto a obedecer,<br />
mandam-no para ali, e ele vai, dizem-lhe que<br />
pare, e ele pára, ordenam-lhe que volte para<br />
trás, e ele recua, o homem, tanto na paz como<br />
na guerra, falando em termos gerais, é a melhor<br />
coisa que podia ter sucedido aos deuses<br />
(SARAMAGO, 2003: 310).<br />
Em O evangelho, a idéia que tem Deus dos homens denuncia a<br />
manipulação que a figura de Deus exerce sobre o sujeito, o qual se<br />
torna um joguete sob o poder do Divino. O poder, segundo o roman-<br />
ce, também configura um objetivo constante que Deus busca alcan-<br />
çar através da exploração de condições favoráveis para encantar e<br />
fascinar os homens, revelando, assim, o caráter pernicioso, autoritá-<br />
rio e ambicioso de Deus em O evangelho segundo Jesus Cristo.<br />
No romance, o homem Jesus Cristo é a maior arma para Deus<br />
dominar os homens, pois como Deus fala num diálogo com Cristo:<br />
(...) serás a colher que mergulharei na humanidade<br />
para retirar cheia dos homens que acreditarão<br />
no deus novo em que vou me tornar,<br />
Cheia de homens, para os devorares, Não preci-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
205
sa que eu o devore, quem a si mesmo se devorará”<br />
(SARAMAGO, 2003: 311).<br />
Desse modo, o grande caminho que Deus encontrou para disse-<br />
minar a muitos continentes e países o seu poder foi trazer à luz Jesus<br />
Cristo como mártir. Por isso, Deus revela a ajuda que precisa de Je-<br />
sus, como ele mesmo diz, para “alargar a minha influência, a ser<br />
deus de muito mais gente” (EV, 309), uma vez que não o satisfaz<br />
mais ser deus de um pequeno povo que é o povo judeu . Cresce a<br />
ambição de invadir e conquistar mais homens, abrindo uma possibi-<br />
lidade para pensarmos no papel da religião cristã durante as coloni-<br />
zações.<br />
Abre-se, então, um caminho alternativo àqueles inventados pe-<br />
los homens da crença divina. Julgamos a visão positiva do romance<br />
aquilo que o narrador transforma, modifica, enfim, subverte. A sua<br />
interpretação, fundamentada na sua visão de mundo, leva a apresen-<br />
tar os fatos a partir de uma perspectiva particular. Por isso, os perso-<br />
nagens de O evangelho se caracterizam por um caráter,<br />
comportamento e situações estritamente pautados nas necessidades,<br />
nas falhas e nos sentimentos humanos. Por isso, em vez de ouro,<br />
incenso e mirra, os três reis magos transformam-se em pastores e dão<br />
aos seus pais pão, leite e queijo; por isso a gravi<strong>dez</strong> de Maria não se<br />
faz pelo Espírito Santo, isto é, sem a ação sexual, mas sim por um<br />
ato de amor com José. Assim, apesar dos toques de ironia, descreve o<br />
narrador a cena:<br />
Deus que está em toda a parte, estava ali, mas,<br />
sendo aquilo que é, um puro espírito, não podia<br />
ver como a pele de um tocava a pele do outro,<br />
como a carne penetrou a carne dela, criadas<br />
uma e outra para isso mesmo, e, provavelmente,<br />
já nem lá se encontraria quando a semente sagrada<br />
de José se derramou no sagrado interior<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
2<strong>06</strong>
de Maria, sagrados ambos por serem a fonte e a<br />
taça da vida, em verdade há coisas que o próprio<br />
Deus não entende, embora as tivesse criado<br />
(SARAMAGO, 2003: 19).<br />
Toda contestação contida em O evangelho em relação aos ideais<br />
cristãos, as oposições entre o bem e o mal, o céu e a terra volta-se<br />
para o restabelecimento do homem frente à vida. Manifesta-se, as-<br />
sim, um homem como “sentido da terra”. Mais uma vez chamaremos<br />
o personagem nietzschiano Zaratustra para nos ajudar a pensar o<br />
tratamento humano presente em Saramago. De acordo com tal pro-<br />
pósito, Zaratustra aclama aos homens: “Restituí, como eu, à terra a<br />
virtude extraviada. Sim; restituí ao corpo e à vida, para que dê à terra<br />
o seu sentido, um sentido humano” (NIETZSCHE, 2005: 71).<br />
Ao contrário do homem da crença, que pensa em atribuir sua vi-<br />
da aos valores sobrenaturais como se sua vida não se encontrasse<br />
mais aqui, mas sim em outro mundo, sonhado e belo, que se chama<br />
Paraíso, o homem que detém o “sentido da terra” vive a partir da<br />
valorização dos sentidos, da terra, da vida, dos instintos, das sensa-<br />
ções e do corpo; sem a preocupação de que deve alcançar o mundo<br />
além.<br />
Dentre várias passagens que se pode citar a fim de exemplificar<br />
esses elementos humanos nos personagens do romance, seleciona-<br />
mos aquela que mostra a chegada do anjo que, travestido de pedinte,<br />
logo no início do romance, traz para Maria a tigela de barro. A figura<br />
do anjo deixa a Maria uma espécie de máxima que traduz “o sentido<br />
da terra”:<br />
(...) O barro ao barro, o pó ao pó, a terra à terra,<br />
nada começa que não tenha de acabar, tudo o<br />
que começa nasce do que acabou. (...) esse é o<br />
único destino dos homens começar e acabar,<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
207
acabar e começar. Turbou-se Maria e perguntou,<br />
Isso que quer dizer, e o mendigo respondeu<br />
apenas, Mulher, tens um filho na barriga, e esse<br />
é o único destino dos homens, começar e acabar,<br />
acabar e começar (...) (SARAMAGO,<br />
2003: 23)<br />
A afirmação da vida se dá aqui a partir da idéia de que o inevi-<br />
tável destino do homem se cumpre com a aceitação de que tudo que<br />
existe na Terra está suscetível a nascer e morrer, começar e acabar.<br />
Parece que o narrador expõe tal pensamento como uma condição<br />
trágica do mundo, a qual se caracteriza por esse movimento de co-<br />
meçar e acabar. Aqui na terra é que toda dinâmica se resolve.<br />
Assim, o narrador, mais uma vez, ataca a maneira cristã de viver<br />
na terra, pois o aspecto aterrorizante da vida não pode ser soluciona-<br />
do através da redenção dos pecados para alcançar o reino dos céus, o<br />
Paraíso. A vida, portanto, se desenha apenas nesse “começar e aca-<br />
bar, acabar e começar” sem expectativas de uma vida além-mundo.<br />
Referências Bibliográficas<br />
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins<br />
Fontes, 2000.<br />
DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a filosofia. Rio de Janeiro: Editora<br />
Rio, 1976.<br />
ECO, Umberto. Obra aberta: Forma e indeterminação nas poéticas<br />
contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 1969.<br />
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes,<br />
1992. (coleção tópicos)<br />
ISER, Wolfgang. “Mímesis e performance”. In: O Fictício e o imaginário<br />
– Perspectivas de uma Antropolgia Literária. Rio de Janeiro:<br />
EdUERJ, 1996.<br />
NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. Rio de Janeiro:<br />
Civilização Brasileira, 2005.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
208
------. Crepúsculo dos ídolos. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2000.<br />
SARAMAGO, José. “O autor como narrador”. Revista Cult, p. 25-<br />
27, <strong>dez</strong>embro de 1998.<br />
------. “O despertar da palavra”. Entrevista a Horácio Costa. Revista<br />
Cult, p. 1-8, <strong>dez</strong>embro de 1998.<br />
------. O evangelho segundo Jesus Cristo. São Paulo: Companhia das<br />
letras, 2005.<br />
------. “O fator Deus”. In: Folha de São Paulo, 19/09/2001.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
209
1. Introdução<br />
Viva o povo brasileiro:<br />
Fé na negritude e na pobreza<br />
Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz – UEFS / BA<br />
“Mulheres ricas, mulheres pobres; cultas ou analfabetas;<br />
mulheres livres ou escravas do sertão.<br />
Não importa a categoria social: o feminino<br />
ultrapassa a barreira das classes. Ao nascerem<br />
são chamadas ‘mininu fêmea’. A elas certos<br />
comportamentos, posturas, atitudes e até pensamentos<br />
foram impostos, mas também viveram<br />
o seu tempo e o carregaram dentro delas”.<br />
(FALCI, 1997, p. 241)<br />
A mulher negra, assim como o homem negro, de origem africa-<br />
na, foi aqui no Brasil escravizado. Desde o início do séc. XIX que o<br />
governo britânico pôs fim à escravidão em suas colônias no Caribe.<br />
Do mesmo modo procedeu o governo francês. No Novo Mundo, ou<br />
seja, na América, a escravidão prosseguiu. Isso ia de encontro aos<br />
ideais de igualdade, liberdade e fraternidade tomados de empréstimo<br />
da Revolução Francesa e aplicados aqui em meio às ondas de inde-<br />
pendência que corriam pelo continente.<br />
O Brasil, último país a abolir a escravatura, em 13 de maio de<br />
1888, só o fez por ceder às pressões da Inglaterra, que exigiu como<br />
parte do reconhecimento da independência brasileira, o firme com-<br />
promisso de abolição do tráfico de escravos.<br />
A escravidão persistiu por tanto tempo no Brasil devido à forte<br />
dependência do trabalho escravo. Durante os séculos XVI, XVII e<br />
até o XIX, os escravos foram usados nas plantações de cana-de-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
210
açúcar do Nordeste. Nesse período, desenvolveu-se uma sociedade<br />
patriarcal altamente dependente da mão de obra escrava. Esta depen-<br />
dência perpassava os limites das plantações, penetrando na vida do-<br />
méstica, trazendo para o âmbito familiar a influência cultural dos<br />
negros africanos.<br />
Além do Nordeste, a mão de obra escrava foi utilizada na mine-<br />
ração, no cultivo de algodão, no cultivo de café e em inúmeras ativi-<br />
dades urbanas.<br />
A situação da mulher escrava não diferia muito da do homem<br />
escravo. No entanto, o fato de ser mulher traz em si uma particulari-<br />
dade, ou seja, cabe a ela o privilégio da reprodução biológica.<br />
A mulher negra escrava foi o elo entre a senzala e a casa-grande.<br />
Foi ela o ventre gerador da imensa população mestiça e o seio que<br />
amamentou seus filhos e os filhos dos senhores. Assim refere-se<br />
Bueno a essa situação: “Um dos maiores países mestiços do mundo,<br />
o Brasil foi gerado também em ventre escravo. Raras foram as socie-<br />
dades coloniais nas quais houve tamanho intercurso sexual entre<br />
senhores e suas escravas como nos trópicos brasileiros” (2003: 119).<br />
O branco e o negro se misturavam no interior da casa-grande e,<br />
desta forma, alteravam as relações sociais e culturais. Essas relações,<br />
baseadas no poder, na vida doméstica e sexual, nos negócios e na<br />
religiosidade forjavam, por sua vez, a base da sociedade brasileira.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
211
2. Mulher negra e literatura<br />
A identidade feminina foi sendo construída através de várias ó-<br />
ticas. De acordo com a visão biológica, a mulher é inferior ao ho-<br />
mem fisicamente; sob a ótica religiosa judaico-cristã, ela é definida<br />
como subproduto da costela de Adão; do ponto de vista cultural, ela<br />
tem um determinado espaço e o homem outro. Todos esses argumen-<br />
tos foram usados para construir uma imagem negativa da mulher,<br />
colocando-a em todos os níveis de subordinação, opressão e exclu-<br />
são. Tudo isso, contudo, está relacionado com o papel exercido pela<br />
mulher branca: ser frágil que, historicamente, foi protegido e oprimi-<br />
do pela sociedade patriarcal.<br />
A figura feminina recebeu, na literatura ocidental, diversas for-<br />
mas de tratamento: de pura e casta, como a Virgem Maria, à diabóli-<br />
ca, como Lilith.<br />
No entanto, os trabalhos sobre mulheres buscam apresentá-las<br />
dando conta do seu processo histórico, da sua atuação como sujeitos<br />
ativos, libertando-as das imagens de passividade, ociosidade e confi-<br />
namento no espaço do lar, procurando descortinar as esferas de in-<br />
fluência e com isso recuperar os seus testemunhos.<br />
Del Priore (2000: 9) assim argumenta:<br />
[...] a tarefa não é fácil por uma simples razão:<br />
apesar de estar presentes desde o início do processo<br />
de colonização, de participar da luta contra<br />
as árduas condições de vida entre os séculos<br />
XVI e XVIII, da grande variedade de lugares<br />
que ocuparam em diferentes grupos sociais, raciais<br />
e religiosos, elas não eram muito visíveis.<br />
Sua quase invisibilidade as identificava “aos<br />
debaixo”. Isso porque a maioria das mulheres<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
212
era analfabeta, subordinada juridicamente aos<br />
homens e politicamente inexistente.<br />
A mulher foi vítima do silêncio que sempre norteou a constru-<br />
ção da identidade nacional. Seu comportamento, seja na história ou<br />
na ficção, denotava obediência em face às imposições de um mundo<br />
configuradamente masculino.<br />
A literatura é o porta-voz dos valores da sociedade. Ela é a fonte<br />
de recuperação dos “silêncios”, dos “sussurros”, dos “gemidos” que<br />
povoam o imaginário social das obras literárias. Em relação ao povo<br />
negro, assim relaciona Montenegro literatura e escravidão: “A ma-<br />
neira como a literatura descreveu, instituiu, desenhou o quadro Abo-<br />
lição/escravidão, por um lado, reflete o pensamento dominante de<br />
uma época e, por outro, descortina uma parte do que a sociedade<br />
projeta, modula, antecipa como futuro” (1988: 5).<br />
Na literatura brasileira anterior a 1850, a figura do negro, inclu-<br />
indo aí a da mulher, praticamente não existe. Isso causa estranha-<br />
mento devido à grande participação do negro nas atividades diárias.<br />
Acredita-se que esse fato seja decorrente do posicionamento do es-<br />
critor brasileiro dessa época, que não considerava o escravo como<br />
um ser humano.<br />
No bojo dos ideais românticos de independência e liberdade, os<br />
escritores brasileiros vêem na figura do índio a autêntica identidade<br />
nacional. Obras como Os Timbiras, de Gonçalves Dias e O Guarani,<br />
de José de Alencar, trazem o ameríndio como o representante da<br />
força e da exuberância da natureza brasileira. Quando finalmente o<br />
negro aparece na literatura brasileira é para contrastar com o índio.<br />
Aquele representava a realidade da raça colonizada, não sendo páreo<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
213
para o mítico índio como atrativo literário. Para Brookshaw (1983:<br />
32):<br />
[...] durante e depois do conflito que envolveu a<br />
Lei do Ventre Livre, a natureza antiescravocrata<br />
das obras literárias abolicionistas tornou-se<br />
mais marcante. O estereótipo do Escravo Fiel,<br />
embora não desaparecesse por completo, deu<br />
primazia aos estereótipos do Escravo Imoral e<br />
do Escravo Demônio, ambos os quais eram<br />
prontamente reconhecidos pelos leitores porque<br />
eram baseados no preconceito tradicional dos<br />
brancos contra o negro. O Escravo Imoral era a<br />
escrava robusta, sempre querendo sexo com seu<br />
senhor; o Escravo Demônio era o “quilombola”,<br />
ou fugitivo, que deu as costas à tutela do<br />
senhor branco, confirmando, assim, sua selvageria.<br />
A literatura brasileira foi escrita basicamente por escritores<br />
brancos. Estes pertenciam à classe dominante e, segundo Lobo<br />
(1993: 171), “começaram a imprimir no papel uma imagem pejorati-<br />
va, destrutiva, corrosiva do escravo e posteriormente do negro livre<br />
que lhe eram inferiores socialmente”. Corroborando esta afirmativa,<br />
acentua Flores (1995: 10):<br />
[...] a escravidão foi uma das maiores tragédias<br />
da história mundial, no entanto, nenhum dramaturgo<br />
brasileiro do século XIX, inclusive os abolicionistas,<br />
colocou em cena as agruras da<br />
captura do negro na África, a separação da família,<br />
a infernal viagem nos navios tumbeiros,<br />
as incertezas da chegada na terra desconhecida,<br />
o atroz mercado humano onde amigos e parentes<br />
eram vendidos ou separados, a adaptação ao<br />
cativeiro, a vida no eito, as resistências, as fugas<br />
e a morte dos escravos. Também não há<br />
texto que explore como temática a situação do<br />
liberto.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
214
2.1. Literatura e História<br />
O historiador moderno toma os textos literários como fonte de<br />
documentação histórica, desde que aqueles se enquadrem nos concei-<br />
tos de realidade e objetividade.<br />
A literatura cria uma supra-realidade ao criar um universo autô-<br />
nomo, sem nenhum tipo de vínculo ou compromisso com a realidade<br />
aparente. No entanto, esse descompromisso abre um enorme leque de<br />
possibilidades dentro da realidade recriada. O escritor, ao mergulhar<br />
em seu imaginário, registra fatos que retratam o mundo do qual faz<br />
parte, portanto não está por completo livre dos acontecimentos do<br />
seu tempo.<br />
Toda obra literária é marcada pelas relações que o autor mantém<br />
com o mundo que o cerca, ou seja, ele é criador e ao mesmo tempo<br />
prisioneiro de seu universo.<br />
A escravidão do negro é um fato que marcou a história brasilei-<br />
ra. A literatura nacional apresenta várias obras que trataram deste<br />
tema, sendo estas, muitas vezes, a fonte na qual historiadores encon-<br />
tram determinados aspectos que não se acham em tratados de histó-<br />
ria. Para Flores (1995: 8):<br />
[...] o historiador pode buscar o mundo das idéias,<br />
no relato literário que, com sua dimensão<br />
fictícia e imaginária dos fatos, mantém um aparato<br />
conceitual relacionado a uma realidade. A<br />
análise dos códigos e das convenções retóricas<br />
do discurso, como formas submersas de pensamento<br />
não só do autor como de sua época, permite<br />
o entendimento de uma realidade histórica.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
215
2.2. A negra escrava<br />
A mulher sempre foi vista como ser inferior, seja ela de qual-<br />
quer cor, etnia, cultura, credo, etc. No entanto, a mulher negra nunca<br />
foi vista como frágil. Ela foi explorada e, durante muito tempo, sus-<br />
tentou a economia nacional trabalhando como escrava nas lavouras,<br />
na casa-grande, nas ruas – neste ambiente exercia as atividades de<br />
vendedora, lavadeira, cozinheira, artesã, etc.<br />
Se no passado a mulher negra escravizada serviu às frágeis mu-<br />
lheres brancas, hoje continua escrava do mundo globalizado, servin-<br />
do como doméstica, faxineira, cozinheira, varredora de rua, catadora<br />
de papel, dentre outras atividades.<br />
Os estudos de gênero não dão conta de mostrar as diferenças en-<br />
tre a opressão sofrida pela mulher branca e a opressão sofrida pela<br />
mulher negra. Segundo Giacomini (1988: 17):<br />
Não existe a “mulher”, geral e abstrata, mas<br />
mulheres concretas, inseridas em classes sociais<br />
historicamente determinadas. Se é certo que em<br />
todas as classes de nossa sociedade a mulher é<br />
oprimida, não se pode, no entanto, esquecer que<br />
a intensidade e, sobretudo, a natureza dessa opressão<br />
são diferenciadas.<br />
De acordo com Giacomini (1988), não se pode pensar em mu-<br />
lher oprimida sem se fazer referências às heranças deixadas pela<br />
escravidão às mulheres das classes exploradas e às mulheres das<br />
classes dominantes. No entanto, deve-se, antes de tudo, compreender<br />
a situação da negra escrava e suas relações enquanto mulher e escra-<br />
va.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
216
A mulher escrava, seja ela africana ou crioula, só passa a ter al-<br />
guma relevância a partir da obra Casa-grande e senzala, de Gilberto<br />
Freire, publicada em 1933. Para Freyre, a mulher negra foi o veículo<br />
da cultura escrava dentro da família senhorial. De acordo com Del<br />
Priore (2000: 10):<br />
Mesmo para o leitor que nunca folheou sua obra<br />
magna, Casa-grande & senzala, convém dizer<br />
que esse foi o texto que mais discussões<br />
despertou sobre o papel e a função da mulher<br />
na sociedade brasileira. Debates sobre a submissão<br />
sexual das escravas, o caráter patriarcal<br />
da família brasileira, a importância das mulheres<br />
indígenas na formação dos primeiros núcleos<br />
de povoamento incentivaram várias obras<br />
que aí estão. E mais: Freyre não apenas serviu<br />
como ponto de partida para um amplo debate<br />
sobre o papel da mulher nos primórdios da colonização,<br />
como as fontes documentais por ele<br />
utilizadas, inesgotavelmente pilhadas, nortearam<br />
a maior parte dos trabalhos históricos sobre<br />
sexualidade, vida privada, família e trabalho<br />
feminino. Em outras palavras, ele foi e continua<br />
sendo um grande inspirador.<br />
3. Viva o povo brasileiro: viva Maria da Fé<br />
Na obra Viva o povo brasileiro, publicada em 1984, cuja histó-<br />
ria se passa na Ilha de Itaparica – Bahia, o escritor brasileiro João<br />
Ubaldo Ribeiro percorre quatro séculos da história do Brasil, dando<br />
voz à personagem Maria da Fé, que subleva a ordem vigente, usando<br />
o seu discurso para recontar a história brasileira a partir da ótica do<br />
povo negro.<br />
Através de Maria da Fé, João Ubaldo faz política, levantando<br />
meios para burlar as dominações, sejam estas do discurso europeu ou<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
217
do norte-americano. A voz de Maria da Fé denuncia os problemas<br />
nacionais e, ao mesmo tempo, preserva os valores da cultura mestiça.<br />
A sociedade branca vê a mulata Maria da Fé como bandida e<br />
malfeitora, como aquela que semeia terror e desordem. No entanto,<br />
João Ubaldo a mostra como a versão feminina de Zumbi dos Palma-<br />
res e Antônio Conselheiro; como a mulher que tenta unir os negros<br />
através da valorização de sua cultura e da revitalização de sua lin-<br />
guagem.<br />
Segundo Cruz (2003: 52):<br />
[...] a revisão da história brasileira por Maria da<br />
Fé só se torna possível mediante a sua migração<br />
do litoral para o sertão, buscando neste as forças<br />
ocultas que representam as raízes culturais<br />
do povo brasileiro. Logo, podemos concluir que<br />
Maria da Fé não representa, na obra de João<br />
Ubaldo Ribeiro, a voz feminista, mas a voz feminina<br />
que revisa a história do seu povo através<br />
da manutenção da memória e da valoração da<br />
identidade.<br />
“Maria da Fé”. Este nome tem relação direta com a personagem<br />
que o porta. A mulata Maria da Fé é um misto de santa e demônio.<br />
Sua santidade, através da fé, possibilita-lhe a desconstrução dos mo-<br />
delos empregados para domesticar a cultura do seu povo. Seu lado<br />
demoníaco é apresentado pelo seu discurso, pois este traz em seu<br />
bojo a transgressão ao que é imposto pela cultura dominante. De<br />
acordo com Brookshaw (1983: 12):<br />
A associação da cor preta com maldade e feiúra,<br />
e da cor branca com bondade e beleza remonta<br />
à tradição bíblica, resultando daí que o<br />
simbolismo do branco e preto constitui parte intrincada<br />
da cultura européia, permanecendo em<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
218
seu folclore e em seu patrimônio literário e artístico.<br />
Maria da Fé tem consciência de que sua identidade representa a<br />
chave do seu poder sobre si e sobre os outros. Sendo assim, ela mos-<br />
tra-se capaz de desencadear e de dirigir os fatos. Ainda menina, Ma-<br />
ria da Fé é desagregada da família para absorver o modelo europeu.<br />
Na escola, ouvia repetidamente o discurso europeu através da profes-<br />
sora, contudo não prestava atenção a ele. Este ato revela a sua insu-<br />
bordinação à ordem imposta.<br />
Maria da Fé carrega em si os conceitos de verdade e origem.<br />
Sua verdade: a busca da construção da sua nacionalidade. Sua ori-<br />
gem é a própria origem de seu povo: pai que não assume a paterni-<br />
dade; mãe morta prematuramente. Através de Maria da Fé, João<br />
Ubaldo Ribeiro mostra a ruptura dos meios de identificação estabele-<br />
cidos como padrão pela sociedade patriarcal. Maria da Fé sabe quem<br />
é seu pai biológico, mas este não a assume perante a sociedade. Com<br />
isso, João Ubaldo apresenta outras marcas de identidade de Maria da<br />
Fé: mulher negra que luta pelo povo e pela terra.<br />
Então Maria da Fé – este é o nome dessa grande<br />
guerreira – partiu para o sertão com seus milicianos,<br />
porque ouviu dizer que no sertão havia<br />
muita gente revoltada disposta a combater contra<br />
a tirania. E aqui no sertão se sabe que ela<br />
apareceu por aqui por acolá, às vezes guerreando<br />
para justiça quando pôde, às vezes espalhando<br />
a Irmandade da Casa da Farinha e o orgulho.<br />
(RIBEIRO, 1984: 520)<br />
O discurso da personagem Maria da Fé está voltado para a con-<br />
quista da soberania do povo brasileiro. Em sua fala, Da Fé não luta<br />
apenas por uma categoria de indivíduos. Para ela, o ser humano,<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
219
independente de gênero, classe ou etnia, deve desenvolver-se auto-<br />
nomamente.<br />
Não se sabe por onde anda Maria da Fé, nem o que está fazendo<br />
agora. Mas se sabe que, como o seu nome, ela continua acreditando<br />
que um dia vai vencer, nem que não seja ela em pessoa, mas quem<br />
herde as suas idéias e a sua valentia, que ela acha que serão muitos.<br />
Essa é a mensagem deixada por João Ubaldo a todas as mulheres,<br />
sejam elas negras, mulatas ou brancas.<br />
4. Considerações finais<br />
Os estudos sobre mulheres vêm sendo, ao longo dos últimos a-<br />
nos, aprofundados. No entanto, faz-se necessário superar a dicotomia<br />
que permanece e que coloca a mulher ou na posição de vítima ou na<br />
posição de herói.<br />
Na literatura brasileira essa dicotomia é mantida, e o papel da<br />
mulher negra ainda não está bem definido.<br />
Em Viva o povo brasileiro, uma narrativa irônica e paródica, Jo-<br />
ão Ubaldo contribuiu, com sucesso, para as discussões de gênero.<br />
Sua Maria da Fé é a imagem da mulher negra que luta, que tem posi-<br />
ção política. Seu discurso é o discurso do seu povo. Ceccantini assim<br />
define João Ubaldo Ribeiro e sua obra:<br />
Pode-se afirmar que, se há um escritor brasileiro<br />
vivo cuja obra tenha por questão fulcral a<br />
pesquisa da identidade nacional, e ao mesmo<br />
tempo seja sua mais aguda expressão, esse escritor<br />
é João Ubaldo Ribeiro. Dificilmente encontraremos<br />
outro autor contemporâneo que<br />
tenha conseguido plasmar, no conjunto de sua<br />
obra e com tanta constância e precisão, o engenhoso<br />
amálgama da investigação da brasilidade<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
220
e de formas que a expressam na medida exata.<br />
O que significa ser brasileiro? Qual é nossa identidade<br />
política, econômica e cultural? O que<br />
somos nós – apenas um país sucessiva e eternamente<br />
colonizado, sempre volúvel entre tantas<br />
dependências? Que sensibilidade é a nossa?<br />
Que forças nos impulsionam ou oprimem? Qual<br />
voz ou quais vozes nos expressam? Que línguas<br />
falamos? A obra de João Ubaldo Ribeiro disc ute<br />
essas questões, de maneira mais ou menos<br />
explícita ao longo do tempo, e simultaneamente<br />
se oferece ao leitor como resposta das mais criativas<br />
a todas elas, no intenso diálogo que estabelece<br />
com a tradição literária nacional ou<br />
estrangeira (1999: 103).<br />
A mulher negra, em pleno século XXI, continua lutando pelos<br />
seus direitos, principalmente quanto à sua sexualidade. A negra é o<br />
estereótipo da mulher fogosa, exuberante, de medidas fartas. Con-<br />
forme Lobo (1993: 189), “Além do machismo como elemento re-<br />
gressor na sociedade, a mulher negra tem de enfrentar ainda a<br />
dificuldade de aceitação da sua própria imagem, devido ao precon-<br />
ceito racial que cerca o físico da raça negra”. A mulher negra luta<br />
diariamente para garantir o seu lugar na sociedade: mãe, esposa,<br />
trabalhadora, estudante, empresária, modelo, cantora, atriz etc. Ela<br />
não é somente a sambista, a doméstica, a mulata. Ela é o conjunto<br />
formado por todos esses elementos.<br />
Referências Bibliográficas<br />
ALMEIDA, Ana Maria Leal. Da casa e da roça: a mulher escrava<br />
em Vassouras no século XIX. 2001. 141 f. Dissertação (Mestrado<br />
em História Social do Trabalho), Universidade Severino<br />
Sombra, Vassouras-RJ.<br />
BROOKSHAW, David (1983). Raça e cor na literatura brasileira.<br />
Tradução Marta Kirst. Porto Alegre: Mercado Aberto.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
221
CECCANTINI, João Luís C. T. (1999). Cadernos de literatura brasileira,<br />
Poços de Caldas: Instituto Moreira Salles, p. 103.<br />
COSTA, Emília Viotti da (1998). Da senzala à colônia. 4. ed. 2.<br />
reimp. São Paulo: Fundação Editora da UNESP.<br />
CRUZ, Maria de Fátima Berenice da. Viva o povo brasileiro: uma<br />
escrita sobre o palimpsesto da cultura. 2003. 118 f. Dissertação<br />
(Mestrado em Literatura e Diversidade Cultural), Departamento<br />
de Letras e Artes, Universidade Estadual de Feira de Santana,<br />
Feira de Santana.<br />
DEL PRIORE, Mary (2000). Mulheres no Brasil colonial. São Paulo:<br />
Contexto.<br />
FALCI, Miridan Knox (1997). Mulheres do sertão nordestino. In:<br />
DEL PRIORE, Mary (Org.). História das mulheres no Brasil.<br />
São Paulo: Contexto. p. 241.<br />
FLORES, Moacyr (1995). O Negro na dramaturgia brasileira:<br />
1838-1888. Porto Alegre: EDIPUCRS.<br />
GIACOMINI, Sônia Maria (1988). Mulher e escrava: uma introdução<br />
histórica ao estudo da mulher negra no Brasil. Petrópolis:<br />
Vozes.<br />
HISTÓRIA da vida privada no Brasil: Império. (1998). 3. reimp.<br />
Coordenador geral da coleção Fernando A. Novais; organizador<br />
do volume Luiz Felipe de Alencastro. São Paulo: Companhia<br />
das Letras. v. 2.<br />
LOBO, Luiza (1993). Negritude e literatura. In: ______. Crítica sem<br />
juízo. Rio de Janeiro: Francisco Alves.<br />
MONTENEGRO, Antonio Torres (1988). Abolição. São Paulo:<br />
Ática.<br />
MOTT, Maria Lúcia de Barros (1988). Submissão e resistência: a<br />
mulher na luta contra a escravidão. São Paulo: Contexto.<br />
SCHWARCZ, Lília Moritz (1996). Negras imagens. São Paulo: Edusp<br />
/ Estação Ciência.<br />
SCHUMAHER, Schuma; BRAZIL, Érico Vital (Org.) (2000). Dicionário<br />
mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade. Rio de<br />
Janeiro: Jorge Zahar.<br />
SCISÍNIO, Alaôr Eduardo (1997). Dicionário da escravidão. Rio de<br />
Janeiro: Léo Christiano Editorial.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
222
Um problema de gênero em Murilo Rubião:<br />
“O pirotécnico Zacarias” e “A cidade”,<br />
como exemplo<br />
Angélica Maria Santana Batista – UERJ<br />
Murilo Rubião é um dos poucos escritores brasileiros comume n-<br />
te vistos pela crítica literária sob a égide do Fantástico. Sua narrativa<br />
constrói-se, fundamentalmente, com a presença do insólito no uni-<br />
verso ficcional, ou seja, do sobrenatural, do extraordinário, do meta-<br />
empírico, do incomum. Contudo, a partir de uma leitura teórico-<br />
analítica de sua obra, composta de trinta e três contos, é possível<br />
perceber que há uma inadequação terminológica no emprego do ter-<br />
mo Fantástico para classificar, em categoria de gênero, a produção<br />
rubiana, uma vez que a maior característica desse gênero seria o<br />
questionamento do insólito por meio da razão, o que não se verifica<br />
nas narrativas do autor. Em outras palavras, no Fantástico, há a coe-<br />
xistência nada harmônica de duas realidades – uma racional, porém<br />
ilógica, e outra irracional, contudo lógica – que não podem ser total-<br />
mente pacificadas. Para Todorov, estudioso de destaque na estrutura-<br />
ção e nas temáticas do gênero:<br />
O fantástico (...) dura apenas o tempo de uma<br />
hesitação: hesitação comum ao leitor e à personagem,<br />
que devem decidir se o que percebem<br />
depende ou não da “realidade”, tal qual existe<br />
na opinião comum. No fim da história, o leitor,<br />
quando não a personagem, toma contudo uma<br />
decisão, opta por uma ou outra solução, saindo<br />
desse modo do fantástico. Se ele decide que as<br />
leis da realidade permanecem intactas e permitem<br />
explicar os fenômenos descritos, dizemos<br />
que a obra se liga a um outro gênero: o estranho.<br />
Se, ao contrário, decide que se devem ad-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
223
mitir novas leis da natureza, pelas quais o fenômeno<br />
pode ser explicado, entramos no gênero<br />
do maravilhoso. (Todorov, 1992, p. 47-48).<br />
Não há, na obra de Murilo Rubião, a ocorrência definida ou<br />
“pura” do Fantástico, do Estranho, do Maravilhoso ou do Realismo<br />
Maravilhoso – gêneros também filiados à “literatura do sobrenatural”<br />
(Cf. Furtado, 1980). Em relação ao Realismo Maravilhoso, ao con-<br />
trastá-lo com o Fantástico, Irlemar Chiampi, pesquisadora brasileira<br />
que se dedicou a estudar o gênero, afirma:<br />
Ao contrário da “poética da incerteza”, calculada<br />
para obter o estranhamento do leitor, o realismo<br />
maravilhoso desaloja qualquer efeito<br />
emotivo de calafrio, medo ou terror sobre o evento<br />
insólito. No seu lugar, coloca o encantamento<br />
como um efeito discursivo pertinente à<br />
interpretação não-antitética dos componentes<br />
diegéticos. O insólito, em óptica racional, deixa<br />
de ser o “outro lado”, o desconhecido, para incorporar-se<br />
ao real: a maravilha é(está) (n)a<br />
realidade. Os objetos, seres ou eventos que no<br />
fantástico exigem a projeção lúdica de suas<br />
probabilidades externas e inatingíveis de explicação,<br />
são no realismo maravilhoso destituídos<br />
de mistério, não duvidosos quanto ao universo<br />
de sentido a que pertencem. Isto é, possuem<br />
probabilidade interna, têm causalidade no próprio<br />
âmbito da diégese e não apelam, portanto,<br />
à atividade de deciframento do leitor (Chiampi,<br />
1980, p. 59).<br />
É perceptível, por conseguinte, a impossibilidade de atrelar Mu-<br />
rilo Rubião a qualquer um dos gêneros citados, pois o tratamento<br />
dado ao insólito nesses gêneros difere bastante de sua maneira de<br />
escrever. O insólito, em seus contos, é percebido como estranho ao<br />
real, como no Fantástico, mas, diferente deste, não é questionado de<br />
maneira que racional e irracional se confrontem. O insólito também é<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
224
naturalizado como parte do cotidiano, como no Realismo Maravilho-<br />
so, mas não com efeito de encantamento (Cf. Chiampi, 1980). Ele é<br />
aceito como parte do real, mas não é natural como o Maravilhoso,<br />
visto que é percebido como algo que foge do normal, não provenien-<br />
te de uma esfera superior e deífica.<br />
Pode-se afirmar que a inserção do insólito no quotidiano da nar-<br />
rativa curta de Murilo Rubião se dá de forma que esse seja relativi-<br />
zado, repensado ou reconstruído, ou, ainda, simplesmente<br />
desintegrado. O estranhamento, então, não seria o próprio evento<br />
insólito, mas a maneira como as personagens se colocam diante dele:<br />
não de forma submissa, como no Maravilhoso, nem hesitante, como<br />
no Fantástico, nem encantada, como no Realismo Maravilhoso.<br />
Tais diferenças, no entanto, ao se estudar a narrativa de Murilo<br />
Rubião, não impedem a visualização da herança desses gêneros em<br />
sua obra. “O pirotécnico Zacarias”, por exemplo, apresenta-se como<br />
uma narrativa fronteiriça, pois tem claramente traços do Fantástico e<br />
do Realismo Maravilhoso sem, no entanto, estar filiado efetivamente<br />
a esses gêneros.<br />
No que tange ao Fantástico, há, nesse conto, traços que, mesmo<br />
sendo anulados no decorrer da narrativa, são importantes por de-<br />
monstrarem o questionamento do estado da personagem-narrador,<br />
auto ou homodiegético. Sua presença material no mundo vai de en-<br />
contro à certeza de que morrera, ao mesmo tempo que se conscienti-<br />
za de que, se estivesse morto, não poderia conviver com os vivos.<br />
Logo, existem, em princípio, duas realidades conflitantes e excluden-<br />
tes no texto:<br />
Raras são as vezes que, nas conversas de amigos<br />
meus, ou de pessoas das minhas relações,<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
225
não surja esta pergunta. Teria morrido o pirotécnico<br />
Zacarias?<br />
(...)<br />
Uma coisa ninguém discute: se Zacarias morreu,<br />
o seu corpo não foi enterrado.<br />
A única pessoa que poderia dar informações<br />
certas sobre o assunto sou eu. Porém estou impedido<br />
de fazê-lo porque os meus companheiros<br />
fogem de mim, tão logo me avistam pela<br />
frente. Quando apanhados de surpresa, ficam<br />
estarrecidos e não conseguem articular uma<br />
palavra (Rubião, 2005, p. 25-26).<br />
Zacarias não tem certeza em relação a sua existência: as infor-<br />
mações sobre sua morte são díspares. O fato é que seu corpo deveria<br />
ter morrido, mas sua personalidade continua vivendo, como se nada<br />
houvesse acontecido. Não poder confirmar sua morte evidencia a<br />
ambigüidade sentida pelo narrador. O impasse vivido por ele se des-<br />
dobra em uma sensação de impropriedade na narrativa. Como as<br />
demais personagens fogem ou ficam estarrecidas com sua presença e,<br />
assim, não atestam a veracidade da morte da personagem-narrador,<br />
fica-se sem saber se o que acontece é verdadeiro ou não.<br />
O insólito causa certo embaraço nas personagens e sua explica-<br />
ção se dá de forma dúbia. Versões existem para tornar real a ocor-<br />
rência de um morto que anda entre os vivos, mas nenhuma das<br />
explicações apresentadas é totalmente aceita. De acordo com o nar-<br />
rador autodiegético: “em verdade morri, o que vem de acordo à ver-<br />
são dos que crêem em minha morte. Por outro lado, também não<br />
estou morto, pois faço tudo o que antes fazia e, devo dizer, com mais<br />
agrado que anteriormente” (Rubião, 2005, p. 26). Sendo assim, as<br />
verdades apresentadas não podem ser equacionadas, já que mortos-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
226
vivos inexistem na esfera real e não é possível existir um morto que<br />
está vivo ou um vivo que está morto.<br />
Levando-se em conta que a vida ou a morte de Zacarias depen-<br />
dem da “versão” dada para sua presença no mundo e isto existe por<br />
meio da intromissão do inverossímil em um mundo pautado pela<br />
verossimilhança, é possível perceber um embate construído para não<br />
permitir a solução, sendo o fenômeno insólito muito lógico para ser<br />
negado, contudo inadmissível pela razão, e aplicação natural muito<br />
pouco provável. Existe, aí, a hesitação entre as versões/verdades<br />
apresentadas, ou seja, o Fantástico aparece como força que rege essa<br />
duplicidade. Esta hesitação:<br />
mostra o homem circunscrito à sua própria racionalidade,<br />
admitindo o mistério, entretanto, e<br />
com ele se debatendo. Essa hesitação que está<br />
no discurso narrativo contamina o leitor, que<br />
permanecerá, entretanto, com a sensação do<br />
fantástico predominante sobre explicações objetivas.<br />
A literatura, nesse caso, se nutre desse<br />
frágil equilíbrio que balança em favor do inverossímil<br />
e acentua-lhe a ambigüidade (Rodrigues,<br />
1998, p. 11).<br />
A explosão de cores deslumbrada antes de seu atropelamento e<br />
sua subseqüente “ressurreição” assemelha-se a explosão de fogos de<br />
artifício: brilhante, mas efêmera, contribuindo, assim, para o enri-<br />
quecimento da hesitação:<br />
A princípio foi azul, depois verde, amarelo e<br />
negro. Um negro espesso, cheio de listras vermelhas,<br />
de um vermelho compacto, semelhante<br />
a densas fitas de sangue. Sangue pastoso com<br />
pigmentos amarelados, de um amarelo esverdeado,<br />
tênue, quase sem cor.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
227
Quando tudo começava a ficar branco, veio um<br />
automóvel e me matou.<br />
(...)<br />
A noite estava escura. Melhor, negra. Os filamentos<br />
brancos não tardariam a cobrir o céu.<br />
Caminhava pela estrada. Estrada do Acaba<br />
Mundo: algumas curvas, silêncio, mais sombras<br />
que silêncio.<br />
O automóvel não buzinou de longe. E nem<br />
quando já se encontrava perto de mim, enxerguei<br />
os seus faróis. Simplesmente porque não<br />
seria naquela noite que o branco desceria até a<br />
terra (Rubião, 2005, p. 26-27).<br />
Tal fato acarreta a sensação de que os acontecimentos parecem<br />
ocorrer em meio ao um mundo fulgurante, próprio dos sonhos. Os<br />
sentidos do narrador estavam maravilhados com a infinidade de co-<br />
res que vislumbrara. O carro que o atropelara acaba sendo parte de<br />
algo maior, quase uma ilusão. Eis o motivo por que o narrador tenta<br />
comprovar sua morte: os sentidos podem ser enganadores. Por isso,<br />
provas concretas ou testemunhas deveriam ser encontradas para a-<br />
calmar suas dúvidas, apesar das dificuldades:<br />
Tinha ainda que lutar contra o desatino que, às<br />
vezes, se tornava senhor dos meus atos e obrigava-me<br />
a buscar, ansioso, nos jornais, qualquer<br />
notícia que elucidasse o mistério que<br />
cercava meu falecimento.<br />
Fiz várias tentativas para estabelecer contato<br />
com meus companheiros da noite fatal e o resultado<br />
foi desencorajador. E eles eram a esperança<br />
que me restava para provar quão real fora<br />
minha morte (Rubião, 2005, p. 32).<br />
A sensação de irrealidade perpassa o conto de forma que o nar-<br />
rador afirma que existe um “desequilíbrio entre o mundo exterior e<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
228
meus olhos, que não se acomodavam ao colorido das paisagens es-<br />
tendidas na minha frente” (Rubião, 2005, p. 31). Tal desequilíbrio o<br />
impede de sustentar sua existência como algo pertencente ao mundo<br />
dos vivos ou dos mortos.<br />
Além disso, o desnível entre as esferas da vida e da morte, da<br />
certeza e da ilusão, da consciência e da inconsciência presente no<br />
texto provoca a construção de uma realidade pretensamente real que<br />
não exclui ou anula os mundos apresentados. O conto então se apro-<br />
xima do Fantástico, pois “a narrativa fantástica deixa permanecer a<br />
dúvida, nunca definindo uma escolha e tentando comunicar ao desti-<br />
natário do enunciado idêntica irresolução perante tudo o que lhe é<br />
proposto” (Furtado, 1980, p. 36). Ao se levar em conta tal afirmação,<br />
porém, “O pirotécnico Zacarias” não pode ser classificado como<br />
narrativa fantástica por não preservar até o fim da narrativa tal hesi-<br />
tação, saindo dessa forma da engessada estrutura narrativa do Fantás-<br />
tico – um gênero fechado por não se permitir atenuar o clima de<br />
ambigüidade da narrativa (Cf. Furtado, 1980).<br />
Outro gênero que se aproxima desse conto é o Realismo Mara-<br />
vilhoso, pois sabendo que este se propõe a “experimentar outras so-<br />
luções técnicas para construir uma imagem plurivalente do real”<br />
(Chiampi, 1980, p. 21), as “versões” para a morte de Zacarias podem<br />
se constituir como a expressão do caráter múltiplo da realida-<br />
de/verdade:<br />
Uns acham que estou vivo – o morto tinha apenas<br />
alguma semelhança comigo. Outros, mais<br />
supersticiosos, acreditam que minha morte pertence<br />
ao rol dos fatos consumados e o indivíduo<br />
a quem andam chamando de Zacarias não passa<br />
de uma alma penada, envolvida por um pobre<br />
invólucro humano. Ainda há os que afirmam de<br />
maneira categórica o meu falecimento e não a-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
229
ceitam o cidadão existente como sendo Zacarias,<br />
o artista pirotécnico, mas alguém muito parecido<br />
com o finado (Rubião, 2005, p. 25).<br />
Estas versões existem na tentativa de adequar a presença do pi-<br />
rotécnico no mundo real. A realidade da narrativa aceita qualquer<br />
uma das versões e, para falar a verdade, todas são apenas explicações<br />
desnecessárias diante do indiscutível: Zacarias parece ter morrido e<br />
comporta-se como vivo.<br />
A pluralidade das verdades deixou de ser considerada<br />
um irritante temporário, logo destinado<br />
a ser deixado para trás, e porque a possibilidade<br />
de que diferentes opiniões podem ser não apenas<br />
simultaneamente <strong>jul</strong>gadas verdadeiras, mas<br />
ser de fato simultaneamente verdadeiras (Bauman,<br />
1998, p. 25).<br />
Então não existe a preocupação de obter A verdade (única e<br />
verdadeira), mas de conseguir enxergar e conviver com toda(s) a(s)<br />
possível(eis) verdade(s). O que ocorre é uma realidade construída a<br />
partir do real e do maravilhoso, já que a existência de Zacarias é<br />
relativizada: não é vivo nem é morto, apenas existe.<br />
O cotidiano não é estremecido diante da inserção do insólito. O<br />
cadáver não parece sentir dor, já que está encantado com o desfile de<br />
cores que passa diante de seus olhos. Tal fato combina com seus<br />
sentimentos, pois, para a personagem-narrador, “sem cor jamais quis<br />
viver” (Rubião, 2005, p. 28). Além disso, os matadores não parecem<br />
se preocupar com o cadáver após o atropelamento:<br />
Havia silêncio, mais sombras que silêncio, porque<br />
os rapazes não mais discutiam baixinho.<br />
Falavam com naturalidade, dosando a gíria.<br />
Também o ambiente repousava na mesma calma<br />
e o cadáver – o meu ensangüentado cadáver<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
230
– não protestava contra o fim que os moços<br />
queriam me dar (Rubião, 2005, p. 28).<br />
O cadáver não se impressiona por escutar a discussão dos mo-<br />
ços, mesmo morto. Já os rapazes parecem não se importar com o<br />
assassinato de um homem em si, mas sim com o que fazer com o<br />
cadáver. O defunto então sai de sua posição de expectador e revolta-<br />
se com a decisão de ser jogado no precipício, por temer não ser des-<br />
coberto e seu nome não aparecer nas manchetes dos jornais:<br />
Não, eles não podiam roubar-me nem que fosse<br />
um pequeno necrológio no principal matutino<br />
da cidade. Precisava agir rápido e decidido:<br />
– Alto lá! Também quero ser ouvido.<br />
Jorginho empalideceu, soltou um grito surdo,<br />
tombando desmaiado, enquanto seus amigos,<br />
algo admirados por verem um cadáver falar, se<br />
dispunham a ouvir-me (Rubião, 2005, p. 29-<br />
30).<br />
Daí vem a ironia do conto. Não é a morte que embaraça o cadá-<br />
ver, nem o fato de estar jogado ensangüentado no asfalto, mas sim<br />
não aparecer nos jornais. É o esquecimento das pessoas que Zacarias<br />
teme, não a morte física. A vontade de aparecer e ser reconhecido,<br />
mesmo que seja em um necrológio, tira-o de sua pretensa indiferença<br />
em relação a tudo.<br />
Ademais, os fatos descritos acima mostram que tanto a persona-<br />
gem-narrador quanto seus matadores não sentem necessidade de<br />
explicar o insólito. Conversam normalmente e resolvem farrear noite<br />
afora, pois os rapazes “sentiam a impossibilidade de dar rumo a um<br />
defunto que não perdera nenhum dos predicados geralmente atribuí-<br />
do aos vivos” (Rubião, 2005:30), e resolvem abandonar um dos<br />
companheiros na estrada para saírem três casais, já que “fora fraco e<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
231
não soubera enfrentar com dignidade a situação” (Rubião, 2005, p.<br />
31). Assim, o desconhecido incorpora-se ao real de forma que “a<br />
maravilha é (está) (n)a realidade” (Chiampi, 1980, p. 59).<br />
Logo após, há uma visão única e orgânica do mundo. O real e o<br />
irreal fundem-se em uma realidade tanto natural quanto sobrenatural:<br />
Do que aconteceu em seguida não guardo recordações<br />
muito nítidas. A bebida que antes da<br />
minha morte pouco me afetava, teve sobre meu<br />
corpo defunto uma ação surpreendente; Pelos<br />
meus olhos entravam estrelas, luzes cujas cores<br />
ignorava, triângulos absurdos, cones e esferas<br />
de marfim, rosas negras, cravos em formas de<br />
lírios, lírios transformados em mãos. E a ruiva,<br />
que me fora destinada, enlaçando-me o pescoço<br />
com o corpo transmudado em longo braço metálico<br />
(Rubião, 2005, p. 31).<br />
Há o que Irlemar Chiampi chama de barroquismo descritivo, em<br />
que o excesso de significantes tenta, mas não consegue, alcançar a<br />
essência do significado. Os sentimentos são expressos por uma lin-<br />
guagem que, “ao revelar-se inadequada ao objeto, se retorce na ela-<br />
boração de uma constelação de significantes (...), que vão se<br />
anulando em vez de complementarem-se” (Chiampi, 1980, p. 86). A<br />
bebida funciona como propulsor de sensações oníricas confundidas<br />
com o empírico. A mescla de cores e formas, na verdade, simboliza<br />
um novo real.<br />
Contudo, essa narrativa não é realista maravilhosa, pelo fato de<br />
que a aceitação do insólito se dar de forma diversa: este não é parte<br />
da maravilhosa realidade, mas sim incorporado ao cotidiano para não<br />
atrapalhar os acontecimentos previstos pelas personagens. Não há o<br />
encantamento tão caro a esse gênero (Cf. Chiampi, 1980), mas sim<br />
sua inserção de forma banal, rotineira.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
232
Apesar de tão próximo do Fantástico e do Realismo Maravilho-<br />
so, “O Pirotécnico Zacarias” não pode ser confundido como repre-<br />
sentante de nenhum desses gêneros. Não há o questionamento do<br />
insólito como no Fantástico, nem mesmo o efeito de encantamento,<br />
como no Realismo Maravilhoso. Seria, então, a fusão desses gêneros<br />
com algo diferente.<br />
Mesmo que, em um primeiro momento, as versões para a morte<br />
de Zacarias demonstrem a pluralização da verdade, no decorrer da<br />
narrativa é possível perceber que estas versões se anulam, visto que o<br />
importante não é o postulado de uma ou de várias verdades, mas a<br />
certeza de que não existe verdade a ser defendida. A separação entre<br />
verdade e falsidade acaba não sendo importante para o texto e para o<br />
próprio narrador. A necessidade de explicação ou conforto dissipa-<br />
se:<br />
No passar dos meses, tornou-se menos intenso<br />
o meu sofrimento e menor a minha frustração<br />
ante a dificuldade de convencer os amigos que<br />
Zacarias que anda pelas ruas da cidade é o<br />
mesmo artista pirotécnico de outros tempos,<br />
com a diferença que aquele era vivo e este, um<br />
defunto (Rubião, 2005, p. 32).<br />
A improdutividade das tentativas de explicação da presença de<br />
Zacarias no mundo acaba por demonstrar que a origem do mal-estar<br />
da personagem não se encontra em sua maneira de viver, mas no<br />
jeito como as demais personagens encaram o defunto. A busca de<br />
uma explicação para a morte inexplicável de Zacarias no fim é inex-<br />
pressiva.<br />
A individualidade de Zacarias é a mesma. Não importa se vivo<br />
ou morto. É a consciência da existência do homem que é posta em<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
233
xeque. Para a personagem-narrador “não fosse o ceticismo dos ho-<br />
mens, recusando-se aceitar-me vivo ou morto, eu poderia abrigar a<br />
ambição de construir uma nova existência” (Rubião, 2005, p. 31).<br />
Este mal-estar-no-mundo não é conseqüência da “morte” de Zacari-<br />
as, mas de seu não enquadramento na ordem. Sua “morte” impossibi-<br />
lita quaisquer tentativas em ser igual aos demais, de estar inserido em<br />
algo.<br />
O sentimento de desesperança sentido no texto não existe pela<br />
não certeza da morte, mas pelo próprio significado absurdo da vida.<br />
Por trás dos seres há uma realidade que é um “arremedo”, não é sen-<br />
tida com plenitude. Após sua morte, Zacarias parece ser sensível a<br />
este sentimento que mostra sua dimensão como maior força:<br />
Só um pensamento me oprime: que acontecimentos<br />
o destino reservará a um morto se os<br />
vivos respiram uma vida agonizante? E a minha<br />
angústia cresce ao sentir, na sua plenitude, que<br />
a minha capacidade de amar, discernir as coisas,<br />
é bem superior à dos seres que por mim<br />
passam assustados (Rubião, 2005, p. 32).<br />
Não há impasses no conto: os vivos agonizam num vazio de in-<br />
compreensão e desamor e os mortos (ou estranhos à ordem) – repre-<br />
sentados por Zacarias – não são aceitos em lugar algum. Não há<br />
esperança de descanso eterno, apesar do narrador afirmar:<br />
Amanhã o dia poderá nascer claro, o sol brilhando<br />
como nunca brilhou. Nessa hora os homens<br />
compreenderão que, mesmo à margem da<br />
vida, ainda vivo, porque minha existência se<br />
transmudou em cores e o branco já se aproxima<br />
da terra para exclusiva ternura dos meus olhos<br />
(Rubião, 2005 p. 32).<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
234
Mas esta esperança é de certa forma negada. Tanto sua existên-<br />
cia quanto a dos outros seres estão nas mãos de algo não palpável.<br />
Será benéfico aos homens “compreenderem” a vida, mesmo mortos?<br />
Uma existência transmudada pode ser a melhor opção para alguém?<br />
São questões levantadas após certa reflexão. É esse clima de desen-<br />
canto que dá um tom diferente a essa narrativa, afastando-a assim<br />
dos demais gêneros abordados.<br />
O conto “A cidade”, por sua vez, não pode ser filiado a nenhum<br />
gênero estudado antes, por se construir de forma explicitamente di-<br />
versa destes. Essa narrativa provoca estranhamento em relação à<br />
atitude das personagens frente à integração de um estrangeiro à roti-<br />
na do lugar. O insólito se encontra no comportamento das persona-<br />
gens em aceitar e agir de acordo com leis incompreensíveis que, no<br />
entanto, não expressam a atuação do meta-empírico na ordem das<br />
coisas: o estranho está centrado na interação dos habitantes da cidade<br />
em contraste com as regras de um mundo exterior, não pela introdu-<br />
ção de fatos ou objetos ligados a esfera sobrenatural. Estaria esse<br />
conto então sendo insólito no que concerne ao extraordinário, ou<br />
seja, aquilo que está fora da ordem, do comum, do estabelecido.<br />
O narrador heterodiegético demonstra, já nas primeiras linhas,<br />
que o espaço a ser descoberto é diferente por meio do tom fatalista<br />
do texto:<br />
Destinava-se a uma cidade maior, mas o trem<br />
permaneceu indefinidamente na antepenúltima<br />
estação.<br />
(...)<br />
Não percebeu uma resposta direta do empregado<br />
da estrada, que se limitou a apontar o morro,<br />
onde se dispunham, sem simetria, <strong>dez</strong>enas de<br />
casinhas brancas.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
235
– Belas mulheres? – indagou o viajante.<br />
–Casas vazias.<br />
Percebeu logo que tinha pela frente um cretino.<br />
Apanhou as malas e se dispôs a subir as íngremes<br />
ladeiras que o conduziriam ao povoado.<br />
(...)<br />
Várias vezes voltou a cabeça, procurando fixar<br />
bem a paisagem que deixara para trás. Tinha o<br />
pressentimento de que não regressaria por aquele<br />
caminho (Rubião, 2005, p. 57-58).<br />
É desconhecida a razão pela qual Cariba desceu na cidade, mas<br />
“uma vaga tristeza” (Rubião, 2005: 58) a diferenciava das outras,<br />
eliminando (ou atenuando) a desconfiança e o sentimento de inexo-<br />
rabilidade percebidos no texto, emprestando-lhe a sobreposição de<br />
fascínio e incômodo. Tais sentimentos são confirmados no contato<br />
inicial da personagem principal com os habitantes da região. Os mo-<br />
radores o recebem com frieza e desconfiança e sua condição de es-<br />
trangeiro é potencializada. O absurdo, já prenunciado, ocorre:<br />
– Que cidade é esta? – perguntou, esforçandose<br />
para dar às palavras o máximo de cordialidade.<br />
Nem chegou a indagar pelas mulheres, conforme<br />
pretendia. Pegaram-no com violência pelos<br />
braços e o foram levando, aos trancos, para a<br />
delegacia de polícia:<br />
– É o homem procurado – disseram ao delegado,<br />
um sargento espadaúdo e rude.<br />
– Já temos vadios de sobra nesta localidade. O<br />
que veio fazer aqui? – perguntou o policial.<br />
– Nada.<br />
– Então é você mesmo. Como é possível uma<br />
pessoa ir a uma cidade desconhecida sem nenhum<br />
objetivo?A menos que seja um turista.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
236
– Não sou turista e quero saber onde estou.<br />
– Isso não lhe podemos revelar agora. Poderia<br />
prejudicar as investigações.<br />
– E por que as casas do morro estavam fechadas?<br />
– atalhou o desconhecido, agastado com a<br />
falta de poli<strong>dez</strong> com que o tratavam.<br />
– Se não tomássemos essa preocupação você<br />
não desceria.<br />
Cariba compreendeu tardiamente que a sedução<br />
das casinhas brancas fora um ardil para atraí-lo<br />
ao vale (Rubião, 2005, p. 58-59).<br />
Descobre-se, então, que há um desconhecido perigoso que fora<br />
visto, mas não identificado, por muitos. Os habitantes o temiam,<br />
porém “não sabiam descrever seu aspecto físico, se era alto ou baixo,<br />
qual a sua cor e em que língua falava” (Rubião, 2005, p. 60). A única<br />
pista factual é o telegrama da Chefia de Polícia, que indicava um<br />
delinqüente “reconhecido por sua exagerada curiosidade” (Rubião,<br />
2005, p. 62).<br />
Assim, o “criminoso” acaba por adentrar no âmbito do mito,<br />
compreendido pelo senso comum como “relato fantástico de tradição<br />
oral, geralmente protagonizado por seres que encarnam, sob forma<br />
simbólica, as forças da natureza e os aspectos gerais da condição<br />
humana” (Dicionário eletrônico Houaiss, 2001). Se o mito está liga-<br />
do ao simbólico, é possível compreender este desconhecido procur a-<br />
do como representação coletiva, não como ser palpável:<br />
O policial encerrou os interrogatórios, declarando<br />
que os depoimentos ali prestados eram<br />
suficientes para incriminar o acusado, porém,<br />
não desejava precipitar-se. Aguardaria o aparecimento<br />
de alguém que reunisse contra si indícios<br />
de maior culpabilidade e eximisse Cariba<br />
das acusações que lhe pesavam.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
237
– quer dizer que permanecerei preso esse tempo<br />
todo?<br />
A resposta do delegado desanimou-o: ficaria<br />
encarcerado até a captura do verdadeiro criminoso.<br />
E se o culpado não existisse? (Rubião, 2005, p.<br />
62).<br />
É do protesto de Cariba, que se percebe certo resquício do gêne-<br />
ro fantástico. É neste momento que a existência do desconhecido é<br />
questionada, mesmo fracamente. No entanto,<br />
O fantástico contenta-se em fabricar hipóteses<br />
falsas (o seu “possível” é improvável), em desenhar<br />
a arbitrariedade da razão, em sacudir as<br />
convenções culturais, mas sem oferecer ao leitor,<br />
nada além da incerteza. A falácia das probabilidades<br />
externas e inadequadas, as<br />
explicações impossíveis – tanto no âmbito do<br />
mítico – se constroem sobre o artifício lúdico<br />
do verossímil textual, cujo projeto é evitar toda<br />
asserção, todo significado fixo. O fantástico<br />
“faz da falsidade o seu próprio objeto, o seu<br />
próprio móvil (Chiampi, 1980, p.56).<br />
As pessoas não tentam racionalizar o acontecido. Não há incer-<br />
tezas diante do insólito: é uma realidade dada, sem contestação. Os<br />
habitantes da cidade estão amparados por uma verdade que transbor-<br />
da a compreensão de um não habitante. O forasteiro é parte do ani-<br />
quilamento das incertezas. A veracidade dos fatos é uma construção.<br />
Não há hesitação entre verdades paralelas e excludentes, como existe<br />
no Fantástico, mas sim a dilaceração da tentativa de se instituir uma<br />
verdade.<br />
É a não adequação a esta verdade que faz Cariba materializar o<br />
desconhecido, cuja essência é antes de tudo a desestabilidade da<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
238
ordem. O fato de ser forasteiro representa essa condição. A persona-<br />
gem principal se surpreende com o sistema do lugar, que não se as-<br />
semelha a nenhum outro. Mesmo ao aceitar as determinações da<br />
cidade, continua a ser estranho a ela:<br />
Cinco meses após a sua detenção, ele não mais<br />
espera sair da cadeia. Das suas grades, observa<br />
os homens que passam na rua. Mal o encaram,<br />
amedrontados, apressam o passo.<br />
(...)<br />
Caminha, dentro da noite, de um lado para outro.<br />
E, ao avistar o guarda, cumprindo sua ronda<br />
noturna, a examinar se as celas estão em ordem,<br />
corre para as grades internas, impelido por uma<br />
débil esperança:<br />
– Alguém fez hoje alguma pergunta?<br />
– Não. Ainda é você a única pessoa que faz<br />
perguntas nesta cidade (Rubião; 2005, p. 63).<br />
Por esse turno, vislumbram-se dois núcleos contrastantes: o<br />
primeiro, constituído por Cariba, representa a “visão de fora”, o es-<br />
tranhamento: Cariba incomoda a ordem da cidade por ser diferente<br />
dos outros; já o segundo núcleo é formado pela cidade, cujos habi-<br />
tantes não hesitam diante de explicações contrárias a suas certezas.<br />
Formam um grupo compacto, sustentado por uma “convicção da<br />
verdade” implacável, capaz de impedir qualquer indagação a respeito<br />
da realidade que acredita ser a verdadeira.<br />
Por isso, é possível concordar com Bauman quando afirma que<br />
“a noção de verdade pertence à retórica do poder” (1998, p. 143).<br />
A teoria da verdade (...) trata de estabelecer superioridade<br />
sistemática e, portanto, constante e<br />
segura de determinadas espécies de crenças,<br />
sob o pretexto de que a elas se chegou graças a<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
239
um determinado procedimento confiável, ou<br />
que é assegurado pela espécie de pessoas em<br />
que se pode confiar que o sigam. (1998, p.<br />
143).<br />
Ao sobrepor os núcleos observados, percebe -se a anulação des-<br />
tes, já que as realidades apresentadas por cada um acabam por se<br />
esfacelar. Não há uma verdade absoluta, apenas fragmentos de olha-<br />
res. A estrutura excludente apresentada é a base do estranhamento do<br />
texto. Assim,<br />
Pode-se dizer, utilizando a linguagem heideggeriana,<br />
que a forma especificamente pósmoderna<br />
de “ocultamento” consiste não tanto<br />
em esconder a verdade do Ser por trás da falsidade<br />
dos seres, mas em obscurecer ou apagar<br />
inteiramente a distinção entre verdade e falsidade<br />
dentro os próprios seres e, desse modo,<br />
tornar os temas do “cerne da questão”, de sentido<br />
e de significado absurdos e inexpressivos. É<br />
a própria realidade que agora necessita da “suspensão<br />
da descrença”, outrora a prerrogativa da<br />
arte, a fim de ser apreendida, encarada e vivida<br />
como realidade. A própria realidade é agora<br />
“arremedo”, embora – exatamente como o mal<br />
psicossomático – faça o máximo para encobrir<br />
os sinais (Bauman, 1998, p. 158).<br />
“A cidade” acaba por ser um conto em que, apesar de haver o<br />
esmagamento do indivíduo no momento de choque com o todo, a<br />
noção de imutabilidade das coisas é engano. O medo do indivíduo<br />
que faz perguntas irrespondíveis persiste. Inquirir é um ato de estre-<br />
mecer a verdade. Desta forma, incorporar o insólito é uma maneira<br />
de proteger o sólido: o pretenso desconhecido é aprisionado para<br />
manter o real tido como verdadeiro. Então, o importante aqui não é a<br />
inserção do sobrenatural na narrativa, mas a maneira como um de-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
240
terminado grupo constrói verdades discutíveis, ou mesmo esfacela-<br />
das, para se proteger.<br />
Nessa perspectiva, percebe-se nesses contos a impossibilidade<br />
de classificar a narrativa de Murilo Rubião nos gêneros tradicionais,<br />
por esta não se adequar ao ideário de construção desses gêneros, mas<br />
sim estar inserida em um clima pós-moderno, em que a verdade não<br />
mais existe e o homem está sozinho, sem bandeiras ou ilusões para<br />
sustentar. Tal condição é que transforma o insólito em algo não visto<br />
como representante de uma esfera superior ou distante, mas como<br />
elemento de desvelamento, senão desmascaramento do cotidiano<br />
opressor.<br />
Referências bibliográficas<br />
BAUMAN, Zigmunt. O mal-estar da Pós-Modernidade. Rio de Janeiro:<br />
Jorge Zahar Editor, 1998.<br />
CHIAMPI, Irlemar. O realismo Maravilhoso. São Paulo, Perspectiva:1980.<br />
FURTADO, Filipe. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa:<br />
Horizonte Universitário, 1980.<br />
GARCÍA, Flavio. O Realismo Maravilhoso na Ibéria Atlântica: a<br />
narrativa curta de Mário de Carvalho e Mén<strong>dez</strong> Ferrín. Tese de<br />
Doutoramento. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica<br />
do Rio de Janeiro, 1999.<br />
RUBIÃO, Murilo. “O pirotécnico Zacarias” e “A cidade”. In: Contos<br />
reunidos. 2 ed. São Paulo: Ática, 1999, p. 25 – 32 e 57 – 63.<br />
TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo:<br />
Perspectiva, 1992.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
241
Produção de base pictorial na<br />
aprendizagem da língua<br />
Maria Susett. B. Santade – FIMI/ FMPFM / Mogi-Guaçu / SP/ UERJ<br />
Introdução<br />
Darcilia Simões – UERJ/ PUC – SP / SUESC<br />
O presente trabalho propõe-se ao estudo dos processos da lín-<br />
gua, que tomam como objeto a função semiótica que o desenho en-<br />
cerra, distinguindo-se os respectivos aspectos gramático-textuais em<br />
planos de produção e recepção da imagem à expressão e ao conteú-<br />
do. Ressalta-se uma perspectiva do desenho da corporalidade no<br />
intuito de aguçar no aluno a percepção articulatória e acústica da<br />
língua sincrônica. O trabalho é elaborado nos fundamentos peircea-<br />
nos, dando prioridade à observação do aluno e à realidade em que<br />
vive.<br />
Na definição de objetivos, aponta-se o estabelecimento de metas<br />
concretas e atingíveis dentro da especificidade da língua portuguesa.<br />
Quanto aos conteúdos programáticos, há o cuidado de (i) respeitar as<br />
propostas curriculares nacionais, considerando o processo cognitivo<br />
como perceptivo, e a experiência adquirida previamente do aluno; e<br />
de (ii) considerar os que são de sensibilização e os que são de cogni-<br />
ção. Nas indicações quanto aos resultados avaliativos, procura-se<br />
ensinar os aspectos da língua, sem prejuízo do rigor necessário à<br />
modalidade padronizada. Cada unidade da gramática deverá ser pra-<br />
ticada em sala de aula, respeitando os tópicos de conteúdo propostos<br />
ao Ensino Fundamental nas séries intermediárias, sem negligenciar o<br />
ganho para o aluno, em termos de prática objetiva e valor formativo<br />
do desenho na percepção da língua. Nos procedimentos metodológi-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
242
cos, inclui-se o apelo a exercícios complementares da verbalização<br />
de experiências imagéticas, a desenvolver a ilustração verbo-visual,<br />
respondendo assim à necessidade de aperfeiçoar competências lin-<br />
güísticas a propósito da imagem. Instiga-se o confronto da vida co-<br />
mum com exemplos do que o desenho ilustrativo infanto-juvenil<br />
pode assumir nas aulas de língua, como suporte pictorial que motive<br />
o aluno ou que o auxilie na percepção da organização do sistema<br />
lingüístico.<br />
Desenho da corporalidade à língua fônica<br />
O desenho é a arte de representar visualmente objetos ou figuras<br />
através de traços e formas. O desenho é esboço de qualquer arte por<br />
mais simples que seja. As ciências utilizam o desenho como um pas-<br />
so primeiro na idealização do objeto para depois materializá-lo na<br />
industrialização. O desenho artístico ou técnico representa as indaga-<br />
ções do ser humano influenciado pelo sociocultural. Antes das ima-<br />
gens fotográficas, cinematográficas e televisivas, o desenho era<br />
praticado pelos artistas na representação fiel da natureza e da figura<br />
humana. Vivemos, atualmente, em sociedade icônica, e a arte de<br />
desenhar multiplica-se em desenhos técnico-industriais, artísticos,<br />
humorísticos e satíricos, gráficos, figurativos, dentre outros. O dese-<br />
nho na infância apresenta características ligadas ao desenvolvimento<br />
cognitivo e afetivo da criança. Ela se expressa por meio do desenho<br />
para a compreensão daquilo que a circunda. Como arte mais primiti-<br />
va do ser humano, o desenho não se perde no percorrer dos séculos e,<br />
a cada instante, fortalece-se em efeitos computadorizáveis comunga-<br />
dos à linguagem verbalizada.<br />
Assim, apresentamos uma metodologia visual com base no uso<br />
dos desenhos das crianças para aprendizagem dos conteúdos da lín-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
243
gua. A alfabetização visual materializa os conceitos abstratos da<br />
gramática e, por caminho ilustrativo, chega-se à compreensão lin-<br />
güística. A passividade do aluno diminui nas práticas integradas, pois<br />
ele utiliza sua criatividade visual na concretização dos aspectos gra-<br />
maticais. A junção feita em sala de aula entre a informação gramati-<br />
cal e o desenho é, simplesmente, uma provocação para que a<br />
aprendizagem escoe por uma metodologia leve sem distanciar o alu-<br />
no do conteúdo-programático necessário para o avanço escolar (cf.<br />
Biembengut Santade, 1998, 2002).<br />
Nos relatos acontecidos no nosso percurso profissional, a varie-<br />
dade geolingüística foi permeando as considerações, como ponto de<br />
apoio para a operacionalização concreta das ferramentas lingüísticas<br />
a que a história diacrônica e sincrônica nos conclama a fazer.<br />
Lembramo-nos de que muitas crianças são discriminadas, lin-<br />
güisticamente, nas salas de aula pelos próprios professores. Apoiados<br />
no currículo sempre colocado de forma homogênea, os professores<br />
tentam transmitir o conteúdo programático da língua sem refletir<br />
sobre o perfil sociolingüístico dos alunos. Assim, surgem-nos as<br />
questões: por que ensinar a língua aos aprendizes? Como ensiná-la a<br />
eles? Para que ensiná-la? Por essas indagações que, na sala de aula,<br />
nasceu a semiótica do desenho como metodologia verbo-visual.<br />
No início de nossa carreira, começávamos a desenhar compulsi-<br />
vamente na lousa e a utilizar algumas palavras e pequenas frases para<br />
mostrar às crianças que havia um mundo enorme além do que já<br />
conhecia e que aquele poderia ser descoberto dentro do pequeno<br />
palco-sala de aula. E, nesse picadeiro semanal, fomos construindo<br />
nosso rastro de educadora, ensinando novas palavras através de ilus-<br />
trações como o reconhecimento da boca como aparelho para produzir<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
244
outra língua e fazendo contraste com a língua materna nos aspectos<br />
fônicos (cf. Biembengut Santade, 1996, 2001). Valendo-nos dos<br />
desenhos de artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael<br />
que mostraram grande interesse sobre a estrutura do corpo humano,<br />
usamos a linguagem da corporalidade para ensinar o processo da<br />
produção e recepção da fala nos processos articulatório, auditivo e<br />
acústico.<br />
Na caminhada profissional, buscamos estudos da semiótica<br />
peirceana. Em síntese, dependendo do modo como se estabelece a<br />
relação entre signo e referente, assim se definem os três tipos de<br />
signos segundo Peirce (1978):<br />
Ícone (semelhança) – corresponde à classe dos signos cujo<br />
significante mantém uma analogia com o que representa, isto<br />
é, com o seu referente. Um desenho figurativo, uma fotogra-<br />
fia de uma casa, são ícones na medida em que se “parece”<br />
com uma casa.<br />
Índice (contigüidade, proximidade) – corresponde à classe<br />
dos signos que mantém uma relação causal de contigüidade<br />
física com o que representam. É o caso dos signos ditos “na-<br />
turais”, como a fumaça para o fogo e também com base na<br />
experiência, na história (como por exemplo, a cruz para o<br />
cristianismo, pois a base de transferência é a contigüidade<br />
histórica).<br />
Símbolo – corresponde à classe dos signos que mantém uma<br />
relação com seu referente. Os símbolos clássicos, como a<br />
pomba para a paz, a balança para a justiça, entram nessa ca-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
245
tegoria, junto com a linguagem, aqui considerada como um<br />
sistema de signos convencionais.<br />
A arte está em nossa vida na ação de contemplar o mundo, na<br />
feitura dos objetos mais rudimentares, nas construções de casas, na<br />
preparação das comidas, nas vestimentas e suas composições, nos<br />
traços das cidades, etc. O desenho como criação humana abstrai a<br />
realidade de cada ser e seus significados e cada projeto ou esboço de<br />
algo diz muitas vezes mais do que palavras. Um desenho constitui<br />
um “corpo de dados” (Dondis, 1997:3) que expressa uma mensagem<br />
imediata, bem funcional em sua primeira leitura. Ele permanece na<br />
memória do leitor visual de diferentes formas e analogias. Através do<br />
desenho, o ser humano tem a compreensão rápida daquilo que está<br />
sendo transmitido.<br />
A arte visual como procedimentos metodológicos<br />
Não se pode esquecer de que a linguagem escrita é visual, e os<br />
signos escritos hoje tão abstratos foram no passado (há mais de qua-<br />
tro milênios antes de Cristo) desenhos que representavam a cultura<br />
do homem. Assim, confirma Almeida Jr. (1989:9) que “o processo<br />
de iconização só foi possível graças ao processo tecnológico dos<br />
veículos de comunicação experimentado desde o início deste século<br />
com o cinema, a televisão e, especialmente, com as novas técnicas de<br />
impressão jornalística”.<br />
Atualmente, com o progresso eletrônico, a imagem passou a fa-<br />
zer parte do cotidiano das pessoas no mundo. Assim, a linguagem<br />
oral vem acompanhando essa linguagem visual, massificando tam-<br />
bém o conteúdo que circunda as gerações atuais. Há o lado negativo<br />
da massificação das linguagens verbal e visual, fazendo com que a<br />
população atual seja condicionada a não refletir sobre sua pessoa<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
246
como elemento integrante dessa comunicação de massa, mas isso é<br />
passível de reorientação e aproveitamento, sobretudo didático-<br />
pedagógico.<br />
Além da comunicação visual do movimento televisivo e cine-<br />
matográfico, expandem-se outras artes visuais como fotografias,<br />
cartazes, pôsteres, painéis, propagandas, placas, pichações, cartuns,<br />
etc., transmitindo mensagens a todo instante aos leitores e transeun-<br />
tes da zona urbana. Toda a contaminação da imagem tem chegado<br />
rapidamente às zonas rurais, modificando assim o comportamento do<br />
homem do campo.<br />
Quando se anda pela cidade, mesmo pequena, observam-se as<br />
imagens estáticas em diálogo com os andantes, transformando o<br />
comportamento e as relações humanas. O comércio transforma-se<br />
através das propagandas, cartazes, seduzindo o consumidor na aqui-<br />
sição dos produtos. A persuasão acontece através das imagens dinâ-<br />
micas e estáticas. As revistas, os jornais são veículos da comunicação<br />
escrita colaborados na ilustração pela linguagem visual. Há, também,<br />
os aspectos ideológicos dessas comunicações verbo -visuais acopla-<br />
das. As imagens esclarecem as matérias escritas, chocando ou inter-<br />
ferindo faticamente o leitor. Confirma Almeida Jr. (1989:12) que “as<br />
imagens interferem no ambiente, artificializando-o e perturbando<br />
muitas vezes a comunicação interativa e cognitiva do indivíduo dire-<br />
tamente com a realidade”. Porém, a imagem traduz o sentido da<br />
mensagem de forma imediata, facilitando, através da contemplação,<br />
a compreensão do leitor-visual. Para um povo analfabeto e semi-<br />
analfabeto, a imagem comunica sem tampouco empobrecer totalmen-<br />
te a compreensão dele. Quando um indivíduo faz compras num<br />
shopping e/ou supermercado, ele consegue decodificar através do<br />
signo visual o conceito do produto. E, é claro que a imagem não dá<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
247
conta de toda a compreensão verbal, porém é um facilitador para os<br />
não leitores-verbais. Ao descrever as contribuições semióticas na<br />
leitura, Simões afirma que “dificilmente um não-letrado confundiria<br />
uma Coca-Cola com uma Pepsi, pois, apesar da semelhança na cor<br />
do líquido, há diferenças na forma dos vasilhames, na forma e na cor<br />
dos rótulos (e emblemas), no desenho das letras, etc.” (2003: 29).<br />
Como educadoras, nós não utilizamos o desenho, os diagramas,<br />
os gráficos no intuito de tornar a metodologia “modernosa” em sala<br />
de aula, nem tornar os alunos passivos na absorção dos conteúdos<br />
através das imagens. Porém, a alfabetização visual materializa os<br />
conceitos abstratos da gramática tradicional e num caminho inverso<br />
chega-se à compreensão lingüística. A passividade do aluno diminui<br />
nas práticas integradas, pois ele utiliza a sua criatividade visual na<br />
concretude das formas verbais. Quando se coloca o aluno no proces-<br />
so da significação dos aspectos formais lingüísticos, através de seus<br />
próprios desenhos, ele se sente integrado na construção do conteúdo.<br />
Muitas vezes os conceitos lingüísticos ficam adormecidos no percur-<br />
so escolar, mas, quando a imagem aparece, imediatamente o aluno<br />
recupera o conhecimento aprendido. Na tríade lingüística, oralidade,<br />
linguagem visual e linguagem formal da palavra, constrói-se a signi-<br />
ficação poética na visualização das palavras, as quais se arranjam,<br />
traduzindo o conceito intencional do sujeito-aprendiz.<br />
Compartilhando da declaração acima, Simões (2003: 41) afirma<br />
que “a imagem é um modo de expressão; é um código visual. Estu-<br />
dar a imagem é adentrar pelo mundo dos signos, em geral, e dos<br />
ícones, em especial. A era do computador anuncia e predetermina a<br />
crescente comunicabilidade do signo icônico. E a história das ima-<br />
gens parece coincidir com a história da humanidade”.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
248
Conclusão<br />
Observando a história da linguagem humana, os estudiosos<br />
sempre se preocupavam com a contextualização dos significados da<br />
palavra. A significação da palavra multiplica-se em vários conceitos,<br />
os quais podem ser denotativos ou conotativos de acordo com o co n-<br />
texto trabalhado. Há uma geografia sociolingüística onde as palavras<br />
são usadas de diferentes formas semânticas e semióticas num mesmo<br />
país e até numa mesma região, dependendo do grau de instrução,<br />
idade, raça, sexo, entre outros.<br />
O mesmo fenômeno acontece na imagem, pois cada leitor-visual<br />
interpreta-a de múltiplas maneiras. Segundo Almeida Jr. (1989:95)<br />
“o significante do signo icônico situa-se no plano da expressão e é de<br />
natureza material (linhas, pontos, contornos, cores, etc.), enquanto o<br />
significado ou a pluralidade de significados possíveis (polissemia)<br />
situam-se no plano lógico do conteúdo, sendo de natureza conceitual<br />
e cultural”.<br />
A partir da interação palavra&desenho feita em sala de aula<br />
combinando a informação gramatical com o desenho, deflagra-se<br />
uma provocação para que a aprendizagem escoe numa metodologia<br />
leve sem distanciá-lo do conteúdo-programático fundamental para<br />
seu avanço escolar.<br />
Referências Bibliográficas<br />
ALMEIDA JR., João Baptista de. Ter Olhos de Ver: subsídios metodológicos<br />
e semióticos para a leitura da imagem. Dissertação de<br />
Mestrado, FE-UNICAMP, 1989.<br />
BIEMBENGUT SANTADE, Maria Suzett. Gramaticalidade Visual<br />
em Sala de Aula. Mogi Guaçu, SP: FIMI, 1996. (apostila)<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
249
------. Oralidade e Escrita dos Esquecidos numa Gramaticalidade<br />
Visual. Dissertação de Mestrado. PUC-CAMPINAS, 1998.<br />
------. Gramaticalidade. Campinas/SP: Átomo & Alínea, 2001.<br />
------. Apreciações Semânticas de Relatos de Aprendizagens. Tese de<br />
Doutorado. UNIMEP-Piracicaba, 2002.<br />
DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. 2ª. ed. São Paulo:<br />
Martins Fontes, 1997.<br />
PEIRCE, Charles Sanders. Ecrits sur lê signe. Paris: Seuil, 1978.<br />
SIMÕES, Darcilia. Semiótica & ensino: reflexões teóricometodológicas.<br />
Rio de Janeiro: <strong>Dialogarts</strong>, 2003.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
250
1. Introdução<br />
Coerência e coesão em xeque:<br />
da teoria à prática de sala de aula<br />
Glaucia Muniz Proença Lara – UFMS / UFMG<br />
A Lingüística Textual, desenvolvida, sobretudo na Europa, a<br />
partir do final da década de 1960, na medida em que se propôs estu-<br />
dar a natureza do texto e os fatores envolvidos na sua produção e<br />
recepção, trouxe, algumas décadas mais tarde, contribuições relevan-<br />
tes para o ensino – e para a avaliação – da redação em nosso país.<br />
Nos anos 1980-1990, no Brasil, muitas foram as pesquisas e pu-<br />
blicações que se voltaram para o texto escolar. Para citar apenas al-<br />
guns exemplos, lembramos O texto na sala de aula, de João<br />
Wanderley Geraldi (1ª edição: 1984), Problemas de redação, de<br />
Alcir Pécora (1ª edição: 1983) e Redação e textualidade, de Maria<br />
da Graça Costa Val (1ª edição: 1991).<br />
Acompanhando essa tendência, que colocou o texto no centro<br />
das atenções, as noções de coerência e coesão – destacadas, pela<br />
maioria dos estudiosos, como os principais fatores de textualidade –<br />
passaram a ser exploradas não apenas em livros didáticos, mas tam-<br />
bém como critérios de avaliação de vestibulares e do Exame Nacio-<br />
nal do Ensino Médio (ENEM). Neste, entre as competências<br />
desejáveis que um aluno, ao término do ensino médio, deve ter na<br />
produção textual – e que são tomadas como critérios de avaliação das<br />
redações do referido exame e de muitos vestibulares que adotaram a<br />
proposta do ENEM (como o da Universidade Federal de Mato Gros-<br />
so do Sul - UFMS, que manteve esse vínculo até 2005) – encontra-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
251
mos, entre outras competências (domínio da norma culta da língua<br />
escrita, relação tema/tipo textual/proposta de redação, elaboração de<br />
proposta de intervenção para o problema abordado), as competências<br />
III e IV, que estão ligadas, respectivamente, à coerência e à coesão:<br />
Competência III – Selecionar, relacionar, organizar<br />
e interpretar informações, dados, fatos,<br />
opiniões e pontos de vista.<br />
Competência IV – Demonstrar conhecimento<br />
dos mecanismos necessários para a construção<br />
da argumentação. (PLANILHA DE CORRE-<br />
ÇÃO DO ENEM – 2003)<br />
Entre as orientações para os corretores da redação do<br />
ENEM/2003, constam as seguintes observações: 1) para a Compe-<br />
tência III – Aspecto a ser considerado: Coerência textual: organiza-<br />
ção do texto quanto a sua lógica interna e externa; 2) para a<br />
Competência IV – Aspectos a serem considerados: a) Coesão lexical:<br />
adequação no uso de recursos lexicais, tais como sinônimos, hiperô-<br />
nimos, repetição, reiteração etc; b) Coesão gramatical: adequação no<br />
emprego de conectivos, tempos verbais, pontuação, seqüência tem-<br />
poral, relações anafóricas, conectores intervocabulares, interparágra-<br />
fos etc.<br />
Apesar de todo esse “aparato”, a conclusão a que chegamos, a-<br />
nalisando redações do Vestibular de Verão/2005 da UFMS (disponi-<br />
bilizadas pelo então presidente da Comissão Permanente de<br />
Vestibular – COPEVE/UFMS – Prof. Odonias Silva), é que os alu-<br />
nos têm dificuldades em operacionalizar as noções de coesão e de<br />
coerência na produção de seus textos. Em outras palavras: embora<br />
saibam que essas noções são importantes na produção de um “bom<br />
texto” e consigam inclusive reconhecê-las e avaliá-las em textos<br />
alheios, os estudantes, em geral, na hora de fazer uma redação em<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
252
situação escolar, não se dão conta de como esses dois fatores de tex-<br />
tualidade funcionam na organização e na articulação das idéias, tanto<br />
no nível mais profundo (coerência), quanto no mais superficial (coe-<br />
são).<br />
Há, pois, uma defasagem significativa entre a teoria – saber que<br />
coerência e coesão desempenham um papel fundamental na produção<br />
de um texto – e a prática – conseguir, de fato, operacionalizar tais<br />
noções na construção do texto –, como buscaremos mostrar a partir<br />
do exame de alguns textos e/ou trechos de textos produzidos no refe-<br />
rido vestibular. Para tornar nossa exposição mais ágil e didática,<br />
pretendemos entremear as questões teóricas relevantes com a análise<br />
dos textos selecionados, ao invés de separar esses dois aspectos em<br />
seções distintas.<br />
2. A coerência e a coesão nas redações de vestibular<br />
Falar em coerência e coesão ou, mais amplamente, em fatores<br />
de textualidade remete a uma questão anterior: o que é, afinal, um<br />
texto? Esclarecemos que, no presente artigo, tomamos as noções de<br />
texto e redação como equivalentes, sem considerar diferenças apon-<br />
tadas por autores, como Geraldi (1985). Para ele, no texto, um sujeito<br />
procura estabelecer uma interlocução real com um possível leitor, ao<br />
passo que, na redação, um aluno se limita a reunir fragmentos de<br />
informações que lhe foram dadas na/pela escola para devolvê-las, de<br />
forma desarticulada, ao professor e, por extensão, à própria escola.<br />
Isso o leva a afirmar que, na escola, não se produzem textos – em<br />
que o sujeito/aluno diz a sua palavra – mas redações (GERALDI,<br />
1985, p. 122-123). Embora consideremos pertinente a distinção pro-<br />
posta pelo autor, por razões de praticidade não a reteremos aqui.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
253
Feita essa ressalva, vejamos o que alguns estudiosos têm a dizer<br />
sobre a noção de texto (redação). Koch e Travaglia (1990, p. 10)<br />
definem texto como “uma unidade lingüística concreta (perceptível<br />
pela visão ou audição), que é tomado pelos usuários da língua (falan-<br />
te, escritor/ouvinte, leitor), em uma situação de interação comunica-<br />
tiva, como uma unidade de sentido e como preenchendo uma função<br />
comunicativa reconhecível e reconhecida independentemente de sua<br />
extensão”.<br />
Já Costa Val (1991, p. 3) afirma: “pode-se entender<br />
texto ou discurso como ocorrência lingüística<br />
falada ou escrita, de qualquer extensão,<br />
dotada de unidade sociocomunicativa, semântica<br />
e formal”. Assim, no entender da autora, um<br />
texto será bem compreendido quando avaliado<br />
sob três aspectos:<br />
a) o pragmático, que tem a ver com seu funcionamento<br />
enquanto atuação informacional e comunicativa,<br />
incluindo, portanto, elementos<br />
como a relação entre os interlocutores (as intenções<br />
do produtor, o jogo de imagens que se<br />
estabelece entre locutor e interlocutor) e o contexto<br />
sociocultural (os conhecimentos partilhados<br />
pelos interlocutores, inclusive quanto às<br />
regras sociais da interação comunicativa);<br />
b) o semântico-conceitual, que implica que uma<br />
ocorrência lingüística, para ser texto, precisa ser<br />
percebida como um todo significativo, o que está<br />
relacionado à noção de coerência;<br />
c) o formal, que diz respeito à integração dos<br />
constituintes lingüísticos de modo a constituir<br />
um todo coeso.<br />
Como é possível perceber, a elaboração de um<br />
texto não envolve apenas os mecanismos da<br />
língua, de que nos servimos quando falamos ou<br />
escrevemos, mas também a análise de outros<br />
elementos que subjazem à fala ou escrita do in-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
254
divíduo: estamos falando aqui dos elementos<br />
pertencentes às condições de produção de um<br />
texto – os interlocutores, as relações entre eles e<br />
a situação em que ocorre a seqüência verbal<br />
emitida, tomada tanto no seu sentido mais estrito<br />
(a situação imediata de comunicação) quanto<br />
no seu sentido mais amplo (o contexto social,<br />
histórico, ideológico).<br />
Logo, antes de começar a escrever sobre um assunto<br />
qualquer, o produtor deve determinar,<br />
com clareza, quem é o seu interlocutor, qual é a<br />
situação de comunicação em que se encontra<br />
(por exemplo, formal/informal) e que objetivo<br />
orientará a redação (informar, persuadir, divertir<br />
ou outro), uma vez que esses elementos – as<br />
condições de produção – influirão na maneira<br />
como o raciocínio será conduzido e articulado e<br />
inclusive na escolha do tipo/gênero de texto que<br />
será mais adequado à expressão das idéias que<br />
ele – o produtor – tem sobre o assunto. Em outras<br />
palavras, definir para quem se vai escrever,<br />
por quê e para quê determina como<br />
escrever. O fato de essas questões ensejarem<br />
respostas variadas levaria, pois, à produção de<br />
textos também variados.<br />
No entanto, em situação de vestibular (e aqui<br />
referimo-nos particularmente ao vestibular da<br />
UFMS, orientado pela proposta de redação do<br />
ENEM), as respostas já estão, em grande parte,<br />
previamente fixadas. Escreve-se para interlocutores<br />
desconhecidos (para quem) que, com base<br />
na proposta de redação e numa planilha de<br />
itens a serem observados (adequação tema/texto,<br />
coerência, coesão, uso da norma culta,<br />
apresentação de soluções para os problemas<br />
levantados) analisarão o texto do vestibulando,<br />
avaliando, via uma dada nota, se ele tem (ou<br />
não) condições de integrar o Ensino Superior, já<br />
que o que se espera de um universitário é que<br />
ele seja, minimamente, um leitor/produtor de<br />
textos proficiente. O candidato escreve, pois,<br />
para mostrar que sabe escrever (para quê), de<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
255
modo a obter a tão sonhada vaga no curso pretendido<br />
(por quê). Até mesmo o como já se encontra,<br />
de antemão, determinado: solicita-se (ou<br />
exige-se?) que se produza um texto dissertativo-argumentativo<br />
(sem referência a um gênero<br />
preciso: uma carta, um anúncio publicitário<br />
etc), a partir do esquema problematização ?<br />
proposta(s) de solução.<br />
A artificialidade das condições de produção do<br />
texto é flagrante nesse caso. Não admira que a<br />
maioria dos candidatos se prenda à proposta<br />
e/ou aos textos do Painel de Leitura, procurando<br />
sintonizar seu discurso com aquilo que imagina<br />
ser o discurso da instituição (representada<br />
pelas bancas elaboradora e corretora), o que<br />
deixa pouco espaço para a criatividade ou o exercício<br />
da crítica (embora – felizmente – essas<br />
manifestações ocorram em alguns textos que se<br />
aproveitam das “brechas” deixadas pelo sistema).<br />
Vemos, pois, que a unidade do texto depende<br />
dos fatores pragmáticos envolvidos no processo<br />
sociocomunicativo, mas também do material<br />
conceitual e lingüístico, o que envolve, respectivamente,<br />
as noções de coerência e de coesão.<br />
Trata-se dos fatores que promovem a interrelação<br />
semântica entre os elementos do discurso,<br />
respondendo pela conectividade textual,<br />
mas em níveis diferentes: a coerência dizendo<br />
respeito ao nexo entre os conceitos e a coesão, à<br />
expressão desse nexo no plano lingüístico<br />
(COSTA VAL, 1991, p. 7). Em outras palavras,<br />
o que importa para a coerência é a própria relação<br />
entre as idéias; a explicitação dessa relação,<br />
por meio de recursos lingüísticos (mecanismos<br />
léxico-gramaticais), é questão de coesão.<br />
A coerência está diretamente ligada à possibilidade<br />
de se estabelecer um sentido para o texto.<br />
Trata-se, pois, de um aspecto global, que afeta<br />
o texto como um todo, mas que também o<br />
transcende na medida em que envolve tanto os<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
256
interlocutores quanto a própria situação comunicativa,<br />
o que nos permite falar em coerência<br />
interna e externa. Assim, para que um texto seja<br />
internamente coerente, suas ocorrências não<br />
podem contradizer-se, têm que ser compatíveis<br />
entre si, ou seja, os conceitos ou fatos aludidos<br />
devem estar direta ou indiretamente relacionados,<br />
de modo a estabelecer alguma forma de<br />
unidade. Já para ser externamente coerente, o<br />
texto não pode contradizer o mundo a que se refere,<br />
isto é, deve haver ligações compatíveis entre<br />
os fatos e conceitos apresentados no texto e<br />
a realidade evocada. Em suma: a coerência seria<br />
um princípio de interpretabilidade que está<br />
no processo que coloca texto e usuários em relação<br />
numa situação.<br />
Vários autores, entre os quais os já citados Koch e Travaglia<br />
(1990) e Costa Val (1991), consideram a coerência como o principal<br />
fator de textualidade (conjunto de características que fazem com que<br />
um texto seja um texto, e não apenas uma seqüência de frases), pois<br />
é ela que permite, através de seus vários fatores, estabelecer relações<br />
entre os elementos da seqüência, possibilitando construí-la e perce-<br />
bê-la, na recepção, como constituindo uma unidade global. Torna-se,<br />
portanto, responsável pelo sentido do texto. Nessa perspectiva, inco-<br />
erências internas e/ou externas, como as que serão apresentadas a<br />
seguir (textos 1 e 2), afetam essa “unidade global”, prejudicando (ou<br />
mesmo impedindo) a construção de sentido. Esclarecemos que a<br />
proposta que serviu de base para as redações aqui apresentadas (vide<br />
anexo) está disponível em http://www.ufms.br/copeve e que repro-<br />
duzimos os textos exatamente como foram produzidos originalmente,<br />
uma vez que não é nosso objetivo, no presente trabalho, focalizar ou<br />
corrigir problemas de uso da língua padrão escrita. Vejamos os tex-<br />
tos.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
257
.../ Os índios brasileiros já vivem com dignidade<br />
desde já, não só os índios deveriam viver<br />
com dignidade, mas como também os brancos,<br />
os negros e todas as raças. Perante Deus nós<br />
somos todos iguais. Por isso acho que temos<br />
que ter leis, ordens e deveres iguais para todos.<br />
Os índios desde o Descobrimento do Brasil é<br />
dito como pessoas inocentes, idonêas, tem leis<br />
próprias, estatuto próprio, programa de saúde<br />
próprio e muito mais. Entretanto, eles se mostram<br />
muito mais sociáveis do que muitos pensam,<br />
eles usam roupas, maquiagem, e muitos<br />
deles possuem terras, ou seja são fazendeiros e<br />
até garimpeiros como é o caso daquela tribo lá<br />
da Amazonia, que um dos caciques da tribo estava<br />
envolvido na exploração de minérios ilegalmente.<br />
Os índios cometem crimes, usam<br />
armas de fogo, tomam bebidas alcoólicas e usufluem<br />
de tudo como nós. Por isso acho que deviam<br />
ser tratados como a gente. /.../<br />
Nós só vamos viver com dignidade quando as<br />
pessoas pararem para pensar que todo mundo é<br />
igual. A dignidade vira junto com o tempo; tomara<br />
que a dignidade venha no século XX, e<br />
venha para todos. Assim viveremos bem com si<br />
mesmo e com todo mundo.<br />
No parágrafo inicial do trecho apresentado, o autor afirma que<br />
os índios já vivem com dignidade desde já e que eles fazem parte da<br />
sociedade: são “gente como a gente”, embora muitos dos argumentos<br />
utilizados para sustentar essa tese sejam, no mínimo, questionáveis<br />
(cometem crimes, usam armas de fogo etc). Contraditoriamente, no<br />
parágrafo final, surge a idéia de que não vivemos com dignidade<br />
atualmente (visto que esta só virá no futuro)! E o leitor, atordoado, se<br />
pergunta: se os índios integram o todo, que é a sociedade, e vivem<br />
com dignidade desde já, como se pode afirmar que essa mesma soci-<br />
edade não dispõe de dignidade ao menos em parte? Mas o texto não<br />
se esgota nessa contradição (incoerência interna); há também ques-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
258
tões que se mostram incompatíveis com o conhecimento de mundo<br />
do leitor (incoerência externa). Como desejar, por exemplo, que a<br />
dignidade venha (futuro) num século que já passou (século XX)?<br />
Será que os índios têm mesmo programa de saúde próprio, quando<br />
um indivíduo minimamente informado sabe que muitas populações<br />
indígenas não recebem atendimento médico de qualquer espécie?<br />
/.../ A fundação nacional indígena (FUNAI),<br />
deu a estes [índios] a oportunidade de recomeçar,<br />
fornecendo tratores e implementos, sementes<br />
e mudas além de lutar contra fazendeiros<br />
por terras, porém, muitos não são dignos da vida<br />
que levam, do apoio que tem e submetem-se<br />
a baixaria e situações vergonhosas.<br />
Portanto, os índios brasileiros já vivem com<br />
dignidade, mas fazem-se diferentes por si só,<br />
não bastando a estes ser igual e sim melhor, e é<br />
por isso é que são poucos os que tem uma vida<br />
digna, porque estes são dignos da vida que tem.<br />
Contudo, para que estes consigam sua dignidade,<br />
tem que primeiro serem dignos.<br />
O produtor do texto 2 também se contradiz ao afirmar a totali-<br />
dade (os índios brasileiros já vivem com dignidade) e negá-la, em<br />
seguida (no mesmo parágrafo), para afirmar a parcialidade (são pou-<br />
cos os que tem uma vida digna). Ou “viver com dignidade” e “ter<br />
uma vida digna” não se equivalem? Observe-se, além disso, a circu-<br />
laridade dos argumentos apresentados, o que prejudica a coerência<br />
interna (a compatibilidade das idéias, a consistência de raciocínio):<br />
são poucos os que tem uma vida digna porque estes são dignos da<br />
vida que tem (a possível causa, introduzida pelo conector porque,<br />
esgota-se numa tautologia); para que estes consigam sua dignidade,<br />
tem que primeiro serem dignos (estabelece-se uma falsa relação de<br />
implicação ou mesmo de ordenação temporal entre dois fatos). Ora,<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
259
para que conseguir uma dignidade que já se tem? Finalmente, o texto<br />
deixa a impressão de que seu produtor confundiu índio com sem-<br />
terra (vide parágrafo inicial), o que desafia a compreensão do leitor<br />
pela provável incoerência externa.<br />
É importante destacar que muitos problemas que afetam a coe-<br />
rência externa relacionam-se a generalizações apressadas e precon-<br />
ceituosas. Por exemplo, em muitas redações aparece seja a<br />
identificação índio/animal, seja a oposição índio/gente, revelando um<br />
pensamento distorcido e estereotipado (portanto, incompatível com a<br />
realidade), que infelizmente ainda se manifesta no imaginário até<br />
mesmo de pessoas ditas “esclarecidas” (como se espera que sejam os<br />
futuros universitários). Embora, no geral, os candidatos se empe-<br />
nhem em negar essas idéias (como se fossem coisas pouco óbvias<br />
para o leitor) ou as abordem de forma irônica, o que surpreende é o<br />
fato de elas ainda se manifestarem em discursos produzidos em pleno<br />
século XXI! Senão, vejamos:<br />
Os índios, desde que Vossa Alteza os considerou<br />
inadequados às suas necessidade e os substituiu<br />
pelos negros, vivem como uma parcela<br />
excluída da nossa sociedade.<br />
Reservas indígenas: áreas criadas para os nativos<br />
de um país descoberto. Podem ser consideradas<br />
uma forma de controle, afinal, o mundo<br />
continua a se desenvolver e o homem tenta<br />
“preservá-los”. A extinção de animais selvagens<br />
é uma realidade atualmente e não poderia<br />
ser diferente tratando-se dos índios, todos sabemos<br />
que a reprodução em cativeiro não é<br />
muito eficaz pois nunca conseguimos oferecer<br />
as mesmas condições do hábitat natural ainda<br />
mais quando esses seres são racionais.<br />
Esse método de preservação vigente se mostra<br />
ineficiente, a invasão de terras se tornou uma<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
260
constante na vida de muitos dos nossos “selvagens”...<br />
/.../ Na verdade, os índios não são “chipanzés”,<br />
os índios vivem em uma floresta e nela eles<br />
montam uma sociedade, e nessa sociedade eles<br />
criam suas casas feitas com materiais extraídos<br />
dali mesmos, da própria natureza, na mesma eles<br />
criam suas crenças, fazem festas religiosas<br />
relacionadas às crenças que eles próprios criam,<br />
ou seja, com isso eles provam que são pessoais<br />
como a gente, que são capazes de morar em sociedade,<br />
pois sabem o que fazem, têem responsabilidade<br />
com seus deveres e são inteligentes...<br />
/.../ Índio também é gente, assim como todos os<br />
negro, todos os brancos, todas as raças, seja<br />
qual for sua religião, seja qual for sua cultura,<br />
suas crenças. Todos têm direito a igualdade,<br />
respeito e busca pela felicidade.<br />
Índios! Pessoas, gente como a gente; são homens,<br />
mulheres e crianças que vivem à maneira<br />
deles; tentando da melhor maneira possível se<br />
adaptar ao mundo de hoje...<br />
A coesão, por sua vez, embora não garanta a obtenção da coe-<br />
rência, contribui para o seu estabelecimento, uma vez que os elemen-<br />
tos lingüísticos da superfície textual servem como “pistas” para que o<br />
leitor ative conhecimentos armazenados na memória e possa, então,<br />
acompanhar e recompor o raciocínio, compreendendo o texto. Natu-<br />
ralmente, os usuários podem recuperar relações não explicitadas<br />
simplesmente aplicando seu conhecimento de mundo. É o que acon-<br />
tece, por exemplo, quando nos defrontamos com a seguinte lista de<br />
palavras, sem qualquer ligação sintática e sem explicitação de qual-<br />
quer relação entre elas: arroz, feijão, sal, óleo, açúcar, batata, cebo-<br />
la, cenoura, tomate, alface, detergente, sabão em pó, amaciante.<br />
Quem lê tende a perceber, nessa seqüência lingüística, uma unidade<br />
de sentido que permite estabelecer uma relação entre seus compo-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
261
nentes: trata-se de uma possível lista de compras de supermercado.<br />
Logo, basta que o leitor aplique seu conhecimento de mundo para<br />
estabelecer a coerência desse texto.<br />
Por outro lado, há textos aparentemente coesivos, mas para os<br />
quais não é possível estabelecer uma continuidade/unidade de senti-<br />
do. Examinemos o texto 7 abaixo:<br />
(7) Com a chegada do homem branco no Brasil<br />
e o processo de Globalização ocorrido nos últimos<br />
anos, para os dias atuais.<br />
Os índios brasileiros sofrerão uma grande mudança<br />
de costumes, crenças e um novo convívio<br />
social. Suas terras, moradias e aldeias muitas<br />
delas foram tomadas por intereses Governamentais<br />
ou próprios.<br />
Obrigando uma parte dos indios a sobreviverem<br />
na cidades ou em grandes metropoles. Com isto<br />
surgirão os problemas de moradia, e a alimentação<br />
para os índios que vivem nestas cidades,<br />
eles terão que enfrentar adaptação em seu modo<br />
de vida, para que possa viver uma vida feliz ou<br />
volta as suas origens.<br />
Além dos problemas de terras que os índios vivem<br />
sofrendo a saúde indígena e outro fator que<br />
vem preocupando o Ministério da Saúde.<br />
O governo deveria se preucupar em apoiar os<br />
índios brasileiros, ensentivando sua cultura,<br />
seus costumes e tradições, e ajundando os índios<br />
a preservarem as suas origens. Dando moradia<br />
que é as terras que eles tanto querem e<br />
saúde, buscando a satisfazer uma vida melhor<br />
para o índio brasileiro.<br />
Deixando de lado os problemas gramaticais (de ortografia, pon-<br />
tuação, concordância nominal e verbal, uso de tempos verbais), que,<br />
conforme afirmamos, não constituem objeto do presente trabalho,<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
262
destacamos apenas que o emprego adequado, por exemplo, do conec-<br />
tor além de (para somar argumentos em favor de uma mesma con-<br />
clusão, ou seja, falta de terras + saúde indígena = questões que<br />
preocupam o governo [o Ministério da Saúde?]) e do anafórico isto<br />
(com isto) que remete ao que foi dito anteriormente (= o fato de os<br />
índios terem que se mudar para as grandes cidades) não é suficiente<br />
para garantir a coerência do texto, prejudicada, principalmente, pela<br />
má estruturação de períodos e parágrafos. Ou seja, o texto é aparen-<br />
temente coesivo, mas peca pela falta de continuidade/unidade que<br />
caracterizaria uma produção coerente, exigindo um leitor altamente<br />
cooperativo para atribuir-lhe sentido.<br />
Os exemplos apresentados acima mostram que a coesão não é<br />
suficiente – nem mesmo necessária – para o estabelecimento da coe-<br />
rência, opinião compartilhada por autores como Koch (1989) e Mar-<br />
cuschi (1983). Entretanto, não se pode negar a utilidade dos<br />
mecanismos léxico-gramaticais da coesão como fatores de eficiência<br />
do discurso: eles não apenas tornam a superfície textual estável e<br />
econômica, fornecendo possibilidades variadas de se promover a<br />
continuidade e a progressão do discurso, como permitem tornar cla-<br />
ras certas relações que, implícitas, poderiam dificultar a interpreta-<br />
ção, sobretudo na escrita (COSTA VAL, 1991, p. 8-10). Nessa<br />
perspectiva, a coesão é altamente desejável como manifestação su-<br />
perficial da coerência, principalmente em certos tipos/gêneros de<br />
textos – como os científicos, didáticos, expositivos e opinativos –<br />
que têm na clareza e na organização/concatenação das idéias suas<br />
características essenciais.<br />
Em resumo: o fundamental para a textualidade é a relação coe-<br />
rente entre as idéias, de modo que a explicitação dessa relação atra-<br />
vés de elementos como as palavras de referência (ou anafóricos, em<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
263
sentido amplo) e as palavras de transição (ou conectores), responsá-<br />
veis, respectivamente, pela coesão referencial e pela coesão seqüen-<br />
cial, é útil, mas nem sempre obrigatória. Por outro lado, tais recursos<br />
coesivos, quando presentes, devem obedecer a padrões prévios que<br />
regulam suas funções, ou seja, devem ser “corretamente” utilizados;<br />
caso contrário, o resultado será a incoerência ou a falta de seqüencia-<br />
lidade de modo que o leitor/ouvinte não será capaz de construir a<br />
interpretação adequada. Vejamos, a titulo de ilustração, alguns e-<br />
xemplos:<br />
(8) Os índios desde o Descobrimento do Brasil<br />
é dito como pessoas inocentes, idonêas, tem leis<br />
próprias, estatuto próprio, programa de saúde<br />
próprio e muito mais. Entretanto, eles se mostram<br />
muito mais sociáveis do que muitos pensam...<br />
(9) Como o “homem branco” sempre foi a maioria<br />
sempre gostam de comandar tudo do jeito<br />
deles e fazer o que quiser sem pensar que aquelas<br />
pessoa mesmo “ignorantes” tinham uma vida<br />
delas e que ninguém tem direito de interferir.<br />
E hoje em dia continua a mesma palhaçada,<br />
pessoas que parecem que continuamos mesmo<br />
idiotas sem consciência até parece que isso vai<br />
passando de geração em geração.<br />
É como se uma pessoa invadisse suas casa e ditasse<br />
todas as regras, roubasse coisas e seqüestrassem<br />
um de seus entes queridos e obrigasse<br />
você dar dinheiro a ele passasse a casa para o<br />
nome dele e pegasse seus filhos de escravos e<br />
você também.<br />
Isso é quase impossível resolver pois, desde o<br />
começo foi tudo errado...<br />
Em (8), o conector foi mal utilizado, resultando em incoerência,<br />
já que a relação entre os dois enunciados não é de oposição, ressalva<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
264
ou contraste como o uso do entretanto sugere. Ou o fato de ter leis,<br />
estatuto e programa de saúde próprios torna os indivíduos menos<br />
sociáveis? Já no exemplo (9) não é possível decidir, com certeza, a<br />
que se refere o anafórico isso: se ao que consta do parágrafo imedia-<br />
tamente anterior (analogia com a invasão de uma casa), que é o ante-<br />
cedente mais próximo, ou se ao fato de que o homem branco sempre<br />
usou de violência contra o índio (parágrafos iniciais do trecho cita-<br />
do), antecedente mais provável, embora mais distante. Há, portanto,<br />
uma ambigüidade de referência anafórica que prejudica a compreen-<br />
são.<br />
Cumpre dizer, finalmente, que o estabelecimento da coerência<br />
de um texto, sobretudo o do tipo dissertativo-argumentativo, depen-<br />
de, em grande parte, dos argumentos apresentados, isto é, das mano-<br />
bras e estratégias discursivas que o locutor mobiliza para<br />
fundamentar suas posições e, com isso, obter a adesão do(s) interlo-<br />
cutor(es). Trata-se, pois, de algo exterior à língua, que se acrescenta<br />
a ela (ou, mais especificamente, ao discurso) posteriormente. Isso<br />
quer dizer que o usuário tem à sua disposição, na memória ou no<br />
espaço interdiscursivo, um conjunto de fatos, de dados do mundo,<br />
que, num certo sentido preexistem ao discurso. Quando seleciona<br />
alguns desses elementos e os incorpora ao seu texto, ele os “conver-<br />
te” em argumentos para apoiar o(s) ponto(s) de vista que assumiu (e<br />
que deseja que o interlocutor também assuma). Nessa perspectiva, a<br />
maior ou menor eficácia de um discurso, em termos de atuação sobre<br />
o outro, vai depender da seleção, com base nos critérios de adequa-<br />
ção, relevância, autenticidade e fidedignidade, e da organização (hie-<br />
rarquização e articulação) das informações que irão compô-lo.<br />
Nessa dupla tarefa de escolha e arranjo dos argumentos, é preci-<br />
so que o locutor tenha em mente, além de suas próprias intenções, o<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
265
tipo de interlocutor a quem sua argumentação se destina. Isso porque<br />
é sobretudo a “imagem” do interlocutor que vai orientar o locutor<br />
quanto aos procedimentos a serem utilizados para construir o sentido<br />
do seu discurso. Nesse nível, portanto, a argumentação pode ser de-<br />
finida como uma forma de ação entre sujeitos: ação de um indivíduo<br />
(orador) sobre um outro indivíduo ou conjunto de indivíduos (auditó-<br />
rio), tendo em vista o desencadeamento de uma outra ação – provo-<br />
car a adesão do(s) destinatário(s) para a posição do destinador.<br />
Um texto cujos argumentos sejam frágeis, incompatíveis com o<br />
ponto de vista assumido pelo produtor ou com a realidade circundan-<br />
te, não será capaz de convencer ou persuadir o interlocutor, apresen-<br />
tando, portanto, baixa eficiência pragmática. É o caso dos textos 1, 2<br />
e 7. Neles, a falta de reflexão sobre o tema e ausência de um posicio-<br />
namento crítico por parte do autor, o que está diretamente relaciona-<br />
do à seleção e à organização de argumentos, os tornam ineficazes em<br />
termos de atuação sobre o outro: são textos que não conve ncem, que<br />
nada acrescentam ao leitor. Além disso, a própria “montagem das<br />
idéias” fica comprometida pelos vários problemas observados: a má<br />
estruturação de períodos e parágrafos, os erros de ortografia e pontu-<br />
ação, a não-observância da concordância nominal e verbal, para citar<br />
apenas alguns, o que se relaciona ao uso inadequado da norma culta,<br />
na modalidade escrita.<br />
Finalmente, é preciso dizer que as noções de argumentação, de<br />
coesão e de coerência não são estanques, mas se interpenetram, se<br />
entrecruzam na construção de um texto. São, pois, aspectos que de-<br />
vem ser cuidadosamente trabalhados pelo produtor para que seu dis-<br />
curso tenha continuidade e progressão, não se contradiga nem<br />
contradiga o mundo a que se refere, seja argumentativamente consis-<br />
tente e convincente e, além disso, apresente recursos adequados à<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
266
expressão das relações entre as idéias, na superfície textual. O resul-<br />
tado desse trabalho será, certamente, um “bom” texto. Mas como<br />
trabalhar essas questões, de forma eficaz, em sala de aula? Como<br />
levar os alunos a colocar em prática todos esses elementos na produ-<br />
ção de seus textos? É o que tentaremos responder na próxima seção.<br />
3. Uma proposta de trabalho a título de conclusão<br />
Em pesquisa anterior (LARA, 1993), publicada posteriormente<br />
(LARA, 1999), publicação à qual remetemos o leitor interessado<br />
num maior detalhamento da proposta, defendemos a adoção da auto-<br />
correção como forma de trabalho com o texto, em sala de aula, de<br />
modo a tornar o aluno um leitor/escritor proficiente. Essa proposta,<br />
que já foi por nós testada várias vezes – e com sucesso – em cursos<br />
de Produção de Texto para universitários de diferentes áreas, tanto na<br />
UFMS quanto na UFMG, dá ao aluno a oportunidade de refletir so-<br />
bre seu próprio texto, analisando-o em seus vários aspectos (sobretu-<br />
do naqueles que envolvem as noções aqui focalizadas, ou seja,<br />
aspectos macrotextuais) e reformulando-o, de modo a sanar os pro-<br />
blemas detectados. Só assim ele poderá aprimorar sua competência<br />
textual, passando a elaborar textos coesos, coerentes e, ao mesmo<br />
tempo, dotados de argumentação sólida e convincente. Em suma:<br />
textos que tenham efetivamente algo a dizer e que o digam eficien-<br />
temente, de modo a agir sobre o outro.<br />
Trata-se, é claro, de uma proposta de médio a longo prazo, uma<br />
vez que requer tempo para que os textos produzidos pelos próprios<br />
alunos – e previamente selecionados pelo professor em função do<br />
problema ou do aspecto que se quer abordar – sejam avaliados e<br />
reescritos primeiro pelo grande grupo; depois por grupos menores;<br />
em seguida, por duplas, e, finalmente, pelo próprio autor do texto.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
267
Assim, ao invés de adotar a “correção indicativa”, assinalando sim-<br />
plesmente aquilo que <strong>jul</strong>ga errado, ou a “correção resolutiva”, corri-<br />
gindo, ele mesmo, os problemas encontrados (isto é, reescrevendo<br />
até frases inteiras), o professor dá ao aluno, via autocorreção, a opor-<br />
tunidade de fazer tanto uma coisa – identificar o problema – quanto a<br />
outra – buscar os meios para saná-lo, funcionando, nesse caso, dada a<br />
sua maior experiência e seu maior conhecimento, como um orienta-<br />
dor do aluno no processo de escrita ou como um mediador desse<br />
processo.<br />
A autocorreção, já apontada por Geraldi (1985, p. 63) como al-<br />
ternativa na prática de análise lingüística (que o autor articula à prá-<br />
tica de leitura e à prática de produção de textos), é retomada pelos<br />
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Língua Portu-<br />
guesa (1998) como “refacção” de textos.<br />
Lembramos que, para Geraldi, a “prática de análise lingüística”<br />
não deve ser tomada como a mera “higienização” do texto, com a<br />
correção dos chamados “erros gramaticais”, mas como uma prática<br />
mais ampla que se caracteriza “pela retomada do texto produzido na<br />
aula de produção [...] para re-escrevê-lo” (GERALDI, 1985, p. 63), o<br />
que envolve, sobretudo, os aspectos macrotextuais, isto é, conteúdos<br />
relacionados a outras dimensões da linguagem (semântica, pragmáti-<br />
ca) e não somente à dimensão gramatical stricto sensu.<br />
Também os PCNs consideram que a refacção faz parte do pro-<br />
cesso de escrita, sendo o texto pronto produto de sucessivas versões .<br />
Para o aluno, a refacção propicia o distanciamento necessário para<br />
que ele possa atuar criticamente sobre seu próprio texto; para o pro-<br />
fessor, possibilita a elaboração de atividades e exercícios que forne-<br />
çam os instrumentos lingüísticos para o aluno poder revisar o texto.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
268
Ainda segundo os PCNs (1998), os procedimentos de refacção<br />
começam de maneira externa, com a mediação do professor, fazendo<br />
o aluno sair do complexo (o texto como um todo), ir ao simples (as<br />
questões lingüísticas e discursivas) e retornar ao complexo, ensinan-<br />
do, assim, técnicas de revisão e levando-o à autocorreção. Assim,<br />
“um dos aspectos fundamentais na prática de análise lingüística é a<br />
refacção dos textos produzidos pelos alunos”.<br />
Em suma: é através da autocorreção ou da refacção de seus pró-<br />
prios textos que o aluno poderá conscientizar-se sobre os elementos<br />
necessários à produção de um “bom texto”, observando, na prática,<br />
como eles funcionam, como se organizam e se inter-relacionam.<br />
Referências Bibliográficas<br />
COSTA VAL, M. da Graça. Redação e textualidade. São Paulo:<br />
Martins Fontes, 1991.<br />
GERALDI, João W. O texto na sala de aula. Cascavel: Assoeste,<br />
1980.<br />
KOCH, Ingedore G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto,<br />
1989.<br />
KOCH, Ingedore G.V.; TRAVAGLIA, Luiz C. A coerência textual.<br />
São Paulo: Martins Fontes, 1990.<br />
LARA, Glaucia M. P. Autocorreção e auto-avaliação na produção<br />
de textos escolares: relato de uma experiência. Belo Horizonte:<br />
FALE/UFMG, 1993. (dissertação de mestrado)<br />
------. Autocorreção e auto-avaliação na produção de textos escolares:<br />
relato crítico de uma experiência. Campo Grande: Ed.<br />
UFMS, 1999. 234pp.<br />
MARCUSCHI, Luiz A. A Lingüística de Texto: o que é e como se<br />
faz. Recife: UFPE/Mestrado em Letras e Lingüística, 1983.<br />
PÉCORA, Alcir. Problemas de redação. São Paulo: Martins Fontes,<br />
1983.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
269
ANEXO – Proposta de redação do Processo Seletivo da<br />
UFMS/2005-Verão:<br />
Os textos do Painel de Leitura focalizam a situação complexa,<br />
vivenciada na atualidade, pelas populações indígenas brasileiras. O<br />
mito do “bom selvagem”, explorado desde a Carta de Caminha, já<br />
não se sustenta mais numa sociedade globalizada, em que os índios,<br />
muitas vezes, assimilam valores dos não-índios. Tendo em vista<br />
essa discussão, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o<br />
tema: Índios brasileiros: como viver com dignidade no século XXI?<br />
Ao desenvolver o tema, procure utilizar os conhecimentos ad-<br />
quiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione,<br />
organize e relacione argumentos (dados, fatos, opiniões) para fun-<br />
damentar seu ponto de vista. Apresente também sugestões para os<br />
problemas abordados, não se esquecendo de que elas devem ser<br />
exeqüíveis e demonstrar respeito aos direitos humanos.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
270
Apresentação<br />
A filologiana classificação<br />
brasileira de ocupações<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
José Pereira da Silva – UERJ<br />
A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) é o documen-<br />
to normalizador do reconhecimento, da nomeação e da codificação<br />
dos títulos e conteúdos das ocupações do mercado de trabalho brasi-<br />
leiro. Sua última publicação data de 1994, resultante de atualizações<br />
pontuais da estrutura editada pela primeira vez em 1982, com o título<br />
de CBO.<br />
A CBO origina-se do Cadastro Brasileiro de Ocupações do Mi-<br />
nistério do Trabalho e da Classificação Internacional Uniforme de<br />
Ocupações (CIUO) da Organização Internacional do Trabalho, de<br />
1968.<br />
O Ministério do Trabalho, por intermédio da Secretaria de Polí-<br />
ticas de Emprego e Salário (SPES), no intuito de facilitar seu acesso<br />
aos usuários, está viabilizando a distribuição da CBO via Internet.<br />
Você pode obter cópia da CBO94. Para maiores informações<br />
consulte a Divisão de Classificação Brasileira de Ocupações E-<br />
mail: cbo.spes@mte.gov.br Telefone: (<strong>06</strong>1) 317-6600 Fax: (<strong>06</strong>1)<br />
226-0789<br />
Atalho para busca direta da ocupação de filólogo no portal do<br />
Ministério do Trabalho e Emprego:<br />
www.mtecbo.gov.br/busca/descricao.asp?codigo=2614 -05<br />
271
Estrutura da CBO<br />
A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) apresenta uma<br />
ordenação das várias categorias ocupacionais, tendo em vista a ana-<br />
logia dos conteúdos de trabalho e as condições exigidas para o seu<br />
desempenho.<br />
A Categoria Ocupacional é um conceito genérico, aplicável a<br />
qualquer agrupamento classificatório de realidades do trabalho, en-<br />
quanto que a ocupação é o agrupamento de tarefas, operações e ou-<br />
tras manifestações que constituem as obrigações atribuídas a um<br />
trabalhador e que resultam na produção de bens e serviços.<br />
As Categorias Ocupacionais que compõem a estrutura da<br />
CBO são: Grandes Grupos, Subgrupos, Grupos de Base e Ocupa-<br />
ções.<br />
Grande Grupo: é a categoria de classificação mais agregada.<br />
Reúne amplas áreas de emprego, mais do que tipos específicos de<br />
trabalho. Por força de sua amplitude, nem sempre se estabelecem<br />
inter-relações dos conjuntos aí reunidos.<br />
Grande Grupo 0/1 - Trabalhadores de Profissões Científicas,<br />
Técnicas, Artísticas e Trabalhadores Assemelhados.<br />
Subgrupo: trata-se de agrupamento mais restrito que o grande<br />
grupo, e configura, principalmente, as grandes linhas do mercado de<br />
trabalho.<br />
Subgrupo 1-9 - Trabalhadores de Profissões Científicas.<br />
Grupo de Base: também denominado grupo primário, grupo<br />
unitário e família ocupacional, reúne ocupações que apresentam es-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
272
treito parentesco tanto em relação à natureza de trabalho quanto aos<br />
níveis de qualificação exigidos.<br />
Grupo de Base 1-95 – Filólogos, Tradutores e Intérpretes<br />
Ocupação: é a unidade do sistema de classificação. Para efeitos<br />
práticos, define-se a ocupação como o conjunto de postos de trabalho<br />
substancialmente iguais quanto a sua natureza e às qualificações<br />
exigidas. (O posto de trabalho corresponde a cada unidade de traba-<br />
lho disponível ou satisfeita. Constitui-se de tarefas, obrigações e<br />
responsabilidades atribuídas a cada trabalhador). Pode-se, ainda,<br />
conceituar a ocupação como o conjunto articulado de funções, tarefas<br />
e operações destinadas à obtenção de produtos ou serviços.<br />
Grupo de Base 1-95.20 – Filólogo<br />
As categorias ocupacionais têm como elementos básicos de i-<br />
dentificação o título, o código e a descrição.<br />
Título: cada categoria é identificada por um título ou denomi-<br />
nação principal, com a preocupação fundamental de que o título ex-<br />
prima a realidade do trabalho. Devido à existência de grande<br />
variedade de denominações regionais ou setoriais, a CBO inclui uma<br />
relação de sinônimos de maior significação denominado Índice Alfa-<br />
bético, que espelha, de forma mais real e abrangente possível, o uni-<br />
verso ocupacional brasileiro, incorporando regionalismos e<br />
denominações características, adotadas nas mais variadas atividades<br />
e setores.<br />
Descrição: procura responder a três questionamentos básicos: o<br />
que se faz, como e com que se faz e para que se faz. A cada categoria<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
273
ocupacional corresponde uma descrição de atribuições e tarefas. Para<br />
ocupações fundamentais, a descrição compõe-se de três núcleos:<br />
1º - sumário, constituído por informações gerais sobre o conte-<br />
údo do trabalho.<br />
2º - tarefas principais, isto é, as atribuições que exigem do tra-<br />
balhador maior concentração de esforço físico, mental, habilidades,<br />
tempo e outros fatores. As tarefas são, usualmente, ordenadas segun-<br />
do uma seqüência lógica resultante da análise dos processos de exe-<br />
cução.<br />
3º - tarefas secundárias, opcionais ou acessórias, as quais, em-<br />
bora não fazendo parte da essência da ocupação, guardam alguma<br />
analogia com as principais. Vêm precedidas da palavra Pode.<br />
Código: o sistema básico de codificação da CBO tem a ampli-<br />
tude máxima de cinco campos, correspondente à categoria mais de-<br />
sagregada. A codificação é numérica, onde o primeiro dígito<br />
identifica o grande grupo; os dois primeiros, o subgrupo; os três<br />
primeiros, o grupo de base; e cinco dígitos, a ocupação. Tomando<br />
como exemplo a ocupação de emissor de passagens, cujo código é 3-<br />
32.40, tem-se:<br />
o dígito 3 identifica o grande grupo dos trabalhadores de servi-<br />
ços administrativos e trabalhadores assemelhados<br />
os dígitos 3-3 determinam o subgrupo dos trabalhadores de ser-<br />
viços de contabilidade, caixas e trabalhadores assemelhados<br />
os dígitos 3-32 representam o grupo de base dos atendentes de<br />
guichês, bilheteiros e trabalhadores assemelhados.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
274
Dois grandes grupos e subgrupos estão identificados por códi-<br />
gos duplos ou triplos, devido à sua amplitude: são os grandes gru-<br />
pos 0/1, trabalhadores das profissões científicas, técnicas, artísticas e<br />
trabalhadores assemelhados, e 7/8/9, trabalhadores de produção in-<br />
dustrial, operadores de máquina, condutores de veículos e trabalha-<br />
dores assemelhados, e os subgrupos 0-6/0-7, médicos, cirurgiões-<br />
dentistas, médicos veterinários, enfermeiros e trabalhadores asseme-<br />
lhados, e 1-3/1-4, professores. A utilização de códigos múltiplos só<br />
se verifica, porém, em nível de agrupamento maior, não sucedendo o<br />
mesmo às categorias ocupacionais incluídas. O grande grupo dos<br />
membros das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares é i-<br />
dentificado, excepcionalmente, pela letra X.<br />
O que já aconteceu em relação à ocupação de filólogo<br />
Data: 05 a <strong>06</strong> de <strong>jul</strong>ho de 2001<br />
Família Ocupacional: Filólogos, Intérpretes e Tradutores<br />
Entidades colaboradoras Universidade de São Paulo<br />
Universidade do Rio de Janeiro<br />
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul<br />
Filólogos convidados como especialistas,<br />
na Reunião de Descrição<br />
Bruno Fregni Bassetto<br />
João Bortolanza<br />
José Pereira da Silva<br />
Luís Antônio Lindo<br />
Data: 05 de agosto de 2001<br />
Filólogos convidados no Comitê de<br />
Validação<br />
Evanildo Cavalcante Bechara<br />
Bruno Fregni Bassetto<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
275
Data: 24 de setembro de 2001<br />
Família Ocupacional: Professores de Língua e Literatura do Ensino Superior<br />
Entidade colaboradora: Universidade do Rio de Janeiro<br />
Filólogo convidado no Comitê de<br />
Validação<br />
José Pereira da Silva<br />
Código CBO: 1-95.20 Título: Filólogo<br />
Descrição resumida:<br />
Realiza estudos científicos sobre a origem, evolução e estrutura<br />
das línguas, em documentos escritos, analisando combinações lin-<br />
güísticas, sons e articulações, fazendo comparações entre as línguas<br />
antigas e modernas e identificando, classificando, reconstruindo e<br />
decifrando as arcaicas ou não muito conhecidas, através de textos<br />
escritos, para determinar a etimologia e evolução das palavras, seus<br />
significados e definir estruturas lingüísticas:<br />
Descrição detalhada<br />
Estuda a etimologia, evolução e significado das palavras, anali-<br />
sando documentos escritos e fazendo comparações entre línguas<br />
antigas e modernas, para definir estruturas lingüísticas; estuda sons e<br />
articulações da linguagem e suas combinações nas diferentes línguas,<br />
analisando símbolos e códigos estabelecidos na reprodução da fala,<br />
para caracterizar distinções lingüísticas; realiza pesquisas sobre lín-<br />
guas semidesconhecidas, identificando-as através do estudo de do-<br />
cumentos ou por outros meios, para obter uma base de<br />
comparatividade com outras línguas; reconstrói e decifra línguas<br />
arcaicas ou desconhecidas, estudando e comparando sinais e docu-<br />
mentos escritos encontrados em escavações arqueológicas, a fim de<br />
obter elementos para estudo de outras línguas; elabora dicionários e<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
276
outras obras similares, organizando sistemas de classificação relati-<br />
vos à significação, para esclarecer os estudiosos e proporcionar o<br />
conhecimento de diversas línguas. Pode especializar-se em um de-<br />
terminado campo da filologia, como fonética, lexicologia, semântica<br />
ou morfologia, e ser designado de acordo com a especialização.<br />
Classificação brasileira de ocupações<br />
Projeto de mudança<br />
Temos presenciado profundas transformações no mundo do tra-<br />
balhador. Globalização, difusão de novas tecnologias, novas formas<br />
de organização do trabalho; são alguns exemplos das mudanças que<br />
vêm exigindo dos trabalhadores o desenvolvimento de novas compe-<br />
tências frente a sua profissão.<br />
O próprio conceito de ocupação tem se modificado. A antiga<br />
forma de classificação, baseada em pequenas qualificações fixas, está<br />
sendo substituída por sistemas mais versáteis, flexíveis e amplos.<br />
A CBO - Classificação Brasileira de Ocupações passa, igual-<br />
mente, por profundas modificações.<br />
Atualmente, a CBO é utilizada para registros administrativos<br />
(RAIS e CAGED), carteira de trabalho, imposto de renda, imigração,<br />
pesquisas salariais, estatísticas oficiais, definição de políticas de em-<br />
prego, entre outros. O objetivo é que a nova CBO seja a única classi-<br />
ficação ocupacional, passando a ser utilizada também para os<br />
registros domiciliares (censo).<br />
Outro objetivo é garantir a atualização e a competitividade da<br />
nossa mão-de-obra em nível internacional. Para tanto, nosso sistema<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
277
deverá estar em sintonia com as ocupações dos demais países com os<br />
quais o Brasil mantém relação. Por isso, a elaboração da CBO tem<br />
como norteador a Classificação Internacional Uniforme de Ocupa-<br />
ções - CIUO, que fornece aos países um sistema referencial que per-<br />
mite uma comparação de ocupações em âmbito internacional.<br />
Este grande projeto, que teve início em 1996 e está sendo con-<br />
duzido no âmbito da CONCLA - Comissão Nacional de Classifica-<br />
ção, conta com o apoio de Confederações, Federações, Sindicatos,<br />
Associações, Áreas de Recursos Humanos, com destaque para o<br />
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas você tam-<br />
bém pode participar.<br />
Etapas do Projeto<br />
Em 1996, o Ministério do Trabalho e Emprego, em pareceria<br />
com o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, organi-<br />
zou uma proposta de estrutura de famílias ocupacionais e seu dicio-<br />
nário. O documento proposto foi amplamente divulgado e, em 1997,<br />
foi organizada uma série de reuniões com sindicatos, órgãos de for-<br />
mação profissional, escolas técnicas, universidades e institutos de<br />
pesquisa, para sua validação. O trabalho foi encerrado em outubro de<br />
1998.<br />
Uma vez definida essa estrutura básica inicial, a próxima etapa<br />
consiste na elaboração das descrições (conteúdo do trabalho) de cada<br />
uma das famílias ocupacionais.<br />
Para efetuar a descrição das famílias, é utilizada uma metodolo-<br />
gia que consiste em reuniões com grupos de trabalhadores (chama-<br />
dos de Grupo Especialista) que são especialmente convidados por<br />
serem considerados profundos conhecedores da sua profissão e res-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
278
peitados pelo seu desempenho profissional. O objetivo é identificar<br />
as competências, habilidades e principais atividades de cada família<br />
ocupacional.<br />
parceria.<br />
Para esta etapa do projeto, o MTE conta, entre outras, com a<br />
FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, res-<br />
ponsável pela descrição de 50 famílias ocupacionais que integram as<br />
classes profissionais de ensino, jurídicos, de atendimento ao público<br />
e cultural, entre as quais se inclui a dos filólogos.<br />
Uma vez elaborada a descrição pelo Grupo de Especialistas,<br />
passa-se para a fase de validação desses conteúdos. Esta fase, que<br />
ocorre ao final de cada reunião dos Grupos de Especialistas, é reali-<br />
zada pelo Comitê de Validação. Este comitê é formado por profis-<br />
sionais com reconhecida competência técnica, facilidade de<br />
comunicação, influentes em seu meio de atuação e atualizados a<br />
respeito das novidades que dizem respeito à ocupação, e seu papel é<br />
ajustar as descrições propostas para cada família.<br />
Tanto a nomenclatura como o índice de sinônimos estão sendo<br />
testados pelo IBGE nos experimentos-piloto que antecedem o censo<br />
populacional 2000.<br />
Famílias Descritas<br />
No portal do Ministério do Trabalho em Emprego<br />
(www.mte.gov.br), estão disponibilizadas as famílias ocupacionais<br />
descritas, sendo que a família dos filólogos, tradutores, intérpretes [e<br />
lingüistas] está na página<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
279
www.mtecbo.gov.br/busca/descricao.asp?codigo=2614 -05<br />
ANEXO<br />
Portaria Nº 1.334, de 21 de Dezembro de 1994<br />
(D.O.U. 23/12/94, seção 1 pág. 20388)<br />
O MINISTÉRIO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso das<br />
atribuições que lhe confere o Art. 87, parágrafo único, inciso II, da<br />
Constituição Federal:<br />
Considerando a necessidade de uniformizar os títulos e codificar<br />
as ocupações brasileiras, para fins de pesquisa sobre o mercado de<br />
trabalho e a estrutura ocupacional;<br />
Considerando os estudos da Organização Internacional do Tra-<br />
balho, consolidados na Classificação Internacional Uniforme de O-<br />
cupações;<br />
Considerando que o "Projeto de Planejamento de Recursos Hu-<br />
manos" Bra/70/550 decorrente do convênio entre o governo do Brasil<br />
e o programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD),<br />
com a colaboração da Organização Internacional do Trabalho (OIT)<br />
e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cul-<br />
tura (UNESCO), previu, entre seus objetivos, a elaboração de uma<br />
Classificação Nacional de Ocupações a fim de unificar a nomencla-<br />
tura para as estatísticas de trabalho;<br />
RESOLVE:<br />
Art. 1º - Aprovar a Classificação Brasileira de Ocupações -<br />
CBO, versão 94, para uso em todo o território nacional;<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
280
Art. 2º - Determinar que os títulos e códigos constantes na Clas-<br />
sificação Brasileira de Ocupações - CBO sejam adotados;<br />
nas atividades de registro, inscrição, colocação e outras desen-<br />
volvidas pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE);<br />
na Relação anual de Informações Sociais (RAIS);<br />
nas relações dos empregados admitidos e desligados - CAGED,<br />
de que trata a Lei Nº 4923, de 23 de <strong>dez</strong>embro de 1965;<br />
na autorização de trabalho para mão-de-obra estrangeira (imi-<br />
gração - anexo - I);<br />
nas atividades de preenchimento do certificado de dispensa do<br />
Seguro Desemprego (CD);<br />
no preenchimento do contrato de trabalho na CTPS;<br />
nas atividades e programas do Ministério do Trabalho, quando<br />
for o caso;<br />
Art. 3º - A Secretaria de Políticas de Emprego e Salário fica au-<br />
torizada a celebrar convênios com a Fundação Instituto Brasileiro de<br />
Geografia e Estatística (IBGE) e com outras instituições, com o obje-<br />
tivo de compatibilizar as Classificações atuais com a Classificação<br />
Brasileira de Ocupações (CBO);<br />
Art. 4º - A Secretaria de Políticas de Emprego e Salário baixará<br />
as normas necessárias à regulamentação da utilização da Classifica-<br />
ção Brasileira de Ocupações (CBO).<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
281
Parágrafo único - Caberá à Coordenação de Identificação e<br />
Registro Profissional, através da Divisão da Classificação Brasileira<br />
de Ocupações, atualizar a Classificação Brasileira de Ocupações -<br />
CBO, procedendo às revisões técnicas necessárias com base na expe-<br />
riência de seu uso.<br />
Art. 5º - Os efeitos de uniformização pretendida pela Classifica-<br />
ção Brasileira de Ocupações (CBO) são de ordem administrativa e<br />
não se estendem às relações de emprego, não havendo obrigações<br />
decorrentes da simples mudança da nomenclatura do cargo exercido<br />
pelo empregado;<br />
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-<br />
ção, ficando obrigado o uso da nova nomenclatura nos documentos<br />
oficiais a que aludem os itens II, III, IV, V e VI, da artigo 2º.<br />
Art. 7º - Fica revogada a Portaria 3654, de 24 de novembro de<br />
1977, e demais disposições em contrário.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
MARCELO PIMENTEL<br />
282
Dificuldades de leitura ou dislexia:<br />
uma questão de graus?<br />
Cláudia Martins Moreira – UESC / UFBA<br />
As dificuldades enfrentadas no processo de aquisição da leitura<br />
pelas crianças são diversas, e suas causas podem ser das mais gerais,<br />
como a dificuldade de aprendizagem, às mais específicas e severas,<br />
como o que se costuma chamar de dislexia. A fronteira entre esses<br />
tipos de deficit é o assunto que trato neste artigo. Existe um limite<br />
bem definido entre eles, ou há uma gradação, um continuum, entre<br />
essas diversas dificuldades? Para refletir sobre essa questão, procuro<br />
enfatizar o importante papel que exerceria a ciência lingüística, se<br />
tivesse uma participação mais efetiva neste assunto no Brasil, con-<br />
clamando que se façam mais estudos interdisciplinares sobre a ques-<br />
tão, e que estes estudos atinjam seu principal alvo, o professor,<br />
reeducador por excelência. No momento em que se busca uma edu-<br />
cação cada vez mais inclusiva, é necessário que este assunto seja<br />
tratado com clareza e realismo, especialmente pelos educadores de<br />
escolas públicas, que se sentem inseguros diante desta questão, e<br />
tendem a duas posturas extremas: ou ignoram o problema, tratando-o<br />
como algo menor; ou tendem a considerar todas as dificuldades co-<br />
mo uma patologia que deve ser tratada pelo terapeuta.<br />
Para intensificar essa polêmica, há ainda que se considerar as<br />
restrições à pesquisa nessa área, cujas origens são diversas, das polí-<br />
ticas às téorico-metodológicas.<br />
No que tange ao Brasil, a questão política está relacionada desde<br />
as políticas públicas de pesquisa, as quais inviabilizam a produção<br />
científica numa área que necessita fazer uso de instrumentos que<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
283
significam um alto custo econômico (os instrumentos de cartografia<br />
cerebral, p. e.), bem como a cultura de pesquisa em que se constitui a<br />
academia brasileira, centrada na produção científica disciplinar,<br />
compartimentada, que divide as áreas de pesquisa em blocos fecha-<br />
dos e com escassos diálogos. Refiro -me aqui especificamente ao fato<br />
de os estudos na área de distúrbios (ou dificuldades) de leitura no<br />
Brasil terem estado, ao longo desses anos, sob o domínio exclusivo<br />
da área de saúde, com uma permissão tímida da participação – muito<br />
menos teórica e muito mais operacional – do psicopedagogo.<br />
Talvez seja por isso mesmo que o conceito de dislexia, por mui-<br />
tos profissionais de saúde, ainda está limitado à idéia de uma patolo-<br />
gia específica (e misteriosa), uma doença, semelhante ao pensamento<br />
atuante na França no princípio do século passado, como atesta Lau-<br />
nay (1984: 115):<br />
Quando os neurologistas tomaram consciência,<br />
em princípios deste século, da anomalia que<br />
consistia na impossibilidade, para uma criança<br />
aparentemente normal, de ler e adquirir a organização<br />
da linguagem, pensaram descobrir com<br />
isto uma entidade mórbida próxima à alexia ou<br />
ao agramatismo descrito no adulto no momento<br />
da afasia. O qualificativo de cegueira verbal<br />
congênita dá testemunho desta concepção, do<br />
mesmo modo que as múltiplas denominações<br />
propostas nesta época.<br />
Esse problema político (público e acadêmico) que citei acima é<br />
o gerador de um outro de cunho téorico-metodológico. Uma vez que<br />
a dislexia tem sido cada vez mais identificada como tendo várias<br />
causas (e/ou vários sintomas) sob influência de fatores diversos –<br />
sejam eles genéticos, neurológicos, lingüísticos, psicológicos e edu-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
284
cacionais (SANTOS e NAVAS, 2004) – não se pode mais prescindir<br />
de estudos interdisciplinares nesse assunto.<br />
Uma vez que a própria natureza da dislexia – é ou não uma pa-<br />
tologia específica? – tem sido o ponto central de controvérsias sobre<br />
o assunto, a participação da Lingüística nessa discussão, fornecendo<br />
dados e informações daquilo que é considerada uma aquisição da<br />
escrita numa situação normal – e, a esse respeito, a literatura lingüís-<br />
tica tem crescido muito nos últimos anos – é urgente e necessária.<br />
Essas questões levam a outras também nevrálgicas. Em quais<br />
aspectos de cunho lingüístico têm se baseado os profissionais de<br />
saúde para compreender o processo de aquisição da leitura? Até que<br />
ponto os diagnósticos existentes são suficientes para discernir entre<br />
uma simples dificuldade própria do desenvolvimento normal e uma<br />
dificuldade de cunho patológico? Como identificar o que foge à<br />
normalidade, desconhecendo-se o que é considerado normal?<br />
Reconhece-se que muitas são as causas das dificuldades de lei-<br />
tura, das congênitas, às sociais, psicoemocionais, e até educacionais.<br />
Independentemente de quais sejam as causas, é importante conside-<br />
rar, por outro lado, que a criança que aprende a ler – seja normo-<br />
leitora ou não – aprende numa determinada língua; portanto, um<br />
distúrbio de aprendizagem da escrita, é, entre outros aspectos, uma<br />
dificuldade específica para lidar com a língua (escrita). Sendo assim,<br />
a voz do lingüista nessa discussão é indispensável.<br />
Por outro lado, é preciso muito cuidado com exageros em ambas<br />
as direções (dum extremo da normalidade para um extremo da pato-<br />
logia): ignorar o transtorno de leitura como um distúrbio que precisa<br />
ser tratado não é jamais admissível; porém, uma atividade de preven-<br />
ção excessiva, visando impedir o erro também pode ser tão prejudi-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
285
cial quanto a omissão, visto que impede a fluência do desenvolvi-<br />
mento da leitura que é, necessária e inevitavelmente, constituído de<br />
erros (construtivos). É nesse interstício que acredito ser extremamen-<br />
te necessário o diálogo entre o lingüista e o profissional de saúde,<br />
especialmente o fonoaudiólogo, que tem tido uma forte penetração<br />
na escola.<br />
1. Estudos lingüísticos sobre a leitura inicial<br />
Em matéria de leitura inicial, as pesquisas de cunho cognitivo<br />
são as mais produtivas em número, de tal forma que os estudos sobre<br />
Aquisição de Leitura são tradicionalmente vistos mais como um<br />
domínio de psicólogos do que de lingüistas. No interior desses estu-<br />
dos cognitivos, costuma-se estudar o papel da atenção e automatiza-<br />
ção de processos de recepção de sinais visuais (SAMUELS, 1992,<br />
1994) e da consciência fonológica (MORAIS, 1998; CARDOSO-<br />
MARTINS, 1995; BYRNE, 1995) na leitura inicial.<br />
Por outro lado, as pesquisas de cunho social visam a compreen-<br />
der em que sentido o tipo de contato que as crianças têm com porta-<br />
dores de texto pode influenciar no desempenho em leitura dessas<br />
mesmas crianças. Costuma-se acreditar que quanto mais letrado for o<br />
ambiente que cerca a criança, melhor será o seu desempenho em<br />
leitura. Esses estudos têm mostrado que, mesmo antes de aprender a<br />
ler, a criança já traz informações bastante sistemáticas sobre as fun-<br />
ções e atributos dos textos que a cercam. Os estudos sobre esses a s-<br />
pectos são denominados letramento emergente. No Brasil, tais<br />
pesquisas têm sido desenvolvidas por Moreira (1992), Rego (1992),<br />
Mayrink-Sabinson (1998), Terzi (1995) entre outros.<br />
Há ainda estudiosos que visam analisar em que sentido as restri-<br />
ções do sistema de escrita interferem no processo de aquisição da<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
286
leitura. Dessa forma, estuda-se, no caso da língua portuguesa, o papel<br />
da ortografia no processamento em leitura e como as crianças lidam<br />
com as regularidades e irregularidades próprias de uma escrita alfa-<br />
bética como a nossa. Nesse grupo, poderiam se inserir os trabalhos<br />
de Cagliari (1992, 1998), Alvarenga (1988), Oliveira e Nascimento<br />
(1990), Moreira (1999), Morais (2002) entre outros.<br />
2. Estudos sobre distúrbios de leitura<br />
As pesquisas sobre as dificuldades de leitura, por sua vez, têm<br />
sido um terreno frutífero de investigação das diversas áreas do co-<br />
nhecimento em vários países, especialmente na França, onde já há<br />
uma tradição de estudos a esse respeito, os quais já têm iluminado<br />
muitas práticas pedagógicas inovadoras na atualidade<br />
(AJURIAGUERRA, 1984).<br />
Essas pesquisas, entretanto, não são resultantes de uma visão<br />
consensual a respeito da natureza da dislexia. Stambak et. ali. (1984),<br />
mostram, por exemplo, que o conceito de dislexia na França – e de<br />
algum modo também no Brasil – evoluiu de uma preocupação mais<br />
nosográfica, entre o final do século XIX e princípio do XX, a uma<br />
visão mais dialética do problema.<br />
No Brasil, a dislexia tem sido investigada sobretudo por profis-<br />
sionais de saúde, inserindo-se na área da Medicina, Psicopedagogia e<br />
Fonoaudiologia. Embora haja enfoques que vêem a dislexia como<br />
uma doença específica, dando ênfase às explicações genéticas e neu-<br />
rológicas, já se delineia uma tendência a reconhecê-la como uma<br />
síndrome, com diversos fatores associados.<br />
Também tem sido constante, em âmbito nacional, a ênfase nas<br />
questões educacionais que permeiam as dificuldades de leitura. Já é<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
287
sabido que o método de ensino e o tipo de interação professor aluno<br />
não podem ser considerados causadores de um distúrbio de leitura,<br />
entretanto, a escola, o método de ensino e o professor constituem um<br />
importante diferencial na vida de uma criança disléxica, interferindo<br />
desde o aspecto afetivo – como a auto-estima – ao próprio desenvol-<br />
vimento lingüístico-cognitivo. Segundo Fiqueiral (2004: 02):<br />
Conhecendo o Transtorno e as técnicas de manejo<br />
em sala de aula, o professor é capaz de<br />
provocar mudanças significativas na relação do<br />
aluno com a aprendizagem. Mobilizado, o aluno<br />
também se utiliza de novos recursos que,<br />
muitas vezes, eram desconhecidos pelos próprios<br />
especialistas, para dar conta dos desafios<br />
em sala de aula, para que o professor sinta orgulho<br />
dele.<br />
Indo na mesma direção da autora acima, acredito que é, sim, no<br />
professor, que devem ser feitos todos os investimentos para que esse<br />
possa intervir de maneira significativa na qualidade de vida de uma<br />
criança com dificuldade de leitura. Ou seja, é o professor que deve<br />
ser orientado no que tange às implicações cognitivas, psicoafetivas e<br />
lingüísticas desse tipo de transtorno e de como se pode atuar. Entre-<br />
tanto, é necessário ver esse professor também como um sujeito e um<br />
parceiro do processo ensino-aprendizagem dessa criança. Em outras<br />
palavras, é preciso também que esse professor seja ouvido, seja res-<br />
peitado nesse processo, que não seja visto como um mero aplicador<br />
de propostas de intervenção elaboradas pelos pesquisadores. Ele é<br />
também uma importante referência para se conhecer o estilo de a-<br />
prendizagem de cada criança individualmente. Não podemos esque-<br />
cer que a auto-estima do professor é também um fator interveniente<br />
nesse processo.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
288
Ao defender isso, estou me opondo a algumas propostas que pa-<br />
recem negar o devido respeito ao professor como o educador por<br />
excelência, que o vêem como um indivíduo cheio de problemas a<br />
corrigir, como mais um “paciente”, um mero realizador de tarefas. É<br />
assim que vejo, por exemplo, a proposta de Zorzi (2003), uma pro-<br />
posta unilateral, do fonoaudiólogo para o professor. Onde fica a inte-<br />
ração? Não há dúvida de que a presença do fonoaudiólogo na escola<br />
tem sido um importante diferencial para a melhoria da qualidade de<br />
leitura das crianças, mas há que se resguardar o papel de todos os<br />
profissionais como sujeitos – agentes e não pacientes – nesse proces-<br />
so.<br />
3. Controvérsias em torno do problema da leitura<br />
Em termos gerais, há duas maneiras distintas de conceber a a-<br />
quisição da escrita e leitura. Uma delas seria a concepção de que a<br />
aprendizagem ocorre através do contato com o material escrito, de<br />
uma forma naturalística, ou seja, dá-se ênfase a uma aprendizagem<br />
que não se baseia em regras, em que cada sujeito delineia um percur-<br />
so particular de aprendizagem. Nessa linha, situa-se boa parte dos<br />
estudos construtivistas. Uma outra forma consiste na idéia de que a<br />
aquisição se desenvolve de maneira gerativa (MORAIS, 2002); ou<br />
seja, boa parte das notações escritas pode ser explicada por regras<br />
(gramaticais ou contextuais), por conseguinte, é possível, e necessá-<br />
rio, compreender as restrições que o sistema de escrita provoca no<br />
desenvolvimento da lectoescrita. Muitas pesquisas evidenciam que o<br />
percurso regrado da aquisição provoca muito mais êxito do que o<br />
contrário (REGO e BUARQUE, 2002). Assim, o papel da instrução é<br />
fundamental nesta visão, e a intervenção do adulto durante esse pro-<br />
cesso ganha relevância.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
289
No que diz respeito ao estudo patológico da aquisição da leitura,<br />
há também duas formas alternativas de compreender o processo.<br />
Uma maneira consiste em ver na dislexia uma doença específica,<br />
com características típicas. Os estudiosos que assim a vêem tendem a<br />
concentrar sua atenção naquilo que falta no “doente”, buscando solu-<br />
ções genéricas para o problema.<br />
Há, por outro lado, estudiosos como Stambak et. ali. (1984) e<br />
Stanovich (Apud SANTOS e NAVAS, 2004) que concebem a disle-<br />
xia como uma síndrome com diversos fatores envolvidos. Para eles,<br />
não há um limite bem definido entre aquilo que seria a normalidade e<br />
uma patologia de escrita. Também Moojen (2004) é partidária dessa<br />
concepção quando afirma que a diferença entre disléxicos e normo-<br />
leitores não é qualitativa, mas que há uma continuidade entre ambos.<br />
Uma outra questão polêmica diz respeito ao diagnóstico da dis-<br />
lexia. Questiona-se sobre a idade ideal para se fazer o diagnóstico.<br />
Enquanto alguns (ZORZI, 2003; SANTOS e NAVAS, 2004) defen-<br />
dem o diagnóstico precoce, antes dos 6 anos, por acreditarem ser esta<br />
a melhor maneira de viabilizar um trabalho preventivo; outros<br />
(DEBRAY, MELEKIAN e BURSZTEJN, 1984; MOOJEN, 2004)<br />
concordam que o diagnóstico só deva ser feito a partir dos seis ou<br />
sete anos (para os primeiros autores) e depois da 2.ª série (para a<br />
segunda autora); visto que, como atestam Debray et. ali. (1984: 89),<br />
antes dessa idade não se podem distinguir as<br />
más iniciações à leitura (de 15% a 20% das crianças,<br />
provavelmente) e as inaptidões estabelecidas<br />
(5% a 10%) que são as únicas dislexias<br />
verdadeiras sobre as quais pode-se atuar através<br />
da reeducação.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
290
Quanto aos instrumentos utilizados para o diagnóstico, alguns<br />
pesquisadores usam modelos internacionais, o que pode até inviabili-<br />
zar a avaliação, já que os aspectos lingüísticos e culturais deveriam<br />
ser contextualizados. Além disso, há muita controvérsia a respeito de<br />
se os instrumentos existentes sejam realmente eficazes ao diagnosti-<br />
car uma dislexia e/ou diferenciá-la de uma simples dificuldade de<br />
leitura, visto que algumas propostas são extremamente superficiais e<br />
pouco sistemáticas (p. e., o teste de Martins, 2004).<br />
Qualquer que seja o ponto de vista a respeito do diagnóstico da<br />
dislexia, em um aspecto os estudiosos estão de acordo: o diagnóstico<br />
mais confiável é sempre aquele elaborado e avaliado por uma equipe<br />
interdisciplinar. Entretanto, é lamentável o quanto os lingüistas têm<br />
estado de fora desse diálogo. Na grande maioria das obras, quase<br />
nunca se fala do papel do lingüista nessa discussão; quando muito,<br />
cita-se a importância do lingüista, mas pouco se utilizam dos traba-<br />
lhos realizados por esses sobre temas afins, como por exemplo, as<br />
características dos sistemas lingüísticos falados e escritos. Estariam<br />
os lingüistas interferindo pouco nesse assunto, ou estariam, as de-<br />
mais áreas, fazendo pouco uso do que o lingüista tem a dizer?<br />
Reflexões finais<br />
Todas as questões antes aventadas levam-me agora à proposição<br />
inicial deste trabalho. Uma vez que as questões em torno da defini-<br />
ção, da natureza (patológica ou não) e do diagnóstico da dislexia<br />
encontram-se tão controversas, e, por outro lado, ao sabermos que o<br />
desenvolvimento da leitura das crianças ditas normais é também<br />
constituído de erros, até que ponto podemos estabelecer o limite<br />
entre a dislexia (distúrbio) e o desenvolvimento normal?<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
291
Em muitos casos de crianças clinicamente diagnosticadas como<br />
disléxicas, lingüisticamente falando, não há nada nos erros cometidos<br />
por essas crianças que diferencie dos erros cometidos por crianças<br />
normo-leitoras que se encontram no processo de aquisição da leitura<br />
e escrita.<br />
A observação da inexistência de um indício lingüístico que seja<br />
específico de um distúrbio leva, por outro lado, ao encontro do que<br />
defende Stambak et. ali. (1984): a diferença entre os diversos tipos<br />
de dificuldade de leitura é uma questão de grau, sendo, portanto,<br />
difícil estabelecer os limites entre o que é normal e o que é próprio<br />
de uma patologia.<br />
Não quero ter a pretensão de defender a inexistência de uma pa-<br />
tologia neste nível, mas quero, no entanto, defender que, para se<br />
fazer um diagnóstico de anormalidade, é preciso ter em conta os<br />
erros ditos normais. Como saber isso sem buscar o que a Lingüística<br />
tem produzido? E pergunto mais: como têm sido feitos os diagnósti-<br />
cos, prevenções e tratamentos sem esse conhecimento?<br />
É sempre necessário lembrar-nos do que diz Fontanelle (Apud<br />
INIZAN, 1984: 98): “Asseguremo-nos bem do fato antes de preocu-<br />
parmo-nos com a causa... Evitaremos o ridículo de ter encontrado a<br />
causa de algo que não existe”.<br />
Referências Bibliográficas<br />
AJURIAGUERRA, J. DE A. A dislexia em questão: dificuldades e<br />
fracasso na aprendizagem da língua escrita. Porto Alegre: Artes<br />
Médicas, 1984.<br />
ALVARENGA, D. Leitura e escrita: dois processos distintos. Educação<br />
Revista, Belo Horizonte, n. 7, p. 27-31, <strong>jul</strong>. 1988.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
292
BYRNE, B. Treinamento da consciência fonêmica em crianças préescolares:<br />
por que fazê-lo e qual o seu efeito? In: CARDOSO-<br />
MARTINS, C. (Org.) Consciência fonológica e alfabetização.<br />
Petrópolis: Vozes, p. 37-67. 1995.<br />
CARDOSO-MARTINS, C. A habilidade de crianças em fase préescolar<br />
de identificar uma palavra impressa desconhecida por<br />
analogia a uma palavra conhecida. In: CARDOSO-MARTINS,<br />
C. (Org.) Consciência fonológica e alfabetização. Petrópolis:<br />
Vozes, p. 101-127. 1995.<br />
CAGLIARI, L. C. Alfabetização e lingüística. São Paulo: Scipione.<br />
1992.<br />
------. A respeito de alguns fatos do ensino e da aprendizagem da<br />
leitura e da escrita pelas crianças na alfabetização. In: ROJO, R.<br />
(Org.) Alfabetização e letramento: perspectivas lingüísticas.<br />
Campinas: Mercado de Letras, p. 61-86. p. 61-86, 1998.<br />
DEBRAY, P.; MELEKIAN, B. & BURSZTEJN, C. Resposta de P.<br />
Debray, B. Melekian e C. Bursztejn. In: AJURIAGUERRA, J.<br />
de A. A dislexia em questão: dificuldades e fracasso na aprendizagem<br />
da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, p. 89-93.<br />
1984.<br />
FIGUEIRAL, A. S. Existe uma escola ideal? Disponível em<br />
. Acesso em: 8 <strong>dez</strong>. 2004.<br />
INIZAN, A. Resposta de A. Inizan. In: AJURIAGUERRA, J. de A.<br />
A dislexia em questão: dificuldades e fracasso na aprendizagem<br />
da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas. p. 97- 108.<br />
1984.<br />
LAUNAY, C. Existe uma patologia de aprendizagem da língua escrita?<br />
In: AJURIAGUERRA, J. de A. A dislexia em questão: dificuldades<br />
e fracasso na aprendizagem da língua escrita. Porto<br />
Alegre: Artes Médicas, p. 115-120. 1984.<br />
MARTINS, V. Diagnóstico informal da dislexia. Disponível em<br />
. Acesso em: 10<br />
<strong>dez</strong>. 2004.<br />
MAYRINK-SABINSON, M. L. Reflexões sobre o processo de aqu isição<br />
da escrita. In: ROJO, R. (Org.) Alfabetização e letramen-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
293
to: perspectivas lingüísticas. Campinas: Mercado de Letras, p.<br />
61-86. (Coleção Letramento, Educação e Sociedade). 1998.<br />
MOOJEN, S. O papel do fonoaudiólogo/psicopedagogo e da escola<br />
na dislexia. Disponível em http://www. andislexia.org.br/artigo-<br />
AND-3.doc.. Acesso em: 30 nov. 2004.<br />
MORAIS, J; KOLINSKY, R.; ALEGRIA, J. & SCLIAR-CABRAL,<br />
L. Alphabetic literacy and psychological structure. Letras de<br />
Hoje, Porto Alegre, v. 33, n. 4, p. 61-79. 1998.<br />
MORAIS, A. (Org.). O aprendizado da ortografia. B. Horizonte:<br />
Autêntica, 2002.<br />
MOREIRA, N. C. R. Portadores de texto: concepções de crianças<br />
quanto a atributos, funções e conteúdo. In: KATO, M. A.<br />
(Org.). A Concepção da escrita pela criança. São Paulo: Pontes,<br />
p. 15-52. 1992.<br />
MOREIRA, C. M. O uso de estratégias de leitura na fase inicial de<br />
aprendizagem da lectoescritura. 1999. 189 f. Dissertação (Mestrado<br />
em Letras) - Centro de Pós-Graduação em Letras, Pontifícia<br />
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.<br />
OLIVEIRA, M. A., NASCIMENTO, M. Da análise de “erros” aos<br />
mecanismos envolvidos na aprendizagem da escrita. Educação<br />
em Revista. Belo Horizonte, n. 12, p. 33-43, <strong>dez</strong>. 1990.<br />
REGO, L. B. Descobrindo a língua escrita antes de aprender a ler. In:<br />
KATO, M. A. (Org.). A concepção da escrita pela criança.<br />
São Paulo: Pontes, p. 105-134. 1992.<br />
REGO, L. B. & BUARQUE, L L. Algumas fontes de dificuldades da<br />
aprendizagem de regras ortográficas. In: MORAIS, A. (Org.). O<br />
aprendizado da ortografia. B. Horizonte: Autêntica, p. 21-41,<br />
2002.<br />
SAMUELS, S. J.; FARSTRUP, A. E. (1992) What research has to<br />
say about reading instruction. IRA, Newark: Delaware. 1992.<br />
------. Toward of automatic information processing in reading, revisted.<br />
In: RUDELL, R. B., RUDELL, M. R., SINGER, H.<br />
(Ed.) Theorical models and process of reading. 4 ed. Delaware:<br />
International Reading Association (IRA), p. 816-837. 1994.<br />
STAMBAK, M. et. ali. Síntese dos trabalhos. In: AJURIAGUERRA,<br />
J. de A. A dislexia em questão: dificuldades e fracasso na a-<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
294
prendizagem da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas. p.<br />
159-171. 1984.<br />
SANTOS, M. T. M. & NAVAS, A. L. G. P. Distúrbios de leitura e<br />
escrita: teoria e prática. S. Paulo: Manole, 2004.<br />
TERZI, S. B. A construção da leitura: uma experiência com crianças<br />
de meios iletrados. Campinas: Pontes, 1995.<br />
ZORZI, J. L. Aprendizagem e distúrbios da linguagem escrita: questões<br />
clínicas e educacionais. S. Paulo: ARTMED, 2003.<br />
Caderno Seminal Digital, Ano 12, Nº 6, V 6 (<strong>jul</strong>/Dez 20<strong>06</strong>) – ISSN 18<strong>06</strong>-9142<br />
295