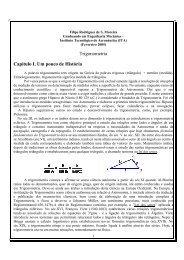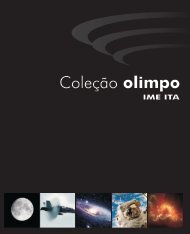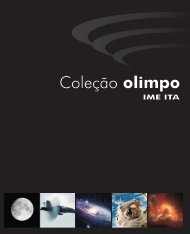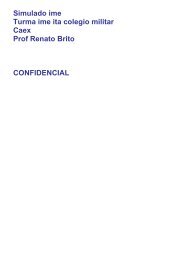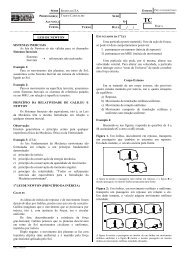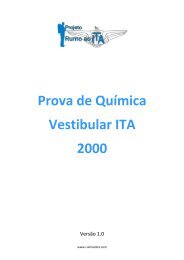6923913 - Rumo ao ITA - Sousa Nunes - Português.indd
6923913 - Rumo ao ITA - Sousa Nunes - Português.indd
6923913 - Rumo ao ITA - Sousa Nunes - Português.indd
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Projeto rumo <strong>ao</strong> ita<br />
o rito<br />
a igreja<br />
a revolta<br />
a doutrina<br />
o partido<br />
a emoção<br />
a ideia<br />
a palavra<br />
a igreja<br />
a igreja<br />
a igreja<br />
a igreja<br />
a doutrina<br />
o partido<br />
o partido<br />
o partido<br />
o partido<br />
o partido<br />
a ideia<br />
a palavra<br />
a palavra<br />
a palavra<br />
a palavra<br />
A PALAVRA<br />
José Paulo Paes. Um por todos. São Paulo, Brasiliense, 1986.<br />
Comentário<br />
O título do poema e os três primeiros versos, formados<br />
das palavras a comida, a sineta e a saliva e, precedidas do<br />
artigo a, e colocados não exatamente um embaixo do outro,<br />
acionam um dado conhecimento de mundo: a experiência<br />
que celebrizou Pavlov, médico russo que elaborou a noção de<br />
reflexo condicionado. Pavlov constatou que um cão salivava<br />
diante de um prato de comida. Associou, então, a comida a<br />
outro estímulo, o toque de uma campainha. Toda vez que<br />
se apresentava uma comida <strong>ao</strong> cão, ouvia-se o som de uma<br />
campainha. Ao fim de certo número de repetições, o novo<br />
estímulo (o som) bastava para desencadear a secreção salivar.<br />
Tinha-se, pois, substituído o excitante natural do reflexo salivar<br />
(o alimento) por um excitante artificial “condicionante”.<br />
Na primeira estrofe, os versos contêm os três elementos<br />
básicos da experiência de Pavlov: a comida, a sineta e a saliva.<br />
Os versos não aparecem embaixo uns dos outros para mostrar<br />
que esses elementos não são simultâneos, mas sucessivos.<br />
A primeira estrofe tem três partes: na primeira, aparecem os<br />
três elementos da experiência pavloviana; na segunda, indica-se<br />
a segunda fase da experiência: só a sineta era suficiente para<br />
provocar a secreção salivar; na terceira, mostra-se que nem<br />
a sineta é mais necessária, pois salivação produz salivação.<br />
As outras três estrofes mostram que um fenômeno semelhante<br />
ocorre no âmbito da experiência religiosa, da experiência<br />
política e da experiência estética. A organização religiosa<br />
deriva da experiência do homem com o mistério. Ao mistério<br />
associa-se o rito, e este, depois de certo tempo, passa sozinho<br />
a sustentar a organização religiosa. Em seguida, deixam-se de<br />
lado o mistério e o rito, e a própria organização passa a ser um<br />
fim em si. No âmbito da política, pode-se dizer que a revolta<br />
com uma situação de injustiças gera uma doutrina, que, por<br />
sua vez, sustenta um partido. Depois, abandona-se a revolta.<br />
Por fim, deixa-se de lado a doutrina, e a manutenção da<br />
organização partidária passa a ser um objetivo em si mesmo.<br />
No domínio da estética, segundo o poeta, a emoção gera<br />
ideias, que se convertem em palavras. Quando as emoções<br />
são abandonadas, temos o cerebralismo experimental.<br />
Por fim, quando palavras puxam palavras, temos o maneirismo,<br />
que são as repetições de fórmulas.<br />
OUTONO<br />
Quando, Lídia, vier o nosso Outono<br />
Com o Inverno que há nele, reservemos<br />
Um pensamento, não para a futura<br />
Primavera, que é de outrem,<br />
Nem para o Estio, de quem somos mortos,<br />
Senão para o que fica do que passa,<br />
O amarelo atual que as folhas vivem<br />
E as torna diferentes.<br />
Fernando Pessoa. Odes, de Ricardo Reis. Lisboa, Ática, 1959. p. 108.<br />
Comentário<br />
Ricardo Reis (heterônimo) foi criado por Fernando<br />
Pessoa como um poeta de formação clássica. Por isso, sua<br />
obra trabalha temas da poesia greco-latina.<br />
O poema é figurativo, pois se constrói fundamentalmente<br />
com termos concretos ou figuras: outono, inverno, estio,<br />
primavera, folha, amarelo etc. O conjunto das figuras refere-se<br />
às estações do ano. Outono aparece ligado <strong>ao</strong> possessivo<br />
nosso. Quando se fala em nosso outono, vemos que os<br />
termos primavera, outono, inverno e estio não indicam mais<br />
as estações do ano, mas as fases da existência. O poeta<br />
dirige-se, então, a Lídia não para falar das estações do ano,<br />
mas da existência humana. A expressão quando vier mostra<br />
que ambos não estão ainda no outono da vida, na idade<br />
madura, mas que ele virá inexoravelmente (pronuncie o x<br />
com som de z; significa implacavelmente). Temos então os<br />
primeiros temas subjacentes a esse texto: a fugacidade do<br />
tempo e a efemeridade da juventude.<br />
Ao comparar a existência humana às estações do<br />
ano, poderíamos pensar que o poeta quer mostrar que as<br />
fases da existência humana são circulares como as épocas<br />
do ano, que se sucedem indefinidamente. No entanto, as<br />
figuras que é de outrem, de quem somos mortos, para o que<br />
fica do que passa manifestam o tema da irreversibilidade das<br />
fases da vida humana. Uma fase vivida por um indivíduo não<br />
volta mais para ele. O termo futura, referindo-se a primavera,<br />
mostra que a circularidade na humanidade é diferente da<br />
que ocorre na natureza. O que se sucede na humanidade<br />
são as gerações. Por isso, diz o poeta que a futura primavera<br />
é de outrem.<br />
Poderíamos pensar, então, que se trata de um<br />
lamento pela inevitabilidade da madureza e da velhice<br />
(observe-se que o inverno já está contido no outono:<br />
com o inverno que há nele) e pela inexorabilidade da morte.<br />
No entanto, a articulação das figuras do texto não permite<br />
depreender esse tema. Com efeito, o poeta diz a Lídia que,<br />
quando o outono vier, não se deve pensar na primavera ou<br />
no estio, ou seja, na juventude e na idade em que se está em<br />
pleno vigor, já que os jovens são outros (primavera, que é de<br />
outrem) e a idade de plena força já passou (estio, de quem<br />
somos mortos), mas naquilo que o tempo deixa quando passa.<br />
O que o tempo deixa é representado pela figura o amarelo<br />
das folhas. Lembremo-nos de que, principalmente nos países<br />
onde as estações são bem marcadas, as folhas amarelecem no<br />
outono, antes de cair. O amarelo não é pior nem melhor que<br />
o verde que elas exibem na primavera e no verão, é diferente.<br />
O que o poeta quer mostrar, pois, <strong>ao</strong> comparar as fases da<br />
vida com as estações é que, na vida, perde-se também o viço<br />
da juventude e adquire-se o tom amarelo da proximidade da<br />
morte. Essa fase, no entanto, não é melhor nem pior que as<br />
outras quadras da existência, é diferente.<br />
<strong>ITA</strong>/IME – Pré-Universitário 18