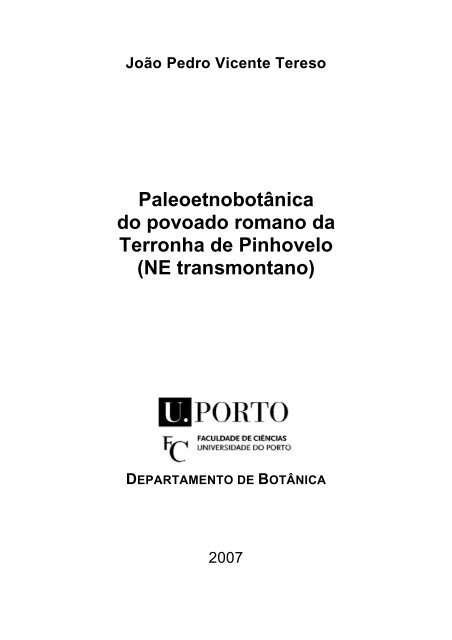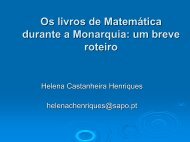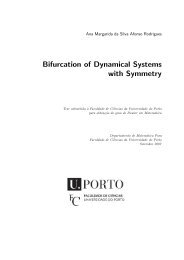You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
João Pedro Vicente Tereso<br />
Paleoetnobotânica<br />
<strong>do</strong> povoa<strong>do</strong> romano da<br />
Terronha de Pinhovelo<br />
(NE transmontano)<br />
DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA<br />
2007
João Pedro Vicente Tereso<br />
Paleoetnobotânica<br />
<strong>do</strong> povoa<strong>do</strong> romano da<br />
Terronha de Pinhovelo<br />
(NE transmontano)<br />
Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências da <strong>Universidade</strong> <strong>do</strong> <strong>Porto</strong>,<br />
para a obtenção <strong>do</strong> grau de mestre em Ecologia da Paisagem e Conservação da<br />
Natureza.<br />
Orienta<strong>do</strong>ra: Paula Fernanda Ribeiro Queiroz, Cientista Convidada <strong>do</strong><br />
IGESPAR<br />
Co-orienta<strong>do</strong>r: José Joaquim Saraiva Pissarra, Professor Associa<strong>do</strong> <strong>do</strong><br />
Departamento de Botânica da Faculdade de Ciências da <strong>Universidade</strong> <strong>do</strong> <strong>Porto</strong><br />
2007<br />
3
5<br />
“Era uma vez…<br />
- Um rei! – dirão logo os meus pequenos<br />
leitores.<br />
Não, meus rapazes, estão engana<strong>do</strong>s.<br />
Era uma vez um pedaço de madeira.<br />
Não era madeira nobre, mas sim um<br />
simples pedaço de madeira para<br />
queimar, daqueles que, no Inverno, se<br />
colocam nos fogões e nas lareiras para<br />
acender o lume e aquecer os quartos.<br />
Carlo Collodi, As Aventuras de Pinóquio
Resumo<br />
A Terronha de Pinhovelo é uma elevação sobranceira à aldeia de Pinhovelo, no centro<br />
<strong>do</strong> Nordeste transmontano, habitada pelo menos desde a Idade <strong>do</strong> Ferro até ao século V<br />
d.C. A análise <strong>do</strong>s macro-restos vegetais decorreu em articulação com os trabalhos<br />
arqueológicos aí realiza<strong>do</strong>s, resultan<strong>do</strong> na obtenção de da<strong>do</strong>s importantes para a<br />
compreensão da jazida assim como das paleo-comunidades que aí habitaram. O presente<br />
estu<strong>do</strong> incide sobre as fases III e IV <strong>do</strong> Sector B, cronologicamente enquadradas nos<br />
séculos IV-V d.C.<br />
Entre os frutos e sementes são mais abundantes as espécies cultivadas, em especial<br />
os cereais. Triticum aestivum/durum, T. compactum , T. spelta e Hordeum vulgare são as<br />
espécies mais comuns, segui<strong>do</strong>s de T. dicoccum e raros T. monococcum, Panicum<br />
miliaceum e Setaria italica. A única leguminosa identificada no estu<strong>do</strong> carpológico foi Vicia<br />
faba var. minor que, embora seja abundante, está associada quase exclusivamente a uma<br />
área de combustão. A presença de fava é utilizada como um indício de possíveis práticas de<br />
alternância de cultivos.<br />
Foi possível obter alguns da<strong>do</strong>s acerca das estratégias de recolha de combustível<br />
através das análises antracológicas de diversos contextos, cuja composição florística<br />
espelha distintos padrões de selecção de lenha e diferentes áreas de recolha. Os tipos<br />
xilotómicos presentes num maior número de amostras são Pinus pinaster, Quercus<br />
pyrenaica, Q. faginea, Q. suber, Arbutus une<strong>do</strong> e Fraxinus angustifolia. As formações<br />
arbustivas encontram-se representadas por Cistus sp., Leguminosae e Erica spp.<br />
O estu<strong>do</strong> <strong>do</strong>s diferentes macro-restos vegetais (carvões, sementes e frutos) permitiu<br />
encetar um estu<strong>do</strong> de ín<strong>do</strong>le paleoetnobotânica que contribuiu de forma decisiva para a<br />
melhor compreensão <strong>do</strong> sítio arqueológico. Consequentemente foram realizadas<br />
aproximações a determina<strong>do</strong>s aspectos da vida quotidiana das populações que habitaram<br />
esta povoação, nomeadamente no que respeita às práticas agrícolas, processamento de<br />
alimentos e vivência <strong>do</strong> espaço.<br />
7
Abstract<br />
Terronha de Pinhovelo is a small elevation near the village of Pinhovelo, in the centre<br />
of northeast Trás-os-Montes. It was inhabited since the Iron Age till the 5th century A.D. The<br />
study of plant macrofossils recovered during the archaeological excavations reveals new<br />
aspects of the site’s occupation and its community’s daily life. This study is centred in Sector<br />
B, namely the Phases III and IV, from the 4th or the 5th century A.D.<br />
The cereals are the most frequent group of plants represented in the fruit and seed<br />
assemblages. Triticum aestivum/durum, T. compactum , T. spelta and Hordeum vulgare are<br />
the <strong>do</strong>minant crops, followed by T. dicoccum and some rare T. monococcum, Panicum<br />
miliaceum and Setaria italica. Vicia faba var. minor was the only pulse identified, almost<br />
exclusive from one fire structure. The presence of horsbean could possibly be related to<br />
field-crop rotation practices.<br />
The analysis of the charred wood fragments, from the excavated fire places, was used<br />
to infer the community’s strategies for collecting fire-wood, related to wood selection patterns<br />
or different gathering areas. The main xylomorphic types recovered were Pinus pinaster,<br />
Quercus pyrenaica, Q. faginea, Q. suber, Arbutus une<strong>do</strong> and Fraxinus angustifolia. The<br />
scrubs are represented by Cistus sp., Leguminosae and Erica spp.<br />
This palaeoethnobotanic study of wood charcoal, seeds and fruits contributed strongly<br />
to a better understanding of this settlement, allowing some insights to certain aspects of its<br />
population daily life, namely the agricultural practises and food processing techniques.<br />
8
Agradecimentos<br />
Os agradecimentos são sempre uma parte ingrata de qualquer estu<strong>do</strong> desta<br />
natureza. As pessoas e entidades às quais eu dirijo estes agradecimentos são aquelas que<br />
contribuíram de forma directa para a concretização desta tese, mas também aquelas que<br />
ajudaram de forma indirecta, através de contributos para a minha formação enquanto<br />
profissional e investiga<strong>do</strong>r e até como pessoa. Parece-me, agora, discutível qual destas<br />
componentes terá maior relevância num capítulo de agradecimentos de uma tese de<br />
mestra<strong>do</strong>..<br />
Agradeço, então, à Faculdade de Ciências da <strong>Universidade</strong> <strong>do</strong> <strong>Porto</strong>, e, em especial,<br />
a toda a organização <strong>do</strong> mestra<strong>do</strong> em Ecologia da Paisagem e Conservação da Natureza,<br />
encabeçada pelo Professor Doutor Barreto Caldas e Prof. Dr. João Honra<strong>do</strong>, que me<br />
acolheram e me formaram, durante o ano lectivo de 2005-2006.<br />
Ao Instituto Português de Arqueologia, em especial ao Laboratório de Paleoecologia<br />
e Arqueobotânica (Programa CIPA), representa<strong>do</strong>s pelos Prof. Dr. José Mateus e Prof. Dra.<br />
Paula Queiroz, que me aceitaram como colabora<strong>do</strong>r e aprendiz.<br />
À Associação Terras Quentes – Associação de Defesa <strong>do</strong> Património Arqueológico<br />
<strong>do</strong> Concelho de Mace<strong>do</strong> de Cavaleiros, em especial ao seu presidente, o meu colega<br />
Mestre Carlos Mendes, pelo apoio e pela oportunidade de encetar este projecto numa jazida<br />
arqueológica <strong>do</strong> referi<strong>do</strong> concelho.<br />
À Paula Queiroz, orienta<strong>do</strong>ra deste trabalho bem como de quase toda a minha<br />
formação em Paleobotânica. Agradeço a paciência e a disponibilidade demonstradas<br />
durante o longo tempo de laboratório desta tese, sempre superiores ao que me parecia licito<br />
exigir.<br />
Ao Prof. Dr. José Pissarra, co-orienta<strong>do</strong>r deste estu<strong>do</strong>, pelo apoio que sempre<br />
disponibilizou, pelas soluções que forneceu e a pertinência <strong>do</strong>s conselhos que deu.<br />
Um agradecimento especial também para o José Mateus, que, com a Paula Queiroz,<br />
me recebeu de braços abertos no laboratório disponibilizan<strong>do</strong>-se sempre a ajudar, a<br />
aconselhar ou, simplesmente a trocar ideias – conversas que tanto acrescentaram à minha<br />
formação nesta área tão específica que é a Paleobotânica.<br />
À Dra. Cristiana Vieira, pela preciosa e inestimável ajuda disponibilizada para a<br />
elaboração <strong>do</strong> estu<strong>do</strong> estatístico apresenta<strong>do</strong> neste trabalho.<br />
Ao Prof. Dr. João Honra<strong>do</strong> pelo apoio e incentivo na fase final da tese, e pelo ânimo<br />
que me conseguiu incutir para que no futuro prossiga com este tipo de estu<strong>do</strong>s.<br />
9
À Prof. Dra Stefanie Jacomet e à Prof. Dra. Isabel Figueiral que, em vários contactos<br />
via Internet não se coibiram a responder às minhas dúvidas e ajudar sempre que<br />
necessário.<br />
De igual mo<strong>do</strong>, agradeço ao Prof. Dr. Carlos Fabião pela sua constante<br />
disponibilidade, úteis conselhos e bibliografia; e também, ao Prof. Dr. Amílcar Guerra, por<br />
uma conversa muito esclarece<strong>do</strong>ra. Acabaram por me esclarecer muitas dúvidas,<br />
permitin<strong>do</strong>-me poupar algum tempo precioso.<br />
À Dra. Helena Barranhão pelo apoio, amizade e companheirismo <strong>do</strong>s últimos quatro<br />
anos, espelha<strong>do</strong> perfeitamente no nosso trabalho de campo em conjunto no Sector B da<br />
Terronha de Pinhovelo; pela forma como pacientemente suportou o meu constante<br />
entusiasmo pelo trabalho desta tese.<br />
À Dra. Lúcia Miguel, pela amizade que começou há muitos anos, pelo<br />
companheirismo revela<strong>do</strong> no trabalho da Terronha de Pinhovelo e pelo entusiasmo<br />
contagiante face à proto-história e mun<strong>do</strong> castrejo, que aguçaram o meu interesse pelo<br />
trabalho que tínhamos em conjunto.<br />
A to<strong>do</strong>s os elementos <strong>do</strong> CIPA, pelo seu espírito de interdisciplinariedade, e em<br />
especial ao Dr. José António, meu colega no laboratório, pessoa sempre disponível para<br />
sugestões e esclarecer dúvidas.<br />
A to<strong>do</strong>s os colegas de mestra<strong>do</strong> pelo companheirismo e pelo apoio mútuo que se<br />
gerou durante o ano curricular.<br />
Um agradecimento especial ao Dr. Miguel Abrantes, meu colega neste mestra<strong>do</strong>,<br />
com quem tive conversas muito forma<strong>do</strong>ras e com quem partilhei dúvidas, sempre com um<br />
importante feedback.<br />
A to<strong>do</strong>s os colegas de trabalho da Associação Terras Quentes com quem durante<br />
catorze meses partilhei um espaço e muitas ideias.<br />
À minha família, aos meus pais, meu irmão e sua família, aos meus avós (um beijo<br />
com muitas saudades para o Avô Vicente, tristemente faleci<strong>do</strong> durante este mestra<strong>do</strong>). E<br />
dificilmente se explica uma dedicatória ou agradecimento à família em poucas linhas, pelo<br />
que me vou coibir de fazê-lo. To<strong>do</strong>s certamente sabem o que penso deles.<br />
À minha outra família, o Sr. Alexandre Gaspar, a Sra. Leonor Gaspar e à Ana<br />
Gaspar, que durante tantos meses me acolheram em sua casa e me ajudaram de todas as<br />
formas que sabiam e podiam. Pelos serões a conversar, pela óptima comida e pela calorosa<br />
e muito paciente forma como me receberam, um agradecimento muito especial.<br />
10
No final agradeço à pessoa sem a qual eu não estaria, certamente, a apresentar este<br />
estu<strong>do</strong>. Agradeço a paciência e compreensão, o apoio constante, a motivação, a partilha, os<br />
conselhos e a sua presença nos tempos mais complica<strong>do</strong>s. Para além de agradecer,<br />
dedico-lhe esta tese que tem tanto dela. À Rita Gaspar, por tu<strong>do</strong>.<br />
11
ÍNDICE<br />
I. INTRODUÇÃO 17<br />
II. ENQUADRAMENTOS 18<br />
1. Paleoetnobotânica: conceitos de base 18<br />
1.1. A conservação de macrorrestos 19<br />
1.1.1. A combustão 20<br />
1.1.1.1. Efeitos sobre as estruturas vegetais 20<br />
1.1.2. Fenómenos pós-deposicionais 22<br />
1.2. Antracologia e Carpologia como Paleoetnobotânica 22<br />
1.2.1. Antracologia 22<br />
1.2.2. Potencial e limitações: entre a Paleoecologia e a Paleoetnobotânica 23<br />
1.2.3. Carpologia 28<br />
2. Enquadramento <strong>do</strong> Nordeste transmontano nos estu<strong>do</strong>s paleobotânicos <strong>do</strong> Noroeste<br />
peninsular 31<br />
2.1. Antracologia e carpologia no Nordeste transmontano 33<br />
3. O perío<strong>do</strong> romano no Nordeste transmontano 35<br />
3.1. Território rural e agricultura 37<br />
3.2. Terronha de Pinhovelo: historial de investigação 39<br />
III. OBJECTIVOS E MÉTODOS 41<br />
1. Objectivos 41<br />
2. Méto<strong>do</strong>s 43<br />
2.1. A intervenção arqueológica 43<br />
2.2. O estu<strong>do</strong> paleoetnobotânico 44<br />
2.2.1. Amostragem e recuperação de fitoclastos 44<br />
2.2.2. Meto<strong>do</strong>logia laboratorial e análise de da<strong>do</strong>s 47<br />
2.2.3. Nomenclatura e descrições 49<br />
2.2.4. Descrição <strong>do</strong>s tipos xilotómicos 51<br />
2.2.5. Descrição <strong>do</strong>s frutos e sementes 58<br />
2.2.5.1. Espécies selvagens e leguminosas cultivadas 58<br />
2.2.5.2. Milhos 60<br />
2.2.5.3. Trigos 61<br />
13
2.2.5.4 Cevadas 64<br />
2.3. Recolha de da<strong>do</strong>s etnobotânicos e ecológicos 65<br />
2.4. Arqueologia Espacial e análise eco-territorial 66<br />
IV. RESULTADOS 69<br />
1. A Terronha de Pinhovelo 69<br />
1.1. Contexto biogeográfico, paisagístico e geológico 69<br />
1.1.1. O território imediato 71<br />
1.2 Implantação da jazida: aspectos estratégicos 77<br />
1.3. Intervenções arqueológicas programadas 80<br />
1.3.1. Sector B 81<br />
1.3.2. Sector A 86<br />
1.3.3. Outras áreas 87<br />
1.3.4. Enquadramento cronológico 88<br />
2. Estu<strong>do</strong> paleobotânico 90<br />
2.1. Os contextos amostra<strong>do</strong>s 90<br />
2.2. Antracologia: análise de da<strong>do</strong>s 97<br />
2.2.1. Amostras de flutuação - LAB. 98<br />
2.2.2. As recolhas manuais – RM 104<br />
2.3. Carpologia: análise de da<strong>do</strong>s 105<br />
2.3.1. Espécies silvestres 105<br />
2.3.1.1. Distribuição pelas amostras 105<br />
2.3.2. Favas 107<br />
2.3.3. Milhos 107<br />
2.3.4. Trigos e cevada 108<br />
2.3.4.1. Distribuição das cariopses pelas amostras 108<br />
2.3.4.2. Biometria de cariopses 117<br />
2.3.4.3. Distribuição de espiguetas pelas amostras 135<br />
2.3.4.4. Biometria de espiguetas 135<br />
2.4. Etnobotânica da Terronha de Pinhovelo 138<br />
2.4.1. Cereais: usos e costumes 141<br />
2.4.2. As favas 146<br />
14
V. DISCUSSÃO 147<br />
1. Aspectos de natureza morfo-tipológica 147<br />
2. Distribuição de macro-restos vegetais no Sector B 153<br />
3. Estratégias de recolha de combustível 157<br />
4. Estruturas arqueológicas: possibilidades interpretativas 160<br />
5. As práticas de produção agrícola: uma aproximação 164<br />
6. O território antigo 166<br />
7. A Terronha de Pinhovelo nos estu<strong>do</strong>s regionais de paleobotânica 171<br />
8. Fronteiras interpretativas <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s paleoetnobotânicos 173<br />
VI. CONCLUSÃO 175<br />
VII. BIBLIOGRAFIA 177<br />
ANEXOS<br />
I. Cariopses de cereais: da<strong>do</strong>s biométricos<br />
1.1. Triticum aestivum<br />
1.2. Triticum compactum<br />
1.3. Triticum dicoccum<br />
1.4. Triticum spelta<br />
1.5. Triticum monococcum<br />
II. Espiguetas de cereais: da<strong>do</strong>s quantitativos<br />
2.1. Amostra V3<br />
2.2. Amostra IV20<br />
2.3. Amostra IV21<br />
2.4. Amostra IV24<br />
2.5. Amostra IV50<br />
2.6. Amostra IV63<br />
2.7. Amostra IV65<br />
2.8. Amostra IV66<br />
2.9. Amostra IV70<br />
2.10. Amostra III71<br />
15
2.11. Amostra III95<br />
III. Espiguetas de cereais: largura de base de glumas<br />
3.1. Triticum spelta<br />
3.2. Triticum dicoccum<br />
3.3. Triticum monococcum<br />
IV. Log de PCA e RDA<br />
4.1. Da<strong>do</strong>s das PCA das figuras 4.8. e 4.9.<br />
4.2. Da<strong>do</strong>s das RDA das figuras 4.10. e 4.11.<br />
4.3. Da<strong>do</strong>s das PCA das figuras 4.12. e 4.13.<br />
4.4. Da<strong>do</strong>s das PCA das figuras 4.18. e 4.19.<br />
4.5. Da<strong>do</strong>s das PCA das figuras 4.21. e 4.22.<br />
V. Antracologia: ilustração de tipos xilotómicos<br />
VI. Frutos e sementes: ilustração de tipos morfológicos<br />
VII. Antracologia: ecologia das espécies<br />
VIII. Carpologia: ecologia das espécies<br />
IX. Da<strong>do</strong>s etnobotânicos<br />
9.1. Uso medicinal e veterinário<br />
9.2. Uso alimentar<br />
9.3. Propriedades e uso de madeiras<br />
9.4. Uso como combustível<br />
X. Terronha de Pinhovelo: planta <strong>do</strong> Sector B<br />
16
I. INTRODUÇÃO<br />
A presente dissertação de mestra<strong>do</strong>, corresponde ao estu<strong>do</strong> especializa<strong>do</strong> em<br />
paleobotânica enquadra<strong>do</strong> no programa de pesquisa arqueológica que o autor tem vin<strong>do</strong> a<br />
desenvolver desde o ano de 2004, ano em que se iniciaram as intervenções arqueológicas<br />
programadas na Terronha de Pinhovelo.<br />
O projecto de paleobotânica iniciou-se na segunda das três campanhas que<br />
decorreram na jazida, quan<strong>do</strong> foi possível delinear uma estratégia de estu<strong>do</strong> que implicou a<br />
aquisição de equipamento básico para a recolha <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s. Desde o início que este estu<strong>do</strong><br />
contou com o apoio <strong>do</strong> Laboratório de Paleoecologia e Arqueobotânica <strong>do</strong> Instituto<br />
Português de Arqueologia para o tratamento laboratorial <strong>do</strong>s materiais, graças à<br />
disponibilidade demonstrada pelos seus responsáveis (Paula Queiroz e José Mateus).<br />
A escavação arqueológica na Terronha de Pinhovelo, em especial <strong>do</strong> Sector B,<br />
afigurou-se como o local ideal para encetar o estu<strong>do</strong> paleobotânico, que se desejava<br />
principiar com a fase da recolha de macro-restos vegetais em contexto de escavação. Isto<br />
porque o autor assumia um papel de direcção científica <strong>do</strong>s trabalhos, em conjunto com<br />
outros colegas, poden<strong>do</strong> assim adequar os trabalhos de escavação às tarefas de recolha de<br />
amostras e macro-restos especificamente direccionadas para o estu<strong>do</strong> em vista. Felizmente,<br />
a jazida respondeu favoravelmente, fornecen<strong>do</strong> contextos arqueológicos adequa<strong>do</strong>s e de<br />
significativo interesse.<br />
Desde ce<strong>do</strong> que um estu<strong>do</strong> desta natureza assumia uma urgência evidente face às<br />
características <strong>do</strong> próprio sítio arqueológico. De facto, um povoa<strong>do</strong> localiza<strong>do</strong> em pleno<br />
mun<strong>do</strong> rural romano só se poderá compreender verdadeiramente com, pelo menos, um<br />
vislumbre da sua componente económica primordial, a agricultura e a pastorícia. Os estu<strong>do</strong>s<br />
arqueozoológicos escapam, porém, ao âmbito deste trabalho.<br />
Era claro, também, logo nas fases de preparação deste estu<strong>do</strong>, que diversas<br />
adversidades iriam surgir, não só em termos logísticos como também científicos.<br />
Dificuldades inerentes a Trás-os-Montes, região rural na qual são muito recentes e esparsos<br />
os investimentos na área da investigação científico-cultural. A falta de conhecimentos<br />
prévios acerca das realidades locais e regionais assumiu-se como um problema muito<br />
importante e difícil de contornar, revelan<strong>do</strong>-se ao nível <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s arqueológicos e<br />
agudizan<strong>do</strong>-se no que aos estu<strong>do</strong>s paleobotânicos dizia respeito.<br />
Perante este enquadramento pareceu-nos mais sensato definir como objectivo<br />
primordial a compreensão <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong> em questão e a forma como as comunidades que<br />
nele habitaram se relacionavam com o meio que as envolvia.<br />
17
II. ENQUADRAMENTOS<br />
1. Paleoetnobotânica: conceitos de base<br />
Paleobotânica, Arqueobotânica, Paleoetnobotânica e Paleoecologia são<br />
designações distintas com significa<strong>do</strong>s diversos, embora inúmeras vezes usadas como<br />
sinónimos. Deste mo<strong>do</strong>, e na medida que se afirma a realização de um estu<strong>do</strong> numa destas<br />
áreas, reveste-se de particular interesse a sua definição.<br />
Jane Renfrew (1973, p.1) definiu Paleoetnobotânica como “the study of the remains<br />
of plants cultivated or utilized by man in ancient times, which have survived in archaeological<br />
contexts”. Coloca assim a ênfase nas relações entre os seres humanos e os vestígios de<br />
origem vegetal enquanto subprodutos das suas actividades num determina<strong>do</strong> local e num<br />
da<strong>do</strong> momento. Assume-se, assim, que a presença <strong>do</strong>s mesmos num contexto arqueológico<br />
é passível de ser explicada por aspectos sócio-culturais e funcionais (Espino, 2004). Alguns<br />
autores partem da assunção de que o termo Paleoetnobotânica corresponde unicamente ao<br />
estu<strong>do</strong> de frutos e sementes arqueológicas (Marinval, 1999). Compreenden<strong>do</strong>-se esta<br />
posição no contexto da generalização <strong>do</strong> termo, após a utilização <strong>do</strong> mesmo por J. Renfrew<br />
(1973) na sua obra centrada exclusivamente em sementes e frutos, a verdade é que nem a<br />
definição da autora (vide supra) nem a etimologia da palavra apontam nesse senti<strong>do</strong>. Uma<br />
visão mais lata deste conceito inclui outro tipo de restos, nomeadamente os teci<strong>do</strong>s<br />
lenhosos, e em última análise qualquer tipo de restos botânicos. É este o termo de<br />
abordagem e os seus pressupostos teóricos segui<strong>do</strong>s no estu<strong>do</strong> aqui apresenta<strong>do</strong>.<br />
O termo “Arqueobotânica” é frequentemente entendi<strong>do</strong>, numa posição de base<br />
etimológica, como o estu<strong>do</strong> <strong>do</strong>s vestígios vegetais recolhi<strong>do</strong>s em escavações arqueológicas.<br />
Esta postura quase inócua surge amiúde independente de uma posição teórica face ao<br />
tratamento <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s a obter nesse mesmo estu<strong>do</strong>, assumin<strong>do</strong> assim escasso valor<br />
epistemológico. De facto, dadas as limitações a nível interpretativo potenciadas pelo tipo e<br />
local de recolha, a Arqueobotânica, como definida acima, confunde-se repetidas vezes com<br />
a própria Paleoetnobotânica (Mateus, 1996). Outros autores, porém, assumem uma<br />
perspectiva mais aglutina<strong>do</strong>ra e arrojada <strong>do</strong> conceito “Arqueobotânica” enveredan<strong>do</strong> por<br />
aproximações às transformações da envolvente <strong>do</strong>s locais de habitação das comunidades<br />
humanas em análise, ou seja, a reconstituição <strong>do</strong>s paleo-ambientes locais e <strong>do</strong>s processos<br />
que lhes são inerentes (Badal et al., 2003; Espino, 2004). Parece, contu<strong>do</strong>, que esta<br />
abordagem conceptual se integra mais no <strong>do</strong>mínio da Paleoecologia, disciplina que atenta à<br />
compreensão e reconstituição imagética de paisagens e territórios antigos entendi<strong>do</strong>s numa<br />
perspectiva dinâmica e alargada. Não obstante, o material de origem arqueológica não se<br />
assume nesta disciplina como único, nem primordial, objecto de estu<strong>do</strong> (Mateus, 1996).<br />
18
Já o termo “Paleobotânica” poderá (e será, no presente estu<strong>do</strong>) ser entendi<strong>do</strong> de<br />
forma igualmente inócua, mas globalizante ao ponto de extravasar a realidade arqueológica,<br />
de mo<strong>do</strong> a incluir os três conceitos aqui discuti<strong>do</strong>s.<br />
O estu<strong>do</strong> Paleoetnobotânico aqui apresenta<strong>do</strong> centra-se na análise <strong>do</strong>s macrorestos<br />
(ou macro-fosseis) vegetais (fitoclastos e fitodiásporas) encontra<strong>do</strong>s num contexto<br />
arqueológico e sedimentar que não potencia a conservação de materiais botânicos sem a<br />
sujeição destes a uma combustão incompleta (vide infra).<br />
Será demonstrada a inevitabilidade de assumir aqui a realização de um estu<strong>do</strong> de<br />
ín<strong>do</strong>le Paleoetnobotânica, dada a natureza particular <strong>do</strong>s contextos de estu<strong>do</strong>.<br />
1.1. A conservação de macrorrestos<br />
São várias as formas de conservação de teci<strong>do</strong>s lenhosos e carporrestos e de<br />
preservação <strong>do</strong>s seus vestígios em sítios arqueológicos, das quais salientamos, na<br />
bibliografia existente (Buxo, 1997 e 1990; Marinval, 1999; Piqué, 2006), os seguintes:<br />
- Carbonização, ou seja, a substituição <strong>do</strong>s elementos orgânicos por carbono<br />
(fossilização) e o consequente afastamento <strong>do</strong>s mesmos <strong>do</strong>s ciclos de degradação<br />
biológica (não mecânica).<br />
- Existência de condições anaeróbicas, o que acontece em meios satura<strong>do</strong>s<br />
de água, naturais ou artificialmente cria<strong>do</strong>s (por vezes dentro <strong>do</strong>s locais de<br />
ocupação humana).<br />
- Existência de condições extremas, de aridez, frio ou gelo.<br />
- Contacto com elementos químicos inibi<strong>do</strong>res da actividade bacteriana, por<br />
exemplo, alguns metais (Piqué, 2006).<br />
- Mineralização <strong>do</strong>s carporestos Através da formação de depósitos de sílica<br />
que, após a morte e decomposição da planta, se conservam enquanto esqueletos<br />
de sílica, replican<strong>do</strong> a morfologia das superfícies vegetais (Buxo, 1997; 1990).<br />
Contu<strong>do</strong>, nem todas as espécies possuem capacidade de mineralização (Marinval,<br />
1999).<br />
- Impressão de sementes, folhas e ramos em argilas (e.g. de recipientes ou<br />
barro de revestimento).<br />
No caso da Terronha de Pinhovelo, nosso caso de estu<strong>do</strong>, como na maioria das<br />
jazidas arqueológicas em locais secos de clima mediterrânico, caracteriza<strong>do</strong>s por ambientes<br />
sedimentares oxigena<strong>do</strong>s, as únicas evidências paleobotânicas conservadas e passíveis de<br />
identificação encontravam-se carbonizadas. De facto, as escassas impressões vegetais<br />
19
identificadas em argilas cozidas, constituídas somente por marcas de ramagens, não<br />
permitiam qualquer identificação taxonómica.<br />
1.1.1. A combustão<br />
A combustão é uma reacção química que exige a presença de combustível e<br />
oxigénio e pode ocorrer de forma natural ou artificial. Processa-se em quatro principais fases<br />
que se sucedem de acor<strong>do</strong> com o aumento da temperatura (Chabal, et al., 1999; Badal et al,<br />
2003; Allué, 2002):<br />
1. Desidratação – até aos170ºC<br />
2. Torrefacção – até aos 270ºC<br />
3. Carbonização ou pirólise (inicio da fase exotérmica) – até aos 500ºC<br />
4. Combustão completa<br />
Nas duas primeiras fases, o material vegetal seca e dá-se uma perda de 35% <strong>do</strong><br />
peso, em forma de vapor de água, gás carbónico e outros componentes orgânicos. É<br />
entendi<strong>do</strong> que, se a combustão for interrompida na torrefacção, os frutos e sementes<br />
conservarão a sua morfologia externa, possibilitan<strong>do</strong>, assim, a sua identificação botânica<br />
(Badal et al, 2003).<br />
Num senti<strong>do</strong> estrito, a combustão compreende somente as duas fases finais. A<br />
carbonização (pirólise) é uma reacção térmica que conduz à formação de brasas,<br />
implican<strong>do</strong> a degradação química da celulose e da lignina, enquanto que a fase seguinte<br />
corresponde a uma reacção oxidante que conduz à formação de cinzas e poderá acontecer<br />
sem a presença de chamas. A interrupção da combustão no final da terceira fase, seja por<br />
cessar a alimentação de oxigénio ou pela perda de temperatura, conduz à formação de<br />
carvões (por calcinação) que, desta forma, mantêm a estrutura anatómica e morfologia<br />
básica <strong>do</strong> material vegetal original (Chabal, et al., 1999; Badal et al, 2003; Allué, 2002).<br />
1.1.1.1. Efeitos sobre as estruturas vegetais<br />
Embora tanto a torrefacção como a carbonização <strong>do</strong>s restos vegetais não<br />
impossibilite a sua identificação taxonómica, a verdade é que algumas alterações são<br />
produzidas quer nos frutos e sementes quer nos teci<strong>do</strong>s lenhosos.<br />
20
No caso das madeiras as deformações são tanto macro como microscópicas e<br />
dependerão da temperatura a que os teci<strong>do</strong>s lenhosos foram submeti<strong>do</strong>s, das<br />
características da madeira e <strong>do</strong> seu esta<strong>do</strong> de conservação (Allué, 2002). De acor<strong>do</strong> com<br />
Schweingruber (apud Piquet, 1999), a carbonização de madeiras implica uma perda de 70 a<br />
80% de substância, provocan<strong>do</strong> assim uma contracção de 7 a 13% longitudinalmente e de<br />
12 a 25% radial ou tangencialmente. Às paredes celulares resta somente 1/5 a 1/4 da<br />
espessura inicial.<br />
Com a carbonização é normal surgirem, de igual mo<strong>do</strong>, fissuras e deformações nos<br />
teci<strong>do</strong>s. Verifica-se também a contracção ou colapso das células (em especial se a madeira<br />
se encontrasse seca aquan<strong>do</strong> da carbonização), a redução da massa e fragmentação, e o<br />
arre<strong>do</strong>ndamento. As fissuras, normalmente desenvolvidas no plano transversal a partir <strong>do</strong>s<br />
poros e raios, são causadas nas primeiras fases da combustão, quan<strong>do</strong> gazes e vapor de<br />
água se volatilizam de forma repentina. Este factor poderá funcionar de forma mais marcada<br />
em determinadas espécies (Allué, 2002).<br />
Experiências realizadas por Bazile-Robert e também por Rossen e Olson (citadas<br />
por Piquet, 1999) com diversas espécies de madeiras demonstraram a existência de<br />
distintos comportamentos com carácter específico durante a combustão. Esses traduzem-se<br />
em diferentes perdas de massa que poderão, de forma significativa, conduzir à<br />
sobrerepresentação ou subrepresentação de tipos xilotómicos nos espectros antracológicos.<br />
As alterações da combustão sobre os carporestos foram também alvo de alguns<br />
estu<strong>do</strong>s centra<strong>do</strong>s, principalmente, nas transformações provocadas sobre as dimensões nos<br />
cereais. Desta forma, é incontestável que as dimensões e peso de cereais carboniza<strong>do</strong>s não<br />
são passíveis, de uma forma linear, de serem compara<strong>do</strong>s com cereais frescos (Ferrioa, et<br />
al., 2004).<br />
Tendencialmente, a combustão parcial provoca a diminuição <strong>do</strong> peso e <strong>do</strong><br />
comprimento <strong>do</strong>s grãos e o aumento relativo da largura e espessura (o efeito nesta medida<br />
não é, contu<strong>do</strong>, consensual entre várias experiências). Além disso, as alterações<br />
provocadas variam nas diferentes espécies e também consoante a intensidade e o tipo de<br />
fogo a que são sujeitos os cereais.<br />
Numa experiência com fogo real, Ferrioa et al. (2004) concluíram que a diminuição<br />
<strong>do</strong> peso é pouco significativa quan<strong>do</strong> as temperaturas a que os grãos são sujeitos não<br />
ultrapassam os 200º C. Porém, o peso reduz drasticamente quan<strong>do</strong> submeti<strong>do</strong>s a<br />
temperaturas de 250º C. Por outro la<strong>do</strong>, a mesma experiência demonstrou que as alterações<br />
são mais marcadas nos grãos de trigo <strong>do</strong> que nos de cevada.<br />
Tellez e Ciferri (1954), numa experiência em estufa, demonstraram também a<br />
existência de alterações discordantes ao nível da espessura entre distintas espécies <strong>do</strong><br />
21
género Triticum. Do mesmo mo<strong>do</strong>, concluem que os grãos assumem formas<br />
tendencialmente mais arre<strong>do</strong>ndadas que a original e o sulco ventral perde profundidade.<br />
1.1.2. Fenómenos pós-deposicionais<br />
Um <strong>do</strong>s principais fenómenos pós-deposicionais que condiciona a conservação<br />
(potencian<strong>do</strong>-a) <strong>do</strong>s teci<strong>do</strong>s lenhosos é a própria combustão. Haven<strong>do</strong> já explora<strong>do</strong> o tema<br />
resta perceber como após essa combustão parcial as estruturas vegetais já fossilizadas<br />
poderão sofrer novos processos de desgaste.<br />
Vários agentes físico-químicos e mecânicos agem de forma complementar sobre<br />
os restos vegetais integra<strong>do</strong>s nos sedimentos. Destes salientamos o pisoteio, a pressão <strong>do</strong><br />
peso <strong>do</strong> próprio peso <strong>do</strong> sedimento, as grandes alterações de temperaturas atmosféricas e<br />
ao nível <strong>do</strong> solo e processos de pe<strong>do</strong>génese como a carbonatação (Allué, 2002).<br />
Acrescente-se, embora seja difícil a sua detecção, o efeito <strong>do</strong>s agentes sedimentares na<br />
remobilização <strong>do</strong>s restos vegetais.<br />
Por fim, outro factor determinante poderá ser a afectação directa por acções<br />
perturba<strong>do</strong>ras sobre o solo, tanto antrópicas como animais. Entre as acções <strong>do</strong> Homem<br />
inclui-se a escavação arqueológica, a recolha de amostras e a flutuação ou crivagem <strong>do</strong>s<br />
sedimentos.<br />
1.2. Antracologia e Carpologia como Paleoetnobotânica<br />
1.2.1. Antracologia<br />
O estu<strong>do</strong> de madeiras carbonizadas – antracologia – consiste na identificação<br />
botânica <strong>do</strong>s fitoclastos através <strong>do</strong> reconhecimento das suas características anatómicas a<br />
um nível microscópico. A identificação <strong>do</strong>s taxa realiza-se com base em comparações com<br />
colecções de referência e atlas de anatomia (Schweingruber, 1990a, 1990b; Vernet, et al.,<br />
2001). A consulta de estu<strong>do</strong>s detalha<strong>do</strong>s sobre a xilotomia de grupos taxonómicos<br />
particulares, onde o valor de diagnóstico de características xilomorfológicas é avalia<strong>do</strong><br />
constituiu também um precioso auxiliar na identificação.<br />
Na sua fase inicial de desenvolvimento, na primeira metade <strong>do</strong> Século XX, a<br />
morosidade <strong>do</strong>s processos inerentes ao estu<strong>do</strong> microscópio <strong>do</strong>s teci<strong>do</strong>s lenhosos<br />
carboniza<strong>do</strong>s (devi<strong>do</strong> ao uso de microscopia óptica de transmissão e necessidade de<br />
22
ealização de cortes finos em material previamente impregna<strong>do</strong>) dificultou a afirmação da<br />
antracologia enquanto prática científica na área da Paleobotânica. A proliferação destes<br />
estu<strong>do</strong>s, a partir da década de 70 <strong>do</strong> século passa<strong>do</strong>, operou-se com a generalização de<br />
processos analíticos mais simples que passavam pela fragmentação manual <strong>do</strong>s fitoclastos<br />
e a sua observação ao microscópio óptico de luz reflectida. Estes procedimentos<br />
permanecem repletos de actualidade, apesar de, hoje, também se utilizarem<br />
complementarmente diversas outras meto<strong>do</strong>logias e equipamentos de microscopia<br />
(Figueiral, Mosbrugger, 2000).<br />
Ainda que o incremento <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s antracológicos se tenha verifica<strong>do</strong> pela sua<br />
associação a investigações de ín<strong>do</strong>le arqueológica, estes não se encontram limita<strong>do</strong>s à<br />
recolha e análise de materiais provenientes de sítios arqueológicos. Pesquisas de âmbito<br />
antracológico têm-se centra<strong>do</strong> também em contextos de fogos, de origem natural ou<br />
antrópica, detecta<strong>do</strong>s em paleosolos ou perfis de solo – Pe<strong>do</strong>-antracologia – nem sempre<br />
associa<strong>do</strong>s directamente a níveis de ocupação humana (Uzquiano, 1997; Figueiral e<br />
Mosbrugger, 2000). Estas estão, contu<strong>do</strong>, fora <strong>do</strong> âmbito <strong>do</strong> presente estu<strong>do</strong>.<br />
1.2.2. Potencial e limitações: entre a Paleoecologia e a Paleoetnobotânica<br />
Os já menciona<strong>do</strong>s avanços meto<strong>do</strong>lógicos alcança<strong>do</strong>s nos estu<strong>do</strong>s<br />
antracológicos, em especial no Sul da Europa, nas décadas de 60 e 70 visaram vários<br />
aspectos, incluin<strong>do</strong> a recolha de amostras nos trabalhos de campo. Na realidade, o uso de<br />
amostragens de maior dimensão e a optimização de méto<strong>do</strong>s de recolha sistemática, como<br />
a flutuação de sedimentos, hoje extravasam os limites das estruturas arqueológicas, nas<br />
quais a presença de fitoclastos sen<strong>do</strong> mais evidente era, anteriormente, mais valorizada.<br />
No plano teórico-meto<strong>do</strong>lógico coexistem abordagens distintas, com diferentes<br />
objectivos e níveis de abrangência, pretenden<strong>do</strong> definir as capacidades e limitações <strong>do</strong>s<br />
estu<strong>do</strong>s antracológicos. Duas posições opõem-se com a principal divergência na atribuição<br />
de diferentes valências <strong>do</strong>s contextos de estu<strong>do</strong> ao nível da reconstrução das paisagens e<br />
fitocenoses antigas. A principal questão consiste na avaliação e quantificação <strong>do</strong>s vectores<br />
de dispersão, transporte e deposição responsáveis pela presença <strong>do</strong>s macrorrestos vegetais<br />
nos sítios arqueológicos, salientan<strong>do</strong>-se ou menosprezan<strong>do</strong>-se a selecção antrópica como<br />
factor enviesante <strong>do</strong> panorama obti<strong>do</strong> pela análise quantitativa <strong>do</strong>s macrorrestos. Não<br />
obstante, mantém-se o principio segun<strong>do</strong> o qual a ecologia das espécies manteve-se<br />
inalterada desde tempos antigos até à actualidade e que, nessa base, é possível o<br />
estabelecimento de comparações entre ambas as realidades (presente e passa<strong>do</strong>).<br />
Não escamotean<strong>do</strong> a existência de um potencial paleoecológico na análise de<br />
carvões recolhi<strong>do</strong>s em sítios arqueológicos, parece claro, porém, que este é<br />
23
ecorrentemente exacerba<strong>do</strong> de forma errónea. A posição mais usualmente a<strong>do</strong>ptada apoiase<br />
na distinção entre carvões concentra<strong>do</strong>s em estruturas ou derrubes e aqueles dispersos<br />
nos sedimentos arqueológicos. Os primeiros devem traduzir um único momento de selecção<br />
de combustível/material de construção, tratan<strong>do</strong>-se assim de uma amostra não aleatória da<br />
vegetação lenhosa presente, limitan<strong>do</strong>-se a interpretação paleoecológica à constatação da<br />
presença de determina<strong>do</strong>s elementos florísticos e adequan<strong>do</strong>-se, assim, a interpretações<br />
paleoetnográficas, para as quais a sincronia <strong>do</strong>s macrorrestos recolhi<strong>do</strong>s demonstra ser<br />
uma valência (Figueiral, 1994).<br />
Por seu turno, os materiais dispersos deveriam supostamente fornecer espectros<br />
mais completos da paleovegetação envolvente da jazida arqueológica. Estes<br />
corresponderiam a acumulações de vários (potencialmente muitos) momentos singulares,<br />
espelhan<strong>do</strong> diversos momentos de recolha de combustível e limpeza da área de habitação.<br />
Segun<strong>do</strong> alguns autores a recolha sucessiva de madeira atenuaria o factor selecção<br />
aumentan<strong>do</strong> a possibilidade de, entre os carvões dispersos, se encontrarem representadas<br />
todas as espécies lenhosas da envolvência <strong>do</strong> habitat e nas proporções directas, ou não –<br />
aqui variam as interpretações – face à composição paisagística (Chabal, et al., 1999;<br />
Figueiral, 1994). Refira-se a este propósito que em termos estatísticos uma amostra<br />
composta por uma sucessão de gestos selectivos não passa a ser uma amostra aleatória,<br />
por maior que seja a acumulação de gestos incluí<strong>do</strong>s, pelo que a assumpção de que todas<br />
as espécies lenhosas da flora regional estariam representadas numa amostra resultante<br />
dum acumular de gestos de recolha de combustível e de limpeza da área não tem qualquer<br />
sustentabilidade estatística.<br />
Diversos autores sustentam que a obtenção de material lenhoso para alimentar<br />
estruturas de combustão seguiria o princípio <strong>do</strong> mínimo esforço segun<strong>do</strong> o qual, de forma<br />
aleatória e não selectiva, seriam recolhi<strong>do</strong>s ramos caí<strong>do</strong>s, secos, privilegian<strong>do</strong>-se os<br />
materiais mais próximos <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>, independentemente das suas características<br />
específicas. Desta forma, todas as espécies lenhosas seriam recolhidas na medida da sua<br />
abundância (apud Allué, 2002; Espino, 2004 e Piqué, 2006). Do mesmo mo<strong>do</strong> que<br />
entendem o universalismo da recolha de madeira morta, independentemente da espécie,<br />
pressupõem também que a exploração da madeira far-se-ia em meios associa<strong>do</strong>s a outras<br />
actividades como a agricultura e a pastorícia, por uma questão de poupança de tempo e<br />
esforço o que supostamente deveria garantir um reflexo fiel <strong>do</strong> território de exploração<br />
(Chabal, et al, 1999).<br />
Deste mo<strong>do</strong>, segun<strong>do</strong> os autores já referi<strong>do</strong>s, para se obter material adequa<strong>do</strong> a<br />
uma reconstituição paleoambiental bastaria realizar uma correcta amostragem e recolha no<br />
campo. Esta pressupõe o conhecimento das condições de deposição, a distinção clara entre<br />
24
material disperso e concentra<strong>do</strong> e a recolha manual e separada de fragmentos de maiores<br />
dimensões (Chabal, et al., 1999; Figueiral, 1994; Vernet, 1999).<br />
Assume-se com este tipo de abordagem que é possível obter uma imagem de um<br />
fácies local da paleovegetação – o território de exploração de madeira de um habitat antigo<br />
– revestin<strong>do</strong>-se esta de um carácter complementar face às séries regionais resultantes de<br />
estu<strong>do</strong>s polínicos (Figueiral, 1994).<br />
A contestação a esta visão optimista <strong>do</strong> potencial paleoecológico da antracologia<br />
arqueológica passa pela negação <strong>do</strong>s princípios que a fundamentam.<br />
O primeiro ponto fundamental centra-se no factor humano que antecede a<br />
presença das espécies vegetais no registo antracológico. Estu<strong>do</strong>s etnográficos demonstram<br />
que as comunidades rurais têm sóli<strong>do</strong>s conhecimentos de base empírica acerca das<br />
propriedades das madeiras enquanto material de construção e combustível. A escolha de<br />
materiais lenhosos poderia depender dessas propriedades, tal como da articulação entre<br />
necessidades da comunidade, disponibilidade no meio e ainda de factores de ordem<br />
cultural. Deste mo<strong>do</strong>, a sua presença na jazida dificilmente seria correlacionável quantitativa<br />
e estruturalmente, de forma directa, com a biomassa existente (Piqué, 2006; Allué, 2002;<br />
Mateus et al., 2003). De igual mo<strong>do</strong>, a ausência de um elemento no registo antracológico<br />
nunca poderá significar a sua inexistência na paisagem envolvente <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>.<br />
Saliente-se que a imagem paleopaisagística poderá ser deturpada pela maior<br />
representatividade <strong>do</strong>s elementos de mais fácil recolecção, segun<strong>do</strong> o já referi<strong>do</strong> princípio<br />
<strong>do</strong> mínimo esforço.. De facto, é possível questionar até que medida os elementos de mais<br />
fácil recolha são sempre aqueles que existem em maior abundância na paisagem e a melhor<br />
caracterizam. A recolha poderá privilegiar a madeira morta e a vegetação arbustiva pelas<br />
suas propriedades combustíveis, porém, nada garante que nesses elementos estejam<br />
incluí<strong>do</strong>s, de forma proporcional face à sua abundância e papel na paisagem, to<strong>do</strong>s os<br />
componentes relevantes da mesma.<br />
De acor<strong>do</strong> com Vernet (1999), uma das limitações da antracologia é o facto de<br />
representar uma abordagem essencialmente diacrónica. Na verdade, o espectro<br />
representa<strong>do</strong> pelos fitoclastos dispersos não pode correctamente ser posiciona<strong>do</strong> num<br />
momento bem delimita<strong>do</strong>, antes num intervalo de tempo correntemente inquantificável. Ao<br />
mesmo tempo nem sempre são perceptíveis os processos de transporte de deposição<br />
responsáveis pela incorporação <strong>do</strong>s carvões nos depósitos arqueológicos. Deste mo<strong>do</strong>, os<br />
carvões, ou parte destes, poderão não ser sincrónicos <strong>do</strong>s momentos de ocupação<br />
identifica<strong>do</strong>s na jazida e até resultar de incêndios regionais e, assim, respeitar a outra lógica<br />
interpretativa (Mateus, et al., 2003).<br />
Ao mesmo tempo que é difícil conhecer o perío<strong>do</strong> de formação <strong>do</strong> conjunto<br />
antracológico, é impossível quantificar as alterações paisagísticas ocorridas durante o<br />
25
perío<strong>do</strong> de formação <strong>do</strong> depósito em questão (por exemplo, uma fase de ocupação humana<br />
de várias décadas). Na verdade, os fitoclastos que surgem no referi<strong>do</strong> depósito teriam uma<br />
representatividade (face a essa paisagem) distinta em cada uma das diferentes fases de<br />
alteração dessa mesma paisagem, todas elas contemporâneas da formação <strong>do</strong> depósito.<br />
Considera-se, assim, que as proporções que Chabal et al. (1999) dizem identificar<br />
frequentemente no registo antracológico - 20% das espécies representam 80% da biomassa<br />
à semelhança <strong>do</strong>s padrões ecológicos actuais - poderão estar truncadas à partida. Essa<br />
ideia sai realçada quan<strong>do</strong> Vernet (1999) acrescenta que esses números poderão não se<br />
verificar em ecossistemas desequilibra<strong>do</strong>s. Como tal, parece-nos ser estranho identificar<br />
essas proporções no registo antracológico em determina<strong>do</strong>s contextos cronológicos e<br />
culturais que implicam a existência de uma paisagem bastante antropizada. Saliente-se que,<br />
segun<strong>do</strong> o princípio <strong>do</strong> menor esforço, acima menciona<strong>do</strong>, o território primordial de<br />
exploração para obtenção de combustível relaciona-se com as demais actividades de<br />
subsistência da comunidade, num espaço de efectiva proximidade face ao povoa<strong>do</strong>. Esse<br />
espaço é exactamente o mais perturba<strong>do</strong> e afasta<strong>do</strong> das proporções naturais que os<br />
autores sustentam ser passíveis de identificar através da análise <strong>do</strong>s teci<strong>do</strong>s lenhosos.<br />
Em suma, é falacioso afirmar que os carvões dispersos representam um panorama<br />
temporal mais alarga<strong>do</strong> (ainda por mais difícil de quantificar) e depois proceder à sua<br />
análise como se de um momento único se tratasse. Parece claro que, embora faça senti<strong>do</strong> a<br />
nível meto<strong>do</strong>lógico e mesmo interpretativo a distinção entre carvões dispersos e<br />
concentra<strong>do</strong>s, a selecção antrópica encontra-se inerente a ambos, deven<strong>do</strong> incluir-se na<br />
sua interpretação (Uzquiano, 1997). Dada a natureza <strong>do</strong>s factores que condicionam o<br />
registo antracológico, a percepção <strong>do</strong> seu significa<strong>do</strong> passa primordialmente pela<br />
compreensão da jazida e da sua envolvência (idem, 1997).<br />
Por fim, os processos a que são sujeitas as estruturas vegetais até se tornarem<br />
parte <strong>do</strong> registo arqueológico poderão igualmente condicionar a sua interpretação,<br />
condicionan<strong>do</strong> a já problemática correlação entre a quantidade de material carboniza<strong>do</strong> e o<br />
número de indivíduos representa<strong>do</strong>s. O processo de fragmentação depende de factores que<br />
não são controláveis, tais como as propriedades de cada espécie, as condições em que<br />
ocorreu a sua carbonização e ainda diversos processos pós-deposicionais. (Allué, 2002).<br />
Mesmo Chabal, et al. (1999) referem que a redução da massa com o fogo poderá não ser<br />
proporcional em todas as espécies. De facto, como já fizemos notar (vide supra), essas<br />
diferenças poderão afectar de forma muito significativa os espectros antracológicos.<br />
26
Os estu<strong>do</strong>s antracológicos nos sítios arqueológicos, no entanto e apesar <strong>do</strong>s<br />
argumentos acima expostos, são de grande importância e constituem fonte de informação<br />
com muitas possibilidades interpretativas.<br />
Ao nível das interpretações etnográficas são diversas as linhas de investigação.<br />
Partin<strong>do</strong> <strong>do</strong> princípio que existe uma selecção humana das madeiras de acor<strong>do</strong> com os fins<br />
a que se destinam, o que pressupõe um conhecimento profun<strong>do</strong> das matérias-primas, tornase<br />
determinante tentar aceder ao processo inerente a essa escolha.<br />
As madeiras seriam escolhidas de acor<strong>do</strong> com determinadas propriedades, tais<br />
como a rigidez, elasticidade e plasticidade (Chabal, et al., 1999). Naturalmente seria distinto<br />
o esforço despendi<strong>do</strong> na obtenção de matérias-primas para construção ou para mero<br />
combustível para alimentar estruturas de combustão de âmbito <strong>do</strong>méstico se bem que não<br />
seriam de desprezar as propriedades calóricas <strong>do</strong>s diferentes tipos de lenha. No entanto, a<br />
compreensão <strong>do</strong> processo de escolha está condicionada, à partida, pelas limitações quanto<br />
à definição <strong>do</strong>s espectros locais e regionais da vegetação. Ou seja, não se aceden<strong>do</strong> de<br />
forma mais completa aos padrões paisagísticos da envolvência <strong>do</strong>s povoamentos humanos<br />
só de forma esboçada se poderá compreender as contingências da escolha de matériasprimas<br />
nesse contexto assim como a gestão <strong>do</strong> meio.<br />
Independentemente desta limitação, é possível associar espécies a actividades e a<br />
capacidades tecnológicas. Tal define o enquadramento <strong>do</strong>s carvões no campo <strong>do</strong>s<br />
artefactos antrópicos e, como tal, passíveis de interpretações eminentemente arqueológicas<br />
(Mateus et al., 2003).<br />
Não obstante, existe um potencial paleoecológico nas análises antracológicas que<br />
começa pela simples nomeação da sua presença na paisagem ou região envolvente. Afinal<br />
os fitoclastos relacionam-se com a vegetação mas não de forma directa e a sua análise<br />
deve realizar-se com muitas precauções. Assim, é possível reconhecer componentes de<br />
unidades de vegetação embora sem perceber o seu peso na constituição da paisagem. É<br />
neste ponto que divergem as abordagens paleoetnobotânicas e arqueobotânicas<br />
tradicionais (Piquet, 1999). Nas primeiras, e embora se assuma que a disponibilidade no<br />
meio ambiente condiciona de forma marcante a escolha de combustíveis, não se entendem<br />
as frequências relativas de um conjunto de carvões enquanto reflexo das proporções<br />
encontradas nas paleopaisagens. Pressupõe-se a existência de uma escolha antrópica<br />
consciente assim como de vários outros factores enviesantes.<br />
Contu<strong>do</strong>, sen<strong>do</strong> a escolha de materiais lenhosos condicionada por factores de<br />
ordem sócio-económica, em conjunto com a disponibilidade no meio, a dimensão<br />
etnográfica condiciona, à partida, a interpretação paleoecológica. Como P. Uzquiano (1997,<br />
p. 152) refere, será principio basilar que “el estudio de las relaciones hombre-medio debe<br />
27
preceder a la Discusión Paleoecológica, de cara a evaluar mejor las aportaciones de la<br />
Antracología en el terreno de la Paleoecología”.<br />
1.2.3. Carpologia<br />
Apesar de existirem (escassos) estu<strong>do</strong>s anteriores, remontam aos anos 40 os<br />
trabalhos <strong>do</strong> Eng. Pinto da Silva, ainda hoje uma referência nesta área, que constituíram o<br />
verdadeiro debutar da investigação na área da Carpologia em Portugal (Mateus e Queiroz,<br />
1993). Nas décadas seguintes este investiga<strong>do</strong>r assumiria um papel preponderante<br />
multiplican<strong>do</strong> estu<strong>do</strong>s e as espécies identificadas (ver síntese em Silva, 1988). Porém, o<br />
forte incremento que esta disciplina sofreu na década de 90 e até à actualidade no<br />
Mediterrâneo Ocidental, nomeadamente em Espanha e França, não foi convenientemente<br />
acompanha<strong>do</strong> pela formação de novos investiga<strong>do</strong>res dessas áreas em Portugal.<br />
As análises carpológicas, aqui entendidas num âmbito alarga<strong>do</strong>, incidem sobre<br />
diferentes tipos de estruturas vegetais, nomeadamente, frutos e infrutescências, sementes,<br />
tegumentos, pedúnculos, espigas, espiguetas, glumas e segmentos de raquis (Marinval,<br />
1999; Buxo, 1997). A carpologia em sítios arqueológicos é entendida como um estu<strong>do</strong><br />
paleoetnobotânico por excelência. Tal deve-se, especialmente a duas razões. Por um la<strong>do</strong>,<br />
a detecção desses macrorrestos está intimamente relacionada com os mo<strong>do</strong>s de confecção<br />
e estratégias de armazenagem que lhes são inerentes. Por outro, a presença <strong>do</strong>s indícios<br />
carpológicos numa jazida resulta de uma recolha que, claramente, não se processa de<br />
forma aleatória, pressupon<strong>do</strong> uma forte selecção e frequentemente implican<strong>do</strong> o seu cultivo<br />
e gestão prévios.<br />
A recolha de frutos e sementes por parte de comunidades antigas cumpria<br />
objectivos específicos: a alimentação, a preparação de fármacos e drogas, a produção têxtil<br />
e artesanal, a obtenção de combustível (e.g. o azeite), a ornamentação, a realização de<br />
rituais e a troca/comércio. Não obstante, é frequente a presença de sementes de espécies<br />
daninhas que acompanham os cultivos, assim como de espécies existentes na envolvência<br />
das habitações ou recolhidas como combustível.<br />
Numa análise mais imediata, é possível estabelecer algumas linhas de<br />
investigação para além da óbvia tentativa de compreender qual a utilização dada a cada<br />
componente botânico encontra<strong>do</strong> em escavação, bem como os processos de escolha,<br />
tratamento e valorização desses produtos pelas sociedades antigas (ver Marinval, 1999 e<br />
Buxo, 1997):<br />
- Compreensão da selecção, consumo e mo<strong>do</strong> de preparação de alimentos<br />
vegetais, selvagens e cultiva<strong>do</strong>s, e assim deduzir diversos aspectos das paleo-<br />
28
dietas em articulação com os demais da<strong>do</strong>s arqueológicos (zooarqueológicos,<br />
análises de fitolitos, entre outros),.<br />
- Aproximação às diferentes fases e gestos relaciona<strong>do</strong>s com as actividades<br />
agrícolas, partin<strong>do</strong> <strong>do</strong> pressuposto que determina<strong>do</strong> tipo de evidência, como as<br />
cariópses de cereais, implica um determina<strong>do</strong> conjunto de actividades que,<br />
relacionan<strong>do</strong>-se com as capacidades tecnológicas de cada comunidade de um<br />
determina<strong>do</strong> espaço e tempo (implican<strong>do</strong> um conhecimento arqueológico e<br />
histórico de base), permite uma recriação imagética de gestos.<br />
- Conhecimento <strong>do</strong>s mo<strong>do</strong>s de gestão <strong>do</strong>s territórios e ecossitemas<br />
envolventes de cada paleoocupação humana, de acor<strong>do</strong> com modelos de<br />
organização e hierarquização <strong>do</strong> território, teóricos e predefini<strong>do</strong>s (Mateus, 1990),<br />
e implican<strong>do</strong> conhecimentos de base ecológica e etnográfica. Em última análise,<br />
poder-se-á, esboçar a localização de campos de cultivo e relacionar grupos<br />
floristicos diferentes com a geomorfologia da zona de estu<strong>do</strong> (Buxo, 1997).<br />
- Estu<strong>do</strong> de determina<strong>do</strong>s aspectos relaciona<strong>do</strong>s com práticas cultuais,<br />
relaciona<strong>do</strong>s com oferendas e depósitos funerários.<br />
Num âmbito mais alarga<strong>do</strong>, que extravasa cada sítio arqueológico, os estu<strong>do</strong>s<br />
carpológicos foram extremamente relevantes para a percepção, em diversas áreas<br />
geográficas, <strong>do</strong> processo de <strong>do</strong>mesticação de espécies ou da recepção de influências,<br />
tecnologias e conhecimentos exógenos que lograram modificar as comunidades humanas,<br />
assim como a paisagem, de forma marcante. Por outro la<strong>do</strong>, têm si<strong>do</strong> obtidas informações<br />
acerca da própria evolução das espécies vegetais, em função da sua selecção e cultivo (os<br />
cereais são o caso mais marcante).<br />
Por fim, e apesar de também as interpretações carpológicas serem fortemente<br />
tributárias <strong>do</strong> contexto arqueológico (Marinval, 1999) não se pode deixar de salientar que a<br />
carpologia poderá ter um papel relevante ao nível das interpretações paleoecológicas,<br />
sempre como complemento qualitativo (Buxo, 1997), e sempre na estreita relação com o<br />
contexto arqueológico em questão, isto é, o seu território de exploração. É referente a este<br />
espaço, em especial na sua componente mais imediata (os espaços “adjacente” e “próximo”<br />
<strong>do</strong> modelo de Mateus, 1990), que se obtêm informações relativas a parte da composição<br />
florística que acompanha os campos de cultivo (daninhas de culturas) e estruturas rurais<br />
(comunidades ruderais).<br />
A articulação desta disciplina com sistemas de informação geográfica, da<strong>do</strong>s<br />
etnográficos, ecológicos e paleoecológicos, poderá propiciar ao nível de uma reconstrução<br />
imagética, informações referentes aos territórios de exploração e paisagem<br />
agrícola/humanizada, informações essas de ín<strong>do</strong>le marcadamente paleoecológica na<br />
29
medida em que contribuem para a compreensão das paisagens antigas como complexos<br />
mosaicos onde factores antrópicos e naturais se articulam.<br />
É necessário, contu<strong>do</strong>, prudência no que respeita à interpretação de da<strong>do</strong>s<br />
referentes a estes vestígios botânicos. Contingências de natureza arqueológica prendem-se<br />
com as especificidades de cada contexto escava<strong>do</strong> e a relatividade da sua expressão ao<br />
nível da compreensão da jazida no seu to<strong>do</strong> (raramente totalmente escavada). Outras<br />
limitações devem-se à selectividade <strong>do</strong> processo de conservação desses mesmos vestígios,<br />
a carbonização. Uma conservação diferencial de macrorrestos carboniza<strong>do</strong>s privilegia as<br />
sementes maiores e as que dispõem de pericarpos lenhosos (Buxo, 1997).<br />
Por outro la<strong>do</strong>, e sen<strong>do</strong> talvez o aspecto mais relevante, a conservação dependerá<br />
igualmente das distintas manipulações culinárias de cada fruto ou semente, potencian<strong>do</strong><br />
desproporcionalidades (e ausências por não conservação) na listagem carpológica (idem,<br />
1997). Outras desproporcionalidades poderão advir de diferenças biológicas entre espécies.<br />
Assim, numa interpretação carpológica é determinante conhecer a biologia de cada espécie,<br />
em especial a sua diasporologia, e incluir esses da<strong>do</strong>s na análise de valores numéricos, na<br />
medida que poderão existir grandes discrepâncias na quantidade de sementes produzidas<br />
pelas espécies identificadas no contexto arqueológico (Badal, et al., 2003).<br />
30
2. Enquadramento <strong>do</strong> Nordeste transmontano nos estu<strong>do</strong>s paleobotânicos <strong>do</strong><br />
Noroeste peninsular<br />
Apesar de os primeiros estu<strong>do</strong>s paleoecológicos realiza<strong>do</strong>s em Portugal datarem já<br />
de há algumas décadas, a verdade é que esta temática tem ti<strong>do</strong> uma evolução lenta no<br />
nosso país. Como consequência deste facto, não existem séries orgânicas estudadas no<br />
Nordeste Transmontano. Deste mo<strong>do</strong>, a única forma de compreender, ainda que de forma<br />
sucinta, a evolução <strong>do</strong> coberto vegetal desta região ao longo <strong>do</strong> Holocénico, é recorrer aos<br />
abundantes contextos galegos já conheci<strong>do</strong>s. Trata-se, porém, de um tema que não será<br />
aqui aborda<strong>do</strong> de forma sistemática.<br />
Um modelo basea<strong>do</strong> em estu<strong>do</strong>s de macro-restos vegetais provenientes de<br />
contextos arqueológicos transmontanos foi apresenta<strong>do</strong> por Isabel Figueiral e M. Jesus<br />
Sanches (1998-1999 e 2003) com vista à compreensão da evolução da paisagem durante a<br />
Pré-história, até à Idade <strong>do</strong> Ferro. Embora consideremos abusiva a interpretação linear<br />
realizada sobre a evidência arqueobotânica em questão, o facto de incidir essencialmente<br />
sobre contextos anteriores ao perío<strong>do</strong> cronológico que se encontra no âmbito deste estu<strong>do</strong><br />
torna inapropriada, aqui, uma crítica mais aprofundada.<br />
Interessa, porém, reter uma conclusão remetida pelas autoras: aquan<strong>do</strong> da<br />
chegada <strong>do</strong>s romanos à região, esta já esta se encontrava grandemente privada das suas<br />
florestas. Ou seja, a paisagem encontrava-se fortemente antropizada em virtude das<br />
pressões verificadas a partir da pré-história recente (Figueiral e Sanches, 2003).<br />
De facto, as séries polínicas <strong>do</strong> noroeste peninsular colocam no Neolítico o início<br />
da capacidade de alteração de ecossistemas por parte <strong>do</strong> Homem. Embora se denote uma<br />
crescente visibilidade das actividades de desflorestação desde tempos mais antigos, em<br />
especial as Idades <strong>do</strong> Bronze e Ferro, o perío<strong>do</strong> onde estas foram mais marcantes terá<br />
correspondi<strong>do</strong> à fase de ocupação romana (Muñoz Sobrino, et al, 2005; Desprat, et al.,<br />
2003).<br />
Desprat e colabora<strong>do</strong>res (2003) sustentam que durante a Segunda Idade <strong>do</strong> Ferro<br />
o impacto humano sobre a paisagem terá si<strong>do</strong> pouco visível pelo que os momentos<br />
anteriores à presença romana deverão ter si<strong>do</strong> caracteriza<strong>do</strong>s por alternantes fases de<br />
desflorestação e recuperação que tendencialmente despiram vastas áreas florestais,<br />
deixan<strong>do</strong> outras quase intactas (Muñoz Sobrino, et al, 2005, 2004, 1997).<br />
Sustentan<strong>do</strong> esta possibilidade, nas montanhas de Ancares, na zona central da<br />
Galiza, quan<strong>do</strong> surgem os primeiros indícios de agricultura na região (pólen de cereal) em<br />
31
5320±60 BP (4325-4286 BC) 1 não se verificam alterações nas percentagens de pólen<br />
arbóreo (AP) (Muñoz Sobrino, et al., 1997).<br />
Será, no entanto, a partir de 3500 BP (cerca de 1870 BC – Idade <strong>do</strong> Bronze) que<br />
verificar-se-á em Ancares uma diminuição genérica da vegetação arbórea, acompanhada de<br />
um aumento muito significativo da representação de pólen de cereal. Contu<strong>do</strong>, se tal<br />
comportamento <strong>do</strong>s valores de AP se traduziu numa redução <strong>do</strong> pólen de Quercus, a<br />
verdade é que se regista uma expansão <strong>do</strong>s valores de Betula que atingem mesmo o auge<br />
da sua representatividade. Este da<strong>do</strong> foi interpreta<strong>do</strong> como uma evidência <strong>do</strong> bom esta<strong>do</strong><br />
das florestas de montanha aquan<strong>do</strong> <strong>do</strong> forte declínio <strong>do</strong>s carvalhais, resultante da<br />
antropização das suas áreas bio-climáticas mais favoráveis (Muñoz Sobrino, et al., 1997).<br />
Por outro la<strong>do</strong>, no Lago de Sanabria, os da<strong>do</strong>s polínicos demonstram que a partir<br />
de 3050±79BP (1491-1479 BC) o aumento de representatividade <strong>do</strong> pólen de cereal é<br />
acompanha<strong>do</strong> de uma diminuição de Betula e <strong>do</strong> tipo Pinus sylvestris, e <strong>do</strong> acréscimo <strong>do</strong>s<br />
valores <strong>do</strong> tipo Quercus robur (Muñoz Sobrino et al., 2004). A sua associação a um<br />
acréscimo muito significativo da presença de carvão indicia a abertura de pastagens de<br />
montanha.<br />
Verificam-se, deste mo<strong>do</strong>, distintos comportamentos regionais, traduzíveis em<br />
diferentes registos polínicos. De facto, mesmo no último terço <strong>do</strong> Holocénico, perío<strong>do</strong> que<br />
nos interessa particularmente para perceber o enquadramento paisagístico encontra<strong>do</strong><br />
pelos romanos aquan<strong>do</strong> da conquista <strong>do</strong> território, identificaram-se regionalmente diferentes<br />
níveis de antropização da paisagem. Estas diferenças articulam-se com os padrões<br />
clisseriais, tal como foi verifica<strong>do</strong> nas montanhas de Ancares (Muñoz Sobrino, et al., 1997)<br />
onde foi detectada uma fase de diminuição nos valores de AP entre 3090±35BP (1432-1288<br />
Cal BC) e 2070±25BP (171-37 Cal BC).<br />
Este último intervalo de tempo marca o início de uma fase que se prolonga até<br />
1250±50 BP (668-884 Cal AD), sen<strong>do</strong> transversal a to<strong>do</strong> o perío<strong>do</strong> da presença romana, na<br />
qual se verifica uma alternância entre momentos de recuperação e recuo das florestas, na<br />
qual a Betula apresenta valores altos (Muñoz Sobrino, et al., 1997). Não obstante, desta<br />
fase resultam alterações paisagísticas sem precedentes, com um marca<strong>do</strong> declínio da<br />
vegetação de porte arbóreo em virtude <strong>do</strong> incremento das práticas agro-pastoris (Muñoz<br />
Sobrino, et al, 2005).<br />
Sen<strong>do</strong> perceptível que a desflorestação não foi um processo contínuo, dever-se-á<br />
ter em conta que as oscilações na constituição da paisagem articulam-se igualmente com<br />
factores climáticos. Para um perío<strong>do</strong> que coincidiu sensivelmente com a Idade <strong>do</strong> Ferro<br />
existem da<strong>do</strong>s que permitem supor a existência de uma fase de arrefecimento, conhecida<br />
como “Iron Age Cold Epoch” (975-250 Cal BC). Seguin<strong>do</strong>-se a esta dever-se-á ter verifica<strong>do</strong><br />
1 As datações encontram.se calibradas a 2 sigma, recorren<strong>do</strong> ao programa Calib501.<br />
32
um momento de melhoramento das condições climáticas, o “Roman Warm Period” (250 Cal<br />
BC – 450 Cal AD). Este terá si<strong>do</strong> segui<strong>do</strong> de mais um perío<strong>do</strong> de agravamento climático na<br />
Alta Idade Média (500-1000 AD) (Muñoz Sobrino, et al, 2005). No entanto, nem sempre é<br />
perceptível o papel <strong>do</strong>s factores climáticos nas alterações paisagísticas, face à visibilidade<br />
da pressão antrópica em tempos proto-históricos e romanos.<br />
Em suma, é evidente a falta de uma série temporal mais fina que permita perceber<br />
a evolução <strong>do</strong> coberto vegetal ao longo da extensa ocupação romana <strong>do</strong> NW peninsular. É<br />
claro, porém, que a paisagem se encontrava profundamente antropizada aquan<strong>do</strong> da<br />
chegada <strong>do</strong>s exércitos à região, denotan<strong>do</strong>-se ainda assim evidências geográfica e<br />
topograficamente heterógeneas.<br />
2.1. Antracologia e carpologia no Nordeste transmontano<br />
Embora sejam relativamente abundantes as recolhas paleobotânicas efectuadas em<br />
jazidas pré-históricas o mesmo não acontece com o perío<strong>do</strong> cronológico aqui em estu<strong>do</strong> – a<br />
época romana. Para este ponto, serão ti<strong>do</strong>s em conta unicamente os da<strong>do</strong>s referentes à<br />
Idade <strong>do</strong> Ferro e perío<strong>do</strong> romano.<br />
O único contexto da Idade <strong>do</strong> Ferro com da<strong>do</strong>s arqueobotânicos publica<strong>do</strong>s é o<br />
povoa<strong>do</strong> <strong>do</strong> Crasto de Palheiros, Murça. Trata-se de um povoa<strong>do</strong> calcolítico rodea<strong>do</strong> de<br />
estruturas monumentais, nomeadamente taludes pétreos que, após uma longa fase de<br />
aban<strong>do</strong>no, terá si<strong>do</strong> reocupa<strong>do</strong> durante a Idade <strong>do</strong> Ferro, isto é, no 1º milénio a.C. Deste<br />
perío<strong>do</strong> foram escavadas diversas estruturas corresponden<strong>do</strong> a duas fases de ocupação<br />
(Figueiral, Sanches, 2003):<br />
C. Palheiros – Fase III.1:<br />
Cereais<br />
- Identificaram-se grãos de Panicum miliaceum e de Hordeum vulgare<br />
var. vulgare.<br />
C. Palheiros – Fase III.2: Abundantes quantidades de macro-restos foram preservadas<br />
por um incêndio que terá condena<strong>do</strong> o sítio.<br />
Cereais<br />
- São frequentes os grãos de Triticum dicoccum e Hordeum vulgare var.<br />
vulgare, pre<strong>do</strong>minan<strong>do</strong> os primeiros. São escassos os fragmentos de<br />
espiguetas, bases de glumas e ráquis.<br />
33
- Presença abundante de Panicum miliaceum testemunhan<strong>do</strong> a<br />
armazenagem das cariopses em espigas.<br />
Legumes<br />
- Sementes de Vicia faba var. minor são muito abundantes.<br />
Frutos<br />
- Fragmentos de medronho (Arbutus une<strong>do</strong>), de Pinus pinea.<br />
Espécies silvestres<br />
- Silene, Bromus, Galium e Cistaceae.<br />
No que respeita aos da<strong>do</strong>s antracológicos, foram identificadas nas duas fases da<br />
Idade <strong>do</strong> Ferro tipos xilotómicos como Quercus perenifolia, Quercus caducifolia, Quercus<br />
suber, Arbutus une<strong>do</strong>, Pinus pinaster/pinea, Rosaceae Maloidea, Rhamnus<br />
alaternus/Phillyrea e Pistacia (só na fase III.1). Encontram-se, assim, representadas<br />
espécies das florestas e matos mediterrânicos, ainda hoje comuns na região.<br />
De igual mo<strong>do</strong>, surgiram espécies e tipos xilotómicos característicos de etapas de<br />
sucessão ecológicas pouco desenvolvidas, tais como Leguminosae, Erica e Cistaceae, e<br />
ainda, embora só na fase III.2, Daphne gnidium e Labiataea tipo Thymus. Por outro la<strong>do</strong><br />
contam-se entre as espécies ripícolas, Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia e Sambucus,<br />
identifica<strong>do</strong>s exclusivamente em níveis da fase III.2.<br />
O único contexto devidamente divulga<strong>do</strong> com vestígios paleobotânicos de cronologia<br />
romana é o de Casinhas de Nª Senhora, Passos-Mirandela (Figueiral, Sanches, 1998-<br />
1999). Trata-se de um conjunto de abrigos com pintura esquemática pré-histórica, junto <strong>do</strong>s<br />
quais foram identifica<strong>do</strong>s macro-restos que, após a realização de uma datação absoluta, se<br />
concluiu serem <strong>do</strong> perío<strong>do</strong> romano, não se excluin<strong>do</strong>, contu<strong>do</strong> a possibilidade de serem um<br />
pouco mais antigos (séculos IV a.C. – II d.C.). Trata-se, assim, de um contexto de difícil<br />
interpretação e por isso, de fraca relevância e, mesmo, fiabilidade.<br />
Para além de uma semente de Triticum aestivum globiforme (Triticum compactum)<br />
identificaram-se carvões de Arbutus une<strong>do</strong>, Erica sp. e Erica arborea e Leguminosae. Em<br />
menores quantidades contaram-se fragmentos de Quercus caducifolia, Quercus suber,<br />
Quercus perenifolia, Quercus sp, Hedera helix, Rosaceae Maloidea, Fraxinus angustifolia,<br />
Pinus pinaster, Pinus pinaster/pinea, Pinus sylvestris, Juniperus sp e Cistus sp.<br />
34
3. O perío<strong>do</strong> romano no Nordeste transmontano<br />
A conquista <strong>do</strong> Norte da Península Ibérica só se verificou com as incursões de<br />
Augusto em cerca 27-25 a.C. (Reden<strong>do</strong>r, 2002). A região aqui em estu<strong>do</strong> terá si<strong>do</strong><br />
enquadrada na Civitas Zoelarum, <strong>do</strong> Conventus Asturum. A elevação deste populus a civitas<br />
ter-se-á verifica<strong>do</strong>, possivelmente, por volta de 73-74 d.C. aquan<strong>do</strong> da concessão <strong>do</strong> ius<br />
Latii aos populi <strong>do</strong> Noroeste (Alarcão, 2003), não existin<strong>do</strong> concordância no que respeita à<br />
categoria administrativa que era detida anteriormente pelos Zoelae – gentilitas ou gens (vide<br />
Lemos, 1993 e Alarcão, 2003).<br />
Segun<strong>do</strong> F. Sande Lemos a primeira importante fase de romanização data da dinastia<br />
Júlio-Claudiana, de que se salienta o início da construção da Via XVII entre Bracara Augusta<br />
e Asturica Augusta (que passa no extremo Norte <strong>do</strong> actual concelho de Mace<strong>do</strong> de<br />
Cavaleiros) durante o reina<strong>do</strong> de Augusto (Lemos, 1993). Contu<strong>do</strong>, como se percebe na<br />
generalidade da bibliografia, terá si<strong>do</strong> com os Flávios que se aprofun<strong>do</strong>u a integração da<br />
região no império, nomeadamente pela via económica, traduzida por exemplo pela presença<br />
muito abundante de Terra Sigillata.<br />
No entanto, dada a escassez de trabalhos arqueológicos na região em questão, pouco<br />
se sabe acerca <strong>do</strong>s Zoelae. Crê-se que a sede da Civitas localizava-se na Torre Velha de<br />
Castro de Avelãs, elevação sobranceira à depressão de Bragança, visto aí ter si<strong>do</strong> recolhida<br />
uma inscrição dedicada ao deus Aernus pela Or<strong>do</strong> zoelarum. Em torno, da sede, ou seja ao<br />
longo da depressão de Bragança multiplicam-se os povoa<strong>do</strong>s e estabelecimentos rurais,<br />
essencialmente de pequenas dimensões, só ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong> identificadas três villae em to<strong>do</strong> o<br />
Trás-os-Montes Oriental (Lemos, 1993).<br />
De igual mo<strong>do</strong>, existem modelos teóricos que delimitam as fronteiras <strong>do</strong> território deste<br />
povo, salientan<strong>do</strong> os de Jorge Alarcão (1988) e F. Sande Lemos (1993), este último reven<strong>do</strong><br />
com poucas alterações o modelo anterior. Não interessan<strong>do</strong> aqui centrarmo-nos nesta<br />
questão, refira-se somente que o núcleo <strong>do</strong> território posicionar-se-ia entre as cadeias<br />
montanhosas de Montesinho, Nogueira e Bornes. Esta última serra deverá ter constituí<strong>do</strong>,<br />
segun<strong>do</strong> os <strong>do</strong>is investiga<strong>do</strong>res, o limite Sul <strong>do</strong> território Zoelae.<br />
É, no entanto, ao nível da caracterização da economia e subsistência que se denota<br />
de forma mais marcada a escassez de informações. Para além de genéricos apontamentos<br />
de autores latinos acerca <strong>do</strong>s “povos das montanhas”, existem abundantes conjuntos de<br />
da<strong>do</strong>s arqueológicos referentes ao Noroeste Peninsular, porém essencialmente para a<br />
Galiza e Minho, zonas cultural e biogeograficamente distintas <strong>do</strong> Nordeste transmontano, e<br />
onde houve maior investimento a nível de investigação.<br />
A referência mais clara, por parte de um autor latino, acerca <strong>do</strong>s Zoelae é a de Plínio,<br />
o Velho. Este autor refere que o linho <strong>do</strong>s Zoelae era exporta<strong>do</strong> para a Península Itálica<br />
35
onde era utiliza<strong>do</strong> para o fabrico de redes de caça (Guerra, 1995). Já Estrabão (III, 3, 7),<br />
refere que “en los <strong>do</strong>s tercios del año, los montañeses se nutren de bellotas, que secan y<br />
pelan molién<strong>do</strong>las luego para hacer pan, que guardan para consumirlo en lo sucesivo”<br />
(Garcia-Belli<strong>do</strong>, 1993). A afirmação de Estrabão deverá ser entendida à luz <strong>do</strong> tempo em<br />
que foi escrita, isto é, durante a fase de consolidação da conquista <strong>do</strong> território, quan<strong>do</strong> o<br />
autor pretendia enaltecer o papel civiliza<strong>do</strong>r <strong>do</strong>s romanos (Fabião, 1992). Não obstante, as<br />
inúmeras intervenções realizadas em castros na Galiza demonstraram que as bolotas eram<br />
efectivamente um recurso muito utiliza<strong>do</strong> em tempos pré-romanos e que continuaram a sê-lo<br />
após a conquista, não se revestin<strong>do</strong>, contu<strong>do</strong>, de um papel basilar para a subsistência<br />
destas comunidades (Ramil-Rego, et al., 1996; Rodriguez Lopez, et al., 1993; Ramil-Rego,<br />
1993).<br />
Efectivamente, diversos estu<strong>do</strong>s carpológicos e arqueozoológicos têm demonstra<strong>do</strong> o<br />
carácter eminentemente agro-pastoril da economia proto-histórica e romana <strong>do</strong> Noroeste<br />
peninsular, na qual a produção cerealífera apresentava particular relevância, em especial o<br />
trigo. É aponta<strong>do</strong> um pre<strong>do</strong>mínio de Triticum aestivum, Triticum compactum e Triticum<br />
dicoccum. O Panicum miliaceum, Setaria italica, Avena sativa e Hordeum vulgare seriam<br />
cultivos secundários. É ainda apontada a presença de leguminosas, em especial Vicia faba<br />
e em menor medida Pisum sativum, Brassica sp. e Sinapis (Ramil-Rego et al., 1996;<br />
Rodriguez Lopez, et al. 1993). No que respeita à produção de castanha, apesar de ser<br />
conheci<strong>do</strong> o incremento que esta cultura teve em época romana, este amplo conhecimento,<br />
que advém <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s polínicos, não é acompanha<strong>do</strong> por um registo paleocarpológico em<br />
jazidas arqueológicas que o possa <strong>do</strong>cumentar de forma mais pormenorizada.<br />
É presumível que a nova ordem económica romana no Noroeste peninsular tenha<br />
conduzi<strong>do</strong> a significativas alterações no que respeita aos volumes e mesmo propósitos de<br />
produção, entran<strong>do</strong> esta região numa economia cada vez mais mercantil, na qual o<br />
abastecimento de merca<strong>do</strong>s regionais teria especial relevância. Ao mesmo tempo, um<br />
aumento de produções seria necessário para pagar o devi<strong>do</strong> tributo ao Esta<strong>do</strong> romano.<br />
Saliente-se, a este respeito, que noutras áreas geográficas se encontram bem<br />
<strong>do</strong>cumentadas evidentes alterações no sistema agrícola. Menciona-se a título de exemplo a<br />
área carpetana onde desde a época de Augusto, e pelo menos até ao século III, houve um<br />
incremento no cultivo da vinha, a tal ponto que no ano 92 d.C. o impera<strong>do</strong>r Domiciano terá<br />
proibi<strong>do</strong>, possivelmente com pouco efeito, o cultivo da vinha em terrenos de cereal,<br />
decretan<strong>do</strong> mesmo o seu arranque parcial (Hurta<strong>do</strong> Aguña, 2001). Nas regiões peninsulares<br />
mais meridionais, nomeadamente a Bética, as alterações terão si<strong>do</strong> mais profundas, de<br />
mo<strong>do</strong> a fomentar um acréscimo de produções de cereal e vinho com vista à sua exportação.<br />
No que respeita à exploração de ga<strong>do</strong>, existem marcadas diferenças entre as<br />
realidades pré-romanas e romanas no registo arqueológico <strong>do</strong> Noroeste peninsular,<br />
36
nomeadamente nos contextos galegos. Em todas as fases crono-culturais o ga<strong>do</strong> mais<br />
importante é o vacum, sen<strong>do</strong> que o esforço de romanização conduziu à afirmação <strong>do</strong> ga<strong>do</strong><br />
porcino face ao ovi-caprino enquanto segunda preferência. Denota-se, porém, que em<br />
épocas de crise, como o Baixo-Império, há um retorno ao ga<strong>do</strong> ovi-caprino e uma<br />
diminuição da frequência de ga<strong>do</strong> porcino (Fernández Rodriguez, 2003).<br />
Por outro la<strong>do</strong>, os conjuntos arqueozoológicos <strong>do</strong>cumentam um aumento muito<br />
significativo na dimensão <strong>do</strong>s animais. De facto, a altura <strong>do</strong>s animais de criação <strong>do</strong>méstica<br />
aumenta claramente, como sinal da importação de animais, possivelmente directamente da<br />
zona central da Península Itálica. Trata-se porém, de uma realidade mais visível nos meios<br />
urbanos e nas grandes villae.<br />
A introdução de animais com fins alimentares e outros encontra-se bem <strong>do</strong>cumentada<br />
também pela recolha em jazidas arqueológicas de vestígios osteológicos de gansos, gatos,<br />
cães de pequenas dimensões (animais de companhia) e até dromedários. A continuação da<br />
presença de animais selvagens inclusive em contextos urbanos testemunha a persistência<br />
das actividades de caça, embora cada vez menos para suprir necessidades básicas<br />
(Fernández Rodriguez, 2003).<br />
No entanto, particular ênfase deve ser da<strong>do</strong> à exploração mineira que terá constituí<strong>do</strong><br />
a actividade económica de maior interesse para os romanos no NW peninsular. De facto, a<br />
riqueza em diversos metais, <strong>do</strong>s quais salientamos o estanho, o ouro, a prata, o chumbo e o<br />
ferro terá molda<strong>do</strong> a paisagem em diversos senti<strong>do</strong>s, condicionan<strong>do</strong> de forma significativa a<br />
distribuição <strong>do</strong> povoamento e da rede viária e ainda motivan<strong>do</strong> intensas actividades de<br />
desflorestação (Lemos, 1993).<br />
3.1. Território rural e agricultura<br />
Não é expectável encontrar no Nordeste Transmontano a dicotomia cidade-villae<br />
característica <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> romaniza<strong>do</strong>. De facto, sabemos hoje que a ocupação <strong>do</strong> território<br />
não seguiu um modelo único na totalidade <strong>do</strong> império, verifican<strong>do</strong>-se assim uma certa<br />
heterogeneidade de acor<strong>do</strong> com diferentes variáveis, tais como a morfologia e ecologia, o<br />
fun<strong>do</strong> indígena de cada região, os estímulos recebi<strong>do</strong>s e a intervenção estatal (Carvalho,<br />
2006). De facto, à semelhança de outras áreas rurais montanhosas (vide o exemplo da<br />
Cova da Beira em Carvalho, 2006) não existiria no território transmontano uma estruturação<br />
de tipo centuriatio, esperan<strong>do</strong>-se uma repartição territorial mais desordenada, adaptan<strong>do</strong>-se<br />
à topografia e aos traça<strong>do</strong>s pré-existentes. Certo é que, embora não haja centuriação, a<br />
existência de novos tipos de habitat rural em época romana indica que algumas terras foram<br />
seccionadas alteran<strong>do</strong>-se os modelos de organização da paisagem (Lemos, 1993).<br />
37
Deste mo<strong>do</strong>, apesar de o sistema de organização <strong>do</strong> espaço rural ter sofri<strong>do</strong><br />
importantes modificações com a conquista romana, afasta-se um pouco <strong>do</strong> ideal latino<br />
segun<strong>do</strong> o qual grandes e luxuosas explorações agrícolas abastece<strong>do</strong>ras de amplos centros<br />
urbanos (e dependentes destes) estruturavam as paisagens. De facto, somente três villae<br />
são mencionadas para to<strong>do</strong> Trás-os-Montes Oriental (Lemos, 1993).<br />
Não obstante, um conceito é generaliza<strong>do</strong>: as pequenas unidades uni-familiares<br />
(Casais rurais) localizadas perto de férteis terrenos agrícolas. Estes casais seriam muito<br />
abundantes em to<strong>do</strong> o Nordeste Transmontano, conjuntamente com outros<br />
estabelecimentos de maior dimensão (Povoa<strong>do</strong>s Romanos) também de fundação romana 2 .<br />
Saliente-se que prospecções arqueológicas realizadas em torno da sede da Civitas<br />
Zoelarum permitiram identificar uma importante concentração destes estabelecimentos<br />
rurais (Lemos, 1993).<br />
Ao mesmo tempo subsistiam inúmeros povoa<strong>do</strong>s fortifica<strong>do</strong>s e outros aglomera<strong>do</strong>s<br />
indígenas, sen<strong>do</strong> ainda pouco claro o mo<strong>do</strong> como se enquadravam no modelo económico e<br />
social <strong>do</strong> império. Tal deve-se, em parte, à concentração <strong>do</strong>s esforços interpretativos acerca<br />
<strong>do</strong> mun<strong>do</strong> rural romano nos estabelecimentos de carácter uni-familiar. Estes, em especial<br />
nestas áreas montanhosas, interiores e com pouco estimulo urbano orientariam as<br />
produções essencialmente para a sua própria subsistência e algum, escasso, comércio<br />
(Carvalho, 2006).<br />
Mais difícil é pensar no papel desempenha<strong>do</strong> pelos povoa<strong>do</strong>s indígenas romaniza<strong>do</strong>s,<br />
fortifica<strong>do</strong>s ou não. Acreditamos, contu<strong>do</strong>, que também estes destinariam a maior parte das<br />
suas produções agrícolas ao consumo e troca no próprio povoa<strong>do</strong>, prolongan<strong>do</strong> assim os<br />
modelos de auto-suficiência proto-históricos. Efectivamente, a escolha <strong>do</strong> local de<br />
implantação <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong> obedeceria a critérios que assegurariam o acesso a uma grande<br />
variedade de recursos (Fernández-Posse e Sánchez-Palencia, 1998). Deste mo<strong>do</strong>, parece<br />
justificável que, como sustenta F. S. Lemos (1993), no território <strong>do</strong>s Zoelae em época<br />
romana os aglomera<strong>do</strong>s indígenas controlassem os melhores solos agrícolas.<br />
Tal não impediria, bem pelo contrário, a existência de relações comerciais com outros<br />
estabelecimentos, inclusive com as recém criadas unidades uni-familiares, numa óptica de<br />
abertura e de algum dinamismo e complementaridade económica mais característicos <strong>do</strong><br />
mun<strong>do</strong> romano. Realmente, a integração nas rotas comerciais proporcionada pela rede<br />
viária e pela paz romana facilitaria a troca e venda de bens, tanto produtos agrícolas<br />
(produções para venda ou meros excedentes) como artesanato e utensílios de diversas<br />
ordens.<br />
2 A designação “Casal rural” é entendida aqui como sinónimo de “Quinta”, outro terno comum na bibliografia.<br />
Para considerações mais aprofundadas acerca destas nomenclaturas deve ser consultada a obra de F. S. Lemos<br />
(1993), aqui seguida.<br />
38
3.2. Terronha de Pinhovelo: historial de investigação<br />
A primeira intervenção arqueológica na Terronha de Pinhovelo data de 1997. Até<br />
então, a jazida encontrava-se mencionada em inúmeras obras, referências essas<br />
sintetizadas por F. Sande Lemos (1993). Salientamos, contu<strong>do</strong>, a primeira menção à<br />
existência de uma povoação romana no local denomina<strong>do</strong> de Terronha de Pinhovelo, que se<br />
encontra na célebre obra <strong>do</strong> Abade de Baçal, Francisco Manuel Alves (1934). Este autor<br />
centra-se no estu<strong>do</strong> das epígrafes que diz aí terem si<strong>do</strong> recolhidas assinalan<strong>do</strong> também a<br />
presença de materiais arqueológicos à superfície entre os quais uma moeda de Sexto<br />
Pompeio.<br />
A intervenção de 1997 deu-se num contexto de arqueologia preventiva pois<br />
encontrava-se projectada a edificação no local de um troço <strong>do</strong> Itinerário Principal 2, que<br />
implicaria a destruição de grande parte da elevação e, consequentemente, <strong>do</strong> sítio<br />
arqueológico. Os resulta<strong>do</strong>s da escavação ditaram o desvio da via e a salvaguarda da<br />
jazida. Incidin<strong>do</strong> no flanco oriental da elevação, a intervenção decorreu sob a direcção <strong>do</strong><br />
Mestre Pedro Sobral de Carvalho, permitin<strong>do</strong> a detecção de inúmeras estruturas e<br />
artefactos arqueológicos de significativo valor patrimonial (Carvalho et al., 1997).<br />
Dos vestígios encontra<strong>do</strong>s destaca-se um talude pétreo cuja cronologia é, segun<strong>do</strong> os<br />
autores, pouco clara. Esta estrutura monumental apresenta 9m de largura máxima e terá,<br />
possivelmente, deti<strong>do</strong> funções defensivas. A<strong>do</strong>çadas ao talude definiram-se vários<br />
compartimentos de cariz <strong>do</strong>méstico.<br />
Entre as diversas habitações visíveis no local assumem-se como particularmente<br />
relevantes um compartimento com evidências estruturais e faunísticas que conduziram à<br />
sua interpretação enquanto espaço de abate e desmanche de animais; e um outro<br />
compartimento que terá si<strong>do</strong> utiliza<strong>do</strong> enquanto área de moagem, ten<strong>do</strong> aí si<strong>do</strong> recolhi<strong>do</strong>s<br />
<strong>do</strong>is elementos de mó circular intactos.<br />
As escavações permitiram ainda a recolha de inúmeros pesos de tear e moedas assim<br />
como abundante cerâmica importada, nomeadamente Terra Sigillata. Estas evidências<br />
permitiram posicionar a ocupação romana <strong>do</strong> local entre os séculos I e IV/V d.C. (Carvalho<br />
et al., 1997).<br />
Já os vestígios pré-romanos são escassos e de difícil interpretação, a descrição <strong>do</strong>s<br />
mesmos parece apontar para a possibilidade da presença romana no local ter si<strong>do</strong><br />
responsável pela destruição de grande parte das evidências de ocupações anteriores. A<br />
inserção cronológica das mesmas foi então considerada problemática, enquadran<strong>do</strong>-se na<br />
Idade <strong>do</strong> Ferro ou <strong>do</strong> Bronze. Ao nível artefactual salienta-se a descoberta de um vaso<br />
quase intacto, de filiação castreja, assim como cerâmicas não decoradas, de pastas<br />
grosseiras e com coloração negra. Por fim, a presença de frequentes carvões conduziu<br />
39
mesmo à identificação de um possível episódio violento conecta<strong>do</strong> com o aban<strong>do</strong>no <strong>do</strong><br />
local. É sobre estes vestígios que assenta a ocupação romana (Carvalho et al., 1997).<br />
Saliente-se que perante estes resulta<strong>do</strong>s, os investiga<strong>do</strong>res responsáveis pela primeira<br />
intervenção na Terronha de Pinhovelo consideraram a jazida, ao contrário de F. Sande<br />
Lemos (1993), um castro da Idade <strong>do</strong> Ferro romaniza<strong>do</strong>. Sande Lemos, embora basea<strong>do</strong><br />
em meras prospecções de superfície, havia denomina<strong>do</strong> o sítio de Povoa<strong>do</strong> Romano, isto é,<br />
um povoa<strong>do</strong> aberto de fundação romana 3 , explicitamente não consideran<strong>do</strong>-o um castro e<br />
não colocan<strong>do</strong> a hipótese de uma pré-existência proto-histórica.<br />
Com o início <strong>do</strong> Projecto Terras Quentes, promovi<strong>do</strong> pela associação epónima, esta<br />
jazida foi novamente intervencionada, desta vez dentro de uma estratégia de valorização e<br />
continuidade. Três campanhas foram realizadas nos verões de 2004, 2005 e 2006 cujos<br />
resulta<strong>do</strong>s serão descritos adiante (Capítulo IV).<br />
3 O autor considera, contu<strong>do</strong>, a possibilidade de atribuir a denominação Povoa<strong>do</strong> Romano a locais habita<strong>do</strong>s em<br />
tempos pré-romanos desde que esse fun<strong>do</strong> indígena não tenha ti<strong>do</strong> influência ao nível da estruturação <strong>do</strong><br />
povoa<strong>do</strong> após a conquista <strong>do</strong> mesmo.<br />
40
III. OBJECTIVOS E MÉTODOS<br />
1. Objectivos<br />
As escavações arqueológicas realizadas na Terronha de Pinhovelo enquadraram-se<br />
num projecto de investigação vasto e ambicioso que impunha uma abordagem lata a to<strong>do</strong> o<br />
concelho de Mace<strong>do</strong> de Cavaleiros, nomeadamente no que às antigas ocupações humanas<br />
dizia respeito. A primeira fase <strong>do</strong> Projecto Terras Quentes, promovi<strong>do</strong> pela Associação<br />
Terras Quentes teve a duração de quatro anos e decorreu entre os anos de 2003 e 2006.<br />
Neste projecto, para além da Terronha de Pinhovelo, foram intervencionadas várias jazidas<br />
abrangen<strong>do</strong> um lato espectro temporal.<br />
A intervenção na Terronha de Pinhovelo inseria-se num objectivo mais vasto de<br />
compreender a evolução <strong>do</strong>s modelos de ocupação <strong>do</strong> espaço na região desde a Préhistória<br />
aos nossos dias, com principal ênfase para o perío<strong>do</strong> romano. Desta época<br />
pretendia-se uma mais fiel caracterização das paleo-comunidades da região, a<br />
compreensão das formas de povoamento e as continuidades e rupturas com as fases protohistóricas.<br />
Por outro la<strong>do</strong>, no caso específico da Terronha de Pinhovelo existia, em acréscimo, um<br />
objectivo premente de valorização museológica da jazida e <strong>do</strong>s conjuntos artefactuais nela<br />
encontra<strong>do</strong>s.<br />
Objectivos mais concretos e específicos existiam no projecto de investigação <strong>do</strong> sítio<br />
Terronha <strong>do</strong> Pinhovelo. Partin<strong>do</strong> <strong>do</strong> princípio que estávamos perante uma comunidade rural<br />
de um fun<strong>do</strong> eminentemente indígena, embora romanizada, com o decorrer <strong>do</strong>s trabalhos<br />
assumiu-se a vontade de compreendê-la <strong>do</strong> ponto de vista territorial-agrícola e<br />
paleoetnográfico. Para tal afigurava-se como determinante perceber que plantas eram<br />
consumidas e colocar possibilidades interpretativas acerca <strong>do</strong> seu tratamento pela paleocomunidade<br />
(cultivo, colheita, confecção), as escolhas de combustível, os ritmos da vida<br />
anual destas comunidades, a articulação com o seu território físico envolvente e a<br />
identificação de elementos e unidades de vegetação da envolvência <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong> (da<strong>do</strong>s<br />
paleoecológicos). Tornava-se necessária a realização de um estu<strong>do</strong> paleoetnobotânico,<br />
onde se almejava uma melhor compreensão da jazida, esclarecen<strong>do</strong> a funcionalidade de<br />
determinadas estruturas e averiguan<strong>do</strong> o seu conteú<strong>do</strong> de origem vegetal. Ao mesmo tempo<br />
pretendia-se compreender de forma mais adequada as comunidades que a habitaram<br />
tentan<strong>do</strong> aceder ao seu quotidiano, os seus ciclos, a sua alimentação e mesmo a sua<br />
economia.<br />
41
Por fim, desejava-se realizar uma primeira abordagem experimental à recolha de<br />
materiais vegetais carboniza<strong>do</strong>s na jazida e também, numa perspectiva teórico-prática,<br />
compreender melhor as possibilidades e limitações de um estu<strong>do</strong> desta natureza.<br />
42
2. Méto<strong>do</strong>s<br />
A primeira fase de aquisição de da<strong>do</strong>s passou necessariamente pela realização de<br />
uma escavação arqueológica.<br />
Para alcançar os objectivos propostos havia que incorporar nas meto<strong>do</strong>logias<br />
arqueológicas modelos de recolhas de macro-fosseis vegetais. Estes seriam alvo de<br />
estu<strong>do</strong>s específicos, desde a sua identificação à contabilização de unidades e análises<br />
globais. Desta forma, o conjunto de meto<strong>do</strong>logias específicas a seguir podem dividir-se nos<br />
seguintes parâmetros:<br />
1) Estu<strong>do</strong> arqueológico: escavação em área;<br />
2) Estu<strong>do</strong> arqueobotânico: recolha de campo, análise laboratorial (identificação e<br />
biometria), análise de da<strong>do</strong>s;<br />
3) Estu<strong>do</strong> paleoetnobotânico e paleoecológico: pesquisas de da<strong>do</strong>s ecológicos,<br />
etnobotânicos e eco-territoriais;<br />
4) Análise espacial e eco-territorial<br />
2.1. A intervenção arqueológica<br />
Os trabalhos arqueológicos seguiram os pressupostos meto<strong>do</strong>lógicos defini<strong>do</strong>s por<br />
Edward Harris (1991). Deste mo<strong>do</strong>, a Unidade Estratigráfica (U.E.) constituiu-se como a<br />
unidades básica de registo, traduzin<strong>do</strong>-se em depósitos, estruturas negativas ou positivas e<br />
interfaces. As U.E. foram removidas pela ordem inversa à da sua deposição, ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong><br />
delimitadas todas as interfaces identificadas.<br />
O registo das U.E. incluiu a descrição das suas características e inter-relações físicas<br />
bem como a representação gráfica e fotográfica <strong>do</strong>s seus interfaces em planos individuais<br />
ou de conjunto. Desta forma, a análise estratigráfica conduziu à elaboração de uma matriz<br />
de Harris.<br />
Cada área de escavação deteve a sua própria sequência numérica de U.E., inician<strong>do</strong>se<br />
todas na [1]. Em texto distinguem-se pela referência ao respectivo sector (e.g. B[1], A[1]).<br />
As interfaces de destruição das estruturas positivas obtiveram o mesmo número de U.E. que<br />
a própria estrutura a que se referem segui<strong>do</strong> da letra a (e.g. à estrutura B[10] corresponde a<br />
interface de destruição B[10a]).<br />
Como o estu<strong>do</strong> paleoetnobotânico se centra somente no Sector B, na análise <strong>do</strong>s<br />
macro-restos vegetais as referências às amostras far-se-ão com a referência à fase de<br />
ocupação. Assim, a titulo de exemplo, as amostras da U.E. B[65] são referidas como IV65,<br />
as da B[71] como III71.<br />
43
2.2. O estu<strong>do</strong> paleoetnobotânico<br />
2.2.1. Amostragem e recuperação de fitoclastos<br />
Numa escavação arqueológica a recolha de carvões e sementes deve ser encarada<br />
como um processo rotineiro, a par da recolha de outros artefactos. No entanto, as suas<br />
singularidades exigem estratégias distintas (Martínez, et al., 2003).<br />
Estão longamente descritas na bibliografia as correctas meto<strong>do</strong>logias de campo que<br />
visam a recolha de macro-restos vegetais (veja-se, em especial, Martínez, et al., 2003;<br />
Badal et al.. 2003; Buxo, 1997 e 1990) Esta recolha deverá constituir uma amostragem com<br />
valor representativo para o tipo de estu<strong>do</strong> que se almeja realizar. Como Badal et al. (2003)<br />
referem, os vestígios arqueológicos são sempre parciais pois representam somente uma<br />
parte <strong>do</strong> que foi utiliza<strong>do</strong>. Dessa parte só se conservaram os mais resistentes ou os que<br />
foram deposita<strong>do</strong>s num contexto que facilitou a sua conservação. Da parte conservada nem<br />
sempre se escava tu<strong>do</strong>. Por isso, a parte recolhida e a porção estudada – caso seja<br />
impossível o seu estu<strong>do</strong> integral – devem ser representativas <strong>do</strong> conjunto.<br />
Para além da recolha fortuita ou pontual existem méto<strong>do</strong>s sistemáticos <strong>do</strong>s quais se<br />
salientam:<br />
- Recolha integral <strong>do</strong> depósito<br />
- Recolha localizada<br />
- Amostragem intervalada<br />
- Amostragem em coluna estratigráfica<br />
- Amostragem probabilística ou aleatória<br />
- Amostras de volumes constantes por estrato<br />
- Amostragem por estimativa<br />
Martínez, et al. (2003) aconselham a articulação de uma amostragem por estimativa<br />
com a recolha integral <strong>do</strong> sedimento de alguns contextos. A amostragem por estimativa<br />
pressupõe a recolha e flutuação inicial de um volume constante de terra, como teste,<br />
dependen<strong>do</strong> a continuação da recolha da riqueza em macro-fosseis verificada.<br />
Contu<strong>do</strong>, como salientam os autores, a aplicação deste modelo implica a presença de<br />
uma pessoa que se dedique ao tratamento e recolha de amostras, e ainda infra-estruturas<br />
que garantam a execução da tarefa. O volume de sedimento que deve ser analisa<strong>do</strong> é<br />
demasia<strong>do</strong> eleva<strong>do</strong> e só uma máquina de flutuação permite o tratamento das amostras em<br />
tempo útil <strong>do</strong> decorrer <strong>do</strong>s restantes trabalhos de campo.<br />
Na impossibilidade de criar estas condições, o critério mínimo passa pela recolha de<br />
amostras de forma sistemática em to<strong>do</strong>s os estratos que visivelmente apresentem macrorestos<br />
vegetais (Martínez, et al., 2003).<br />
44
Na Terronha de Pinhovelo desde o início da intervenção arqueológica houve a<br />
preocupação de assimilar os ecofactos aos artefactos arqueológicos “comuns”. Como tal<br />
recolheram-se manualmente os carvões e sementes visíveis em plenos trabalhos de campo,<br />
recolhen<strong>do</strong>-se inclusive amostras de sedimento das estruturas identificadas. Porém,<br />
somente a partir da segunda campanha de trabalhos se esboçou um projecto que integrava<br />
a amostragem sistemática de contextos sedimentares com vista à obtenção de da<strong>do</strong>s<br />
paleobotânicos.<br />
Diversos factores condicionaram este projecto, destacan<strong>do</strong>-se a inexistência de infraestruturas<br />
básicas para a sua execução (colunas de crivos adequadas e material de<br />
laboratório) e o facto de o responsável pelo mesmo, o signatário, se encontrar<br />
impossibilita<strong>do</strong> de se dedicar de forma constante ao mesmo, visto acumular funções de<br />
direcção técnica e científica <strong>do</strong>s trabalhos, participan<strong>do</strong> nestes de forma activa e com<br />
diversas tarefas.<br />
Desta forma, optou-se pela continuação da recolha manual <strong>do</strong>s materiais visíveis,<br />
encontra<strong>do</strong>s de forma isolada e dispersa nos depósitos. Ao mesmo tempo, aproximan<strong>do</strong>-nos<br />
<strong>do</strong>s modelos acima descritos, realizaram-se recolhas integrais <strong>do</strong> sedimento de estruturas<br />
de combustão e a amostragem pontual em estratos com significativa presença de macrofosseis.<br />
Foram também realizadas amostragens por estimativa em determina<strong>do</strong>s contextos, a<br />
partir da terceira campanha quan<strong>do</strong> já se dispunha de uma coluna de crivos. Contu<strong>do</strong>, a<br />
morosidade <strong>do</strong> sistema e o facto de este não se encontrar no local de escavação<br />
impossibilitou a generalização desta abordagem.<br />
Naturalmente, a estratégia passou por uma distinção clara entre carvões<br />
concentra<strong>do</strong>s, em estruturas ou depósitos, e carvões dispersos.<br />
Por fim, é possível afirmar que na fase actual <strong>do</strong>s trabalhos da Terronha de Pinhovelo<br />
não se dispõe de uma superfície de escavação suficientemente grande (proporcionalmente<br />
à dimensão da jazida e face ao tipo e cronologia <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>) para conseguir uma<br />
amostragem notável. Assim, salientam-se as possibilidades abertas pelo estu<strong>do</strong> das áreas<br />
de combustão nomeadamente nos seus aspectos etnobotânicos.<br />
A recuperação de macro-restos vegetais aquan<strong>do</strong> das intervenções arqueológicas na<br />
Terronha de Pinhovelo procedeu-se de três formas:<br />
- Recolha manual <strong>do</strong>s fitoclastos visíveis em escavação<br />
- Crivagem a seco da totalidade <strong>do</strong>s sedimentos no campo, durante os trabalhos,<br />
recolhen<strong>do</strong>-se manualmente os macro-fosseis<br />
- Flutuação de sedimentos (amostragem por estimativa, amostragem pontual, e<br />
recolha integral de determina<strong>do</strong>s contextos)<br />
45
Os materiais paleobotânicos recolhi<strong>do</strong>s pelos <strong>do</strong>is primeiros méto<strong>do</strong>s são identifica<strong>do</strong>s<br />
como Recolhas Manuais (RM), traduzin<strong>do</strong>-se a nível de inventário da seguinte forma:<br />
TP.RM.0000.<br />
De entre os processos de recuperação de fitoclastos, a flutuação de sedimentos surge,<br />
de forma inequívoca em toda a bibliografia arqueobotânica, como aquele que permite uma<br />
mais eficaz recolha de ecofactos. Na Terronha de Pinhovelo, não dispon<strong>do</strong> de um mais<br />
sofistica<strong>do</strong> sistema de flutuação que permitisse, de forma mais célere, tratar grandes<br />
quantidades de sedimentos (como descrito por R. Buxo), optou-se por um sistema manual<br />
bastante eficaz, a “flutuação manual simples” (Buxo, 1997).<br />
Este procedimento consiste em depositar o sedimento num recipiente que, de seguida,<br />
é cheio de água. Ao mesmo tempo procede-se à agitação manual <strong>do</strong> sedimento, de forma a<br />
desagregar torrões de terra e desprender os macro-fosseis de menor densidade permitin<strong>do</strong><br />
que surjam à superfície. Decanta-se, então, o liqui<strong>do</strong> para uma coluna de quatro crivos, com<br />
malhas de 2mm, 1mm, 0.5mm e 0.25mm. Este procedimento repete-se sucessivamente até<br />
não se verificar a deposição de qualquer macro-resto nas malhas das peneiras.<br />
Dada a grande abundância de amostras recolhidas no campo e a lentidão <strong>do</strong><br />
processo, bem como o escasso tempo disponível para o seu tratamento laboratorial,<br />
procedeu-se a uma sub-amostragem. Desta forma, cada amostra recolhida em sacos de<br />
plástico pesaria em média cerca de 10KG. De cada uma destas realizaram-se, para a<br />
flutuação, sub-amostragens de 1Kg ou 2Kg, dependen<strong>do</strong> da riqueza em fitoclastos de cada<br />
contexto. Procurou-se sempre garantir uma boa representatividade das mesmas. No quadro<br />
3.1 encontram-se expostos os valores percentuais e totais de cada amostra e sub-amostra.<br />
O restante sedimento de cada amostra que<strong>do</strong>u-se armazena<strong>do</strong> para estu<strong>do</strong>s<br />
posteriores ou para confirmação de da<strong>do</strong>s, caso seja necessário. Após a flutuação, o refugo<br />
da mesma foi recolhi<strong>do</strong> e guarda<strong>do</strong> de mo<strong>do</strong> a permitir, através da sua triagem,<br />
averiguações acerca da eficácia <strong>do</strong> processo.<br />
O conteú<strong>do</strong> de cada malha <strong>do</strong>s crivos foi recolhi<strong>do</strong> em separa<strong>do</strong> de forma a facilitar os<br />
trabalhos laboratoriais. A sua inventariação seguiu a seguinte denominação: TP.Lab.0000.<br />
46
U.E.<br />
Peso<br />
Amostra<br />
Subamostra<br />
Percentagem<br />
sub-amostra<br />
V3 59,61 9 15,10<br />
V4 6,19 1 16,16<br />
V9 5,13 1 19,49<br />
IV11 8,94 2 22,37<br />
IV20 49,21 10 20,32<br />
IV21 10,9 4 36,70<br />
IV22 7,98 2 25,06<br />
IV24 1,57 1 63,69<br />
IV50 12,23 2 16,35<br />
IV63 9,1 2 21,98<br />
IV65 84,52 12 14,20<br />
IV66 66,29 6 9,05<br />
IV70 22,56 6 26,60<br />
III71 4,95 2 40,40<br />
III82 3,41 1 29,33<br />
III95 13,99 3 21,44<br />
Quadro 3.1 – Peso (em Kg) das amostras e subamostras<br />
e percentagem de sedimento estudada<br />
2.2.2. Meto<strong>do</strong>logia laboratorial e análise de da<strong>do</strong>s<br />
A observação de sementes e demais carporrestos foi realizada à lupa binocular e o<br />
diagnóstico efectuou-se por comparação morfológica com elementos actuais, com recurso à<br />
carpoteca em montagem no Laboratório de Paleoecologia e Arqueobotânica <strong>do</strong> IPA e a atlas<br />
da especialidade (Berggren, 1981).<br />
Para a identificação de grãos e espiguetas de cereais foi utiliza<strong>do</strong> o guia de S. Jacomet<br />
e colabora<strong>do</strong>res (2006) e ainda as obras generalistas de R. Buxo (1997) e J. Renfrew (1973)<br />
nas quais se definem os parâmetros descritivos genéricos. Foi contabilizada a totalidade <strong>do</strong>s<br />
exemplares intactos e aqueles de maiores dimensões da totalidade das amostras<br />
estudadas. Os fragmentos de dimensões muito reduzidas, que somente se podiam<br />
pressupor pertencer a sementes não foram contabiliza<strong>do</strong>s.<br />
Para a classificação e tratamento estatístico de da<strong>do</strong>s biométricos <strong>do</strong>s grãos,<br />
espiguetas e glumas de cereais foram ti<strong>do</strong>s em conta diversos parâmetros métricos. Deste<br />
mo<strong>do</strong>, para as sementes calculou-se o comprimento (C), largura (L), espessura (E), e ainda<br />
os índices C/L, C/E, L/E, L/C*100 e E/L*100. Desta forma pretendia-se apreender as<br />
variabilidades existentes aos nível das proporções <strong>do</strong>s grãos em cada realidade<br />
arqueológica bem identificada assim como na totalidade <strong>do</strong> conjunto arqueobotânico e<br />
comparar com as chaves já existentes na bibliografia.<br />
No que respeita aos elementos das espiguetas foram segui<strong>do</strong>s, com valor<br />
diagnosticante os parâmetros de S. Jacomet (2006) completa<strong>do</strong>s por descrições de obras<br />
47
especificas direccionadas para estu<strong>do</strong>s em jazidas arqueológicas (Murphy, 1989; Van der<br />
Veen, 1987). Sempre que possível foi calculada a largura da base das glumas para<br />
comparações biométricas. Limitamo-nos a este parâmetro por ser o único que se conseguiu<br />
obter de forma sistemática entre as diferentes espécies identificadas.<br />
Para a realização <strong>do</strong> estu<strong>do</strong> antracológico, os fragmentos de carvão de dimensões<br />
superiores a 2mm foram secciona<strong>do</strong>s manualmente segun<strong>do</strong> as três secções de<br />
diagnóstico: transversal, radial e tangencial. A observação foi realizada com recurso ao<br />
microscópio óptico de luz reflectida.<br />
As imagens SEM (microscopia electrónica de varrimento), <strong>do</strong> tipo Fieldemission, foram<br />
realizadas no Centro de Materiais da <strong>Universidade</strong> <strong>do</strong> <strong>Porto</strong> (CEMUP), com recurso a um<br />
equipamento FEI, Quarta 400F.<br />
A identificação taxonómica foi realizada com recurso aos atlas anatómicos de F.<br />
Schweingruber (1990a; 1990b) e Vernet et al. (2001) ten<strong>do</strong>-se recorri<strong>do</strong> ainda a estu<strong>do</strong>s<br />
específicos para a identificação de fragmentos de género Quercus (Van Leeuwaarden, in<br />
prep.) e Erica (Queiroz, Van der Burgh, 1989) e à colecção de referência de cortes<br />
histológicos em montagem no Laboratório de Paleoecologia e Arqueobotânica <strong>do</strong> IPA.<br />
Quanto à unidade de medida, distinguem-se as abordagens da carpologia e da<br />
antracologia. No primeiro caso, o indivíduo é a unidade fundamental para contabilização,<br />
distinguin<strong>do</strong>-se claramente os elementos intactos ou aproximadamente intactos daqueles<br />
fragmenta<strong>do</strong>s. No caso especifico da espécie Vicia faba var. minor foi calcula<strong>do</strong> o numero<br />
mínimo de sementes com base na identificação <strong>do</strong> hilo.<br />
Para as análises antracológicas optou-se, neste estu<strong>do</strong>, pela utilização <strong>do</strong> nº de<br />
fragmentos como unidade de medida. Esta opção partiu de pesquisas a várias abordagens<br />
meto<strong>do</strong>lógicas descritas na bibliografia, e não de qualquer experimentação concreta.<br />
Estu<strong>do</strong>s comparativos têm demonstra<strong>do</strong> que o uso da massa, peso ou <strong>do</strong> nº de fragmentos<br />
oferecem resulta<strong>do</strong>s equivalentes (Uzquiano, 1997; Badal et al., 2003). Acrescente-se que o<br />
último apresenta uma maior rapidez de análise, sen<strong>do</strong> assim mais vantajoso para estu<strong>do</strong>s<br />
desta natureza. De qualquer mo<strong>do</strong>, as limitações que se considera existir na análise<br />
numérica linear <strong>do</strong>s teci<strong>do</strong>s lenhosos carboniza<strong>do</strong>s (vide supra) relativiza a escolha da<br />
unidade de medida, evidencian<strong>do</strong> o enfoque em aspectos qualitativos para os quais é mais<br />
significativa a indicação de presença de cada taxon.<br />
Seguin<strong>do</strong> este princípio a análise estatística realizada sobre os vestígios<br />
antracológicos fez-se segun<strong>do</strong> factores de presença-ausência nas amostras, sem incluir<br />
comparações da frequência de fragmentos. Este tipo de análise encontra inúmeros<br />
problemas, como se encontra bem exposto por Raquel Piqué i Huerta (1999), sen<strong>do</strong> claro<br />
48
que se apresenta mais eficaz para a comparação de contextos recolhi<strong>do</strong>s integralmente,<br />
sen<strong>do</strong> dúbia no que respeita a contextos parcamente amostra<strong>do</strong>s. Porém, parece evidente<br />
que o estu<strong>do</strong> estatístico recorren<strong>do</strong> ao número de carvões identifica<strong>do</strong>, de cada espécie,<br />
apresenta também essa mesma condicionante, entre outras mais.<br />
As análises estatísticas foram efectuadas somente sobre recolhas de referência Lab.,<br />
ten<strong>do</strong>-se cingi<strong>do</strong>, no caso <strong>do</strong>s materiais carpológicos, aos diversos tipos morfológicos de<br />
cereais, excluin<strong>do</strong> as espécies silvestres.<br />
Para a obtenção de gráficos de medidas de dispersão, em especial no estu<strong>do</strong> de<br />
cariopses e glumas de cereais, foram utiliza<strong>do</strong>s os programas SPSS 12.0 e o Excel<br />
(Win<strong>do</strong>ws XP, 2002). Optou-se por soluções gráficas de tipo Boxplot, histogramas, gráficos<br />
circulares (pie-charts) e quadros (com Média, Desvio-padrão, Mínimo e Máximo).<br />
A análise multivariada <strong>do</strong>s parâmetros Ecologia, Porte, Frequência de espécies e<br />
Biometria foi realizada com recurso ao programa CANOCO 4.52 (ter Braak & Šmilauer,<br />
2003). Como tal, foram efectuadas análises indirectas de gradiente (PCA - Principal<br />
Component Analysis) de forma a perceber a distribuição das espécies através da análise da<br />
sua quantidade nas amostras (no caso <strong>do</strong>s cereais), ou da sua presença ou ausência nestas<br />
(no caso <strong>do</strong>s carvões) e averiguar a possível existência de padrões de semelhança e<br />
dissemelhança entre amostras, apontan<strong>do</strong> os factores que mais contribuem para esse<br />
efeito. Através <strong>do</strong> mesmo tipo de análise indirecta de gradiente testaram-se ainda as<br />
classificações taxonómicas de cariopses através <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s biométricos disponíveis.<br />
Foram também realizadas análises directas de gradiente (RDA – Redundancy<br />
Analysis) com recurso ao mesmo programa, CANOCO 4.52, de mo<strong>do</strong> a averiguar os<br />
padrões de distribuição das amostras segregadas pelas variáveis explicativas, como sejam<br />
a ecologia e o porte.<br />
2.2.3. Nomenclatura e descrições<br />
A nomenclatura das espécies identificadas segue a proposta da Flora Ibérica.<br />
Contu<strong>do</strong>, no que respeita às espécies de cereais cultiva<strong>do</strong>s, por omissão na Flora Ibérica da<br />
grande parte <strong>do</strong>s cultivos que nos interessavam, segue-se a proposta de Zohary e Hopf<br />
(2000). Esta opção por uma obra específica da área da paleobotânica e não da sistemática<br />
botânica convencional poderá parecer discutível. Contu<strong>do</strong>, deve-se fazer notar que esta<br />
área científica, em articulação com estu<strong>do</strong>s genéticos, tem si<strong>do</strong> responsável pela revisão e<br />
sistematização de conhecimentos referentes às espécies e variantes cultivadas <strong>do</strong> género<br />
Triticum através <strong>do</strong> estu<strong>do</strong> da sua origem e evolução. A obra já clássica de Zohary e Hopf<br />
49
faz na sua terceira edição, de 2000, uma revisão acerca deste tema. De qualquer forma, a<br />
menção a espécies de cereais far-se-á sempre de forma abreviada.<br />
No que respeita à descrição de sementes e folhas foram seguidas obras genéricas de<br />
anatomia botânica, guias florísticos e ainda bibliografia específica de Arqueobotânica. Deste<br />
mo<strong>do</strong>, para a descrição das sementes e folhas de espécies selvagens foi de particular<br />
utilidade o atlas anatómico de sementes e frutos, de Berggren (1981). Recorreu-se ainda a<br />
diversos volumes da Flora Ibérica (Castroviejo, et al., 1990, e outras) e a Flora Europaea<br />
(Tutin et al., 1976), Nova Flora de Portugal (Franco, 1984) e Flora de Portugal (Coutinho,<br />
1939). As medidas apresentadas são de exemplares não carboniza<strong>do</strong>s.<br />
A descrição das cariopses e espiguetas de cereais realizou-se com o auxílio de obras<br />
específicas dessa área da arqueobotânica, salientan<strong>do</strong>-se as obras de S. Jacomet (2006),<br />
R. Buxo (1997) e J. Renfrew (1973) e diversos estu<strong>do</strong>s de jazidas (Murphy, 1989; Van der<br />
Veen, 1987). As medidas apresentadas correspondem a exemplares carboniza<strong>do</strong>s.<br />
De forma a garantir uma descrição mais adequada recorreu-se igualmente a<br />
dicionários e glossários tais como os de Font Quer (1985) e Harris e Harris (2004).<br />
Os termos utiliza<strong>do</strong>s na descrição <strong>do</strong>s tipos xilotómicos seguem a terminologia <strong>do</strong><br />
Committee on Nomenclature da International Association of Wood Anatomists (1964), na<br />
sua tradução portuguesa de M. Ferreirinha (1958) 4 . Contu<strong>do</strong>, nos termos que definem o tipo<br />
de porosidade é utilizada a proposta de A. Carvalho (1954-55) 5 .<br />
Acrescente-se ainda que o uso <strong>do</strong> termo “poros agrupa<strong>do</strong>s” surge de forma a englobar<br />
ambos os conceitos de “poros múltiplos” e “poros em cadeia”, frequentemente associa<strong>do</strong>s<br />
nas mesmas espécies.<br />
De resto, as descrições apresentadas efectuaram-se com base nos atlas anatómicos<br />
utiliza<strong>do</strong>s para o diagnóstico <strong>do</strong>s exemplares em estu<strong>do</strong>, assim como na observação da<br />
colecção de referência <strong>do</strong> Laboratório de Paleoecologia e Arqueobotânica <strong>do</strong> Instituto<br />
Português de Arqueologia.<br />
4<br />
As diferenças entre os <strong>do</strong>is volumes são subtis, apresentan<strong>do</strong>-se a publicação oficial <strong>do</strong> comité com uma<br />
tradução portuguesa da responsabilidade de investiga<strong>do</strong>res brasileiros. Por exemplo, essa versão propõe a<br />
utilização <strong>do</strong> termo “poro solitário”, invés de “poro isola<strong>do</strong>” de Ferreirinha (1958) e Albino Carvalho (1954-55),<br />
para além de óbvias diferenças de acentuação.<br />
5<br />
Esta opção traduz-se unicamente na substituição <strong>do</strong>s termos porosidade “anelar” e “subanelar” por “em anel” e<br />
“semi-difusa”.<br />
50
2.2.4. Descrição <strong>do</strong>s tipos xilotómicos<br />
T- Secção transversal<br />
Tn – Secção tangencial<br />
R – Secção radial<br />
Hedera helix L. ARALIACEAE<br />
T: Porosidade semi-difusa. Poros múltiplos (também poros em cadeia) maioritariamente em<br />
fiadas tangenciais.<br />
Tn: Raios com 4 a 8 células de largura, raramente mais estreitos; raios altos (com até 5mm<br />
de altura).<br />
R: Raios homogéneos (raramente heterogéneos). Perfurações simples. Pontuações<br />
radiovasculares grandes.<br />
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. BETULACEAE<br />
T: Porosidade semi-difusa. Poros isola<strong>do</strong>s ou em múltiplos de 2 a 8 (principalmente 3-4),<br />
dispostos em fiadas radiais.<br />
Tn: Raios unisseria<strong>do</strong>s (raramente bisseria<strong>do</strong>s) compri<strong>do</strong>s. Raios agrega<strong>do</strong>s. Pontuações<br />
intervasculares bem visíveis e abundantes.<br />
R: Raios homogéneos, raramente heterogéneos. Placas de perfuração escalariformes.<br />
Corylus avelana L. BETULACEAE<br />
T: Porosidade difusa a semi-difusa. Poros isola<strong>do</strong>s ou agrupa<strong>do</strong>s (com pre<strong>do</strong>mínio de poros<br />
múltiplos) em fiadas radiais. Raios agrega<strong>do</strong>s visíveis.<br />
Tn: Raios uniseria<strong>do</strong>s (raramente bi- e trisseria<strong>do</strong>s) com 10 a 25 células de altura.<br />
R: Raios maioritariamente heterogéneos, raramente homogéneos. Vasos com<br />
espessamentos espirala<strong>do</strong>s finos. Placas de perfuração escalariformes com 5 a 10<br />
barras.<br />
Cistus sp. CISTACEAE<br />
T: Porosidade semi-difusa. Poros pequenos e frequentes, maioritariamente isola<strong>do</strong>s.<br />
Tn: Raios uni- e bisseria<strong>do</strong>s (raramente trisseria<strong>do</strong>s). Espessamentos espirala<strong>do</strong>s visíveis e<br />
frequentes. Pontuações intervasculares frequentes.<br />
R: Raios heterogéneos. Perfurações simples.<br />
51
Arbutus une<strong>do</strong> L. ERICACEAE<br />
T: Porosidade semi-difusa, com inicio de anel de crescimento visível. Poros isola<strong>do</strong>s ou em<br />
grupos de 2 a 6, dispostos em fiadas radiais.<br />
Tn: Raios com 1 a 4 células de largura. Espessamentos espirala<strong>do</strong>s muito abundantes e<br />
espessos.<br />
R: Raios heterogéneos. Perfurações simples, raramente escalariformes.<br />
Erica arborea L. ERICACEAE<br />
T: Porosidade difusa. Poros com um diâmetro máximo de 80µm, isola<strong>do</strong>s ou em raros<br />
múltiplos radiais ou tangenciais.<br />
Tn: Raios unisseria<strong>do</strong>s com até 11 células de altura. Raios bisseria<strong>do</strong>s frequentes. Raios<br />
multisseria<strong>do</strong>s com até 8 células de largura e 40 células de altura.<br />
R: Raios heterogéneos. Placas de perfuração simples. Pontuações intervasculares muito<br />
pequenas e abundantes.<br />
Erica australis L. ERICACEAE<br />
T: Porosidade difusa. Poros com um diâmetro máximo de 50µm, isola<strong>do</strong>s ou em raros<br />
múltiplos (pares) radiais ou tangenciais.<br />
Tn: Raios unisseria<strong>do</strong>s com até 8 células de altura. Raios multisseria<strong>do</strong>s com até 8 células<br />
de largura (raios com menos de 3 células de largura raros) e 35 células de altura.<br />
R: Raios heterogéneos. Placas de perfuração simples.<br />
Nota: A separação entre os tipos xilomórficos Erica australis e E. arborea é bastante ténue.<br />
A dimensão máxima <strong>do</strong>s poros e a abundância de raios bisseria<strong>do</strong>s são os principais<br />
critérios de diagnóstico utiliza<strong>do</strong>s na distinção entre os <strong>do</strong>is tipos.<br />
Erica scoparia L. ERICACEAE<br />
T: Porosidade difusa. Poros com um diâmetro máximo de 60µm, isola<strong>do</strong>s ou em raros<br />
múltiplos (pares) radiais ou tangenciais.<br />
Tn: Raios unisseria<strong>do</strong>s com até 10 células de altura (usualmente 3-4 células de altura).<br />
Raios multisseria<strong>do</strong>s com até 4 células de largura e 20 células de altura.<br />
R: Raios heterogéneos. Placas de perfuração simples.<br />
52
Erica umbellata L. ERICACEAE<br />
T: Porosidade difusa. Poros com um diâmetro máximo de 45µm, maioritariamente isola<strong>do</strong>s.<br />
Tn: Raios unisseria<strong>do</strong>s com até 4 células de altura. Raios bi- e trisseria<strong>do</strong>s (raramente<br />
tetrasseria<strong>do</strong>s), com até 20 células de altura.<br />
R: Raios heterogéneos. Placas de perfuração simples.<br />
Nota: A distinção entre os tipos Erica umbellata e E. scoparia é difícil. E. umbellata<br />
apresenta poros menores e raios geralmente mais estreitos, com 2 ou 3 células de<br />
largura (em E. scoparia são frequentes os raios com 4 células de largura).<br />
Quercus coccifera tipo FAGACEAE<br />
T: Porosidade difusa. Poros pouco frequentes, isola<strong>do</strong>s dispostos em longas fiadas radiais.<br />
Raios multisseria<strong>do</strong>s pouco frequentes.<br />
Tn: Raios unisseria<strong>do</strong>s abundantes. Raios multisseria<strong>do</strong>s muito largos.<br />
R: Raios homogéneos, forma<strong>do</strong>s por células prostradas. Pontuações intervasculares e<br />
radiovasculares grandes. Perfurações simples.<br />
Nota: A distinção entre os tipos xilomórficos Q. coccifera e Q. suber é difícil, particularmente<br />
em fragmentos de pequena dimensão nos quais não é visível uma potencial zona de<br />
porosidade semi-difusa, característica <strong>do</strong> Q. suber.<br />
Quercus ilex tipo FAGACEAE<br />
T: Porosidade difusa. Poros abundantes, isola<strong>do</strong>s, dispostos radialmente em fiadas largas.<br />
Raios multisseria<strong>do</strong>s muito grandes frequentes.<br />
Tn: Raios unisseria<strong>do</strong>s abundantes. Raios multisseria<strong>do</strong>s muito largos.<br />
R: Raios homogéneos, forma<strong>do</strong>s por células prostradas. Pontuações intervasculares e<br />
radiovasculares grandes. Perfurações simples.<br />
Nota: A distinção entre Q. ilex e os restantes Quercus de folha perene é difícil em<br />
fragmentos de pequenas dimensões. Os poros em Q. ilex apresentam-se tipicamente<br />
em fiadas radiais largas, sem zonas de porosidade semi-difusa. A presença ocasional<br />
de zonas de porosidade semi-difusa em indivíduos atípicos, tal como observa<strong>do</strong> em<br />
alguns exemplares da xiloteca <strong>do</strong> LPA, torna impossível a separação destes casos <strong>do</strong><br />
tipo Q. suber.<br />
53
Quercus faginea tipo FAGACEAE<br />
T: Porosidade semi-difusa ou em anel. Poros. Concentração de poros grandes no início da<br />
camada de crescimento, forman<strong>do</strong> um anel descontínuo e distribuin<strong>do</strong>-se em<br />
conjuntos com disposição aproximadamente triangular. Poros diminuin<strong>do</strong> de dimensão<br />
ao longo da camada de crescimento.<br />
Tn: Raios unisseria<strong>do</strong>s abundantes. Raios multisseria<strong>do</strong>s muito largos.<br />
R: Raios homogéneos, forma<strong>do</strong>s por células prostradas. Pontuações intervasculares e<br />
radiovasculares grandes. Perfurações simples.<br />
Nota: A distinção entre os tipos Q. faginea e Q. pyrenaica é particularmente difícil. Apenas<br />
os Q. pyrenaica mais característicos, com uma única fiada de poros de Primavera, são<br />
claramente diferencia<strong>do</strong>s <strong>do</strong> Q. faginea que apresenta tipicamente uma transição<br />
menos abrupta para o lenho de Verão, com prolongamentos de poros de dimensãos<br />
considerável. O tipo xilomórfico Q. faginea deverá, assim, incluir exemplares Q.<br />
pyrenaica menos característicos.<br />
Quercus pyrenaica tipo FAGACEAE<br />
T: Porosidade em anel, com uma (mais raramente duas) fiadas de poros grandes no inicio<br />
da camada de crescimento. Poros de Verão pouco ou moderadamente frequentes.<br />
Raios multisseria<strong>do</strong>s muito largos frequentes.<br />
Tn: Raios unisseria<strong>do</strong>s abundantes. Raios multisseria<strong>do</strong>s muito largos.<br />
R: Raios homogéneos, forma<strong>do</strong>s por células prostradas. Pontuações intervasculares e<br />
radiovasculares grandes. Perfurações simples.<br />
Nota: A distinção entre os tipos Q. pyrenaica e Q. robur foi já tentada por outros autores<br />
(Vernet, et al., 2001), mas as características anatómicas em que se baseia a distinção<br />
proposta no trabalho referi<strong>do</strong> são insuficientes, dada a variabilidade existente entre as<br />
duas espécies, para permitir uma diferenciação credível. A separação entre estas duas<br />
espécies, com base na anatomia das suas madeiras não é, por ora, atingível pelo que<br />
o tipo xilotómico Q. pyrenaica aqui considera<strong>do</strong> inclui ambas. Deverá incluir ainda<br />
certamente Q. faginea menos característicos.<br />
Quercus suber tipo FAGACEAE<br />
T: Porosidade difusa ou semi-difusa. Anéis de crescimento pouco visíveis. Poros dispostos<br />
em longas fiadas radiais, com <strong>do</strong>is a quatro poros maiores no inicio <strong>do</strong> anel de<br />
crescimento. Poros diminuin<strong>do</strong> gradualmente de dimensão ao longo <strong>do</strong> lenho tardio<br />
(diminuição por vezes difícil de visualizar).<br />
54
Tn: Raios unisseria<strong>do</strong>s abundantes. Raios multisseria<strong>do</strong>s muito largos.<br />
R: Raios homogéneos, forma<strong>do</strong>s por células prostradas. Pontuações intervasculares e<br />
radiovasculares grandes. Perfurações simples.<br />
Nota: A distinção entre os tipos Q. suber e Q. coccifera não é simples e inequívoca e faz-se<br />
essencialmente pela existência em Q. suber de uma zona semi-difusa, por vezes<br />
pouco evidente, com 2-3 poros de maiores dimensões nas fiadas radiais de poros e<br />
uma zona sem poros no final da camada de crescimento. Estas mesmas<br />
características permitem distinguir também os tipos Q. suber e Q. ilex, este último<br />
apresentan<strong>do</strong> fiadas radiais de poros mais largas. A variabilidade da largura das fiadas<br />
radiais e disposição <strong>do</strong>s poros de maiores dimensões em ambas as espécies torna<br />
difícil, por vezes, a sua distinção, pelo que o tipo Q. suber deverá incluir exemplares<br />
atípicos de Q. ilex.<br />
Quercus perenifolia FAGACEAE<br />
Este grupo xilotómico inclui fragmentos que apresentam uma porosidade difusa, com os<br />
quais não foi possível efectuar uma identificação mais detalhada. Inclui Q. coccifera, Q.<br />
ilex e Q. suber.<br />
Quercus subgenus Quercus Oersted FAGACEAE<br />
Este grupo xilotómico inclui fragmentos que apresentam uma porosidade em anel, com os<br />
quais não foi possível efectuar uma identificação mais detalhada. Inclui Q. faginea, Q.<br />
pyrenaica e Q. robur.<br />
Juglans regia L. JUGLANDACEAE<br />
T: Porosidade difusa. Poros maioritariamente isola<strong>do</strong>s ou em grupos radiais de 2 a 4 poros.<br />
Tn: Raios com 1 a 6 células de largura (frequentemente 3 a 4) e 15 a 30 células de altura.<br />
R: Raios homogéneos e heterogéneos. Perfurações simples.<br />
Cytisus/Genista/Ulex LEGUMINOSAE<br />
T: Porosidade difusa ou semi-difusa. Grupos de 2 a 10 poros com orientação tangencial ou<br />
oblíqua, alternan<strong>do</strong> com bandas de teci<strong>do</strong> de suporte com fibras espessas.<br />
Parênquima paratraqueal abundante. Raios largos.<br />
55
Tn: Raios com 1 a 10 células de largura (principalmente 3 a 5). Raios multisseria<strong>do</strong>s muito<br />
altos, até 600µm de altura. Espessamentos espirala<strong>do</strong>s espessos muito frequentes.<br />
R: Raios homogéneos ou ligeiramente heterogéneos. Perfurações simples.<br />
Nota: Este tipo xilotómico abrange um grande número de espécies, incluídas em pelo<br />
menos três géneros de leguminosas. A grande variabilidade morfológica patenteada<br />
não permite uma identificação ao nível da espécie.<br />
Fraxinus angustifolia Valh OLEACEAE<br />
T: Porosidade em anel. Poros de Verão isola<strong>do</strong>s ou em pares radiais, mais raramente em<br />
conjuntos de três poros. Parênquima paratraqueal vasicêntrico (nem sempre<br />
claramente visível). Parênquima apotraqueal em bandas (frequentemente difícil de ver)<br />
no lenho tardio.<br />
Tn: Raios com 1 a 4 células de largura (maioritariamente 2 a 3), curtos (com 10 a 15 células<br />
de altura), normalmente fusiformes.<br />
R: Raios homogéneos, raramente heterogéneos. Pontuações abundantes. Perfurações<br />
simples.<br />
Pinus pinaster Aiton PINACEAE<br />
T: Madeira sem vasos. Presença de canais de resina. Anéis de crescimento visíveis.<br />
Transição mais ou menos abrupta entre o lenho inicial e o lenho tardio.<br />
Tn: Raios curtos, com até 10 células de altura. Raios com canais resiníferos presentes.<br />
R: Raios heterocelulares. Células marginais <strong>do</strong>s raios com paredes finas e fortemente<br />
denteadas. Campos de cruzamento radiovascular com cerca de 3 a 4 perfurações<br />
pequenas, aproximadamente circulares, simples, de tipo pinóide. Traqueí<strong>do</strong>s com<br />
grandes pontuações intervasculares circulares e areoladas, unisseriadas.<br />
Sorbus sp. ROSACEAE, MALOIDEAE<br />
R: Porosidade difusa. Poros com até 60µm de diâmetro, abundantes e isola<strong>do</strong>s, por vezes<br />
múltiplos (com até 5 poros).<br />
Tn: Raios bisseria<strong>do</strong>s, frequentemente também unisseria<strong>do</strong>s (raros trisseria<strong>do</strong>s).<br />
Espessamentos espirala<strong>do</strong>s finos e raros.<br />
T: Raios homogéneos e heterogéneos.<br />
56
Prunus spinosa L. ROSACEAE, PRUNOIDEAE<br />
R: Porosidade difusa a semi-difusa. Poros pouco frequentes, até 50µm de diâmetro, em<br />
múltiplos radiais (com até 6 poros), alguns múltiplos tangenciais no início da camada<br />
de crescimento (2 a 3 poros). Raios largos.<br />
Tn: Raios multisseria<strong>do</strong>s com até 8 células de largura (principalmente 4 a 6), com até<br />
550µm de altura. Raios unisseria<strong>do</strong>s curtos e pouco frequentes. Espessamento<br />
espirala<strong>do</strong> frequente e bem visível.<br />
T: Raios heterogéneos. Perfurações simples.<br />
Nota: Tipo morfológico difícil de distinguir de Prunus mahaleb, P. lusitanica (ambos com<br />
raios mais estreitos e curtos) e P. <strong>do</strong>mestica (com poros mais abundantes e múltiplos<br />
radiais com menos poros).<br />
Rosa sp. ROSACEAE, SPIRAEOIDEAE<br />
T: Porosidade em anel. Poros abundantes, isola<strong>do</strong>s ou agrupa<strong>do</strong>s tangencialmente.<br />
Transição entre lenho inicial e lenho tardio abrupta. Raios largos.<br />
Tn: Raios unisseria<strong>do</strong>s e raios multisseria<strong>do</strong>s com 5 a 20 células de largura. Raios altos, até<br />
10mm. Espessamentos espirala<strong>do</strong>s finos.<br />
R: Raios heterogéneos. Perfurações simples.<br />
Ulmus minor Miller ULMACEAE<br />
T: Porosidade em anel. Lenho inicial com uma a três fiadas de poros. No lenho tardio os<br />
poros surgem em grupos dispostos de forma tangencial a oblíqua, em bandas de 2 a 4<br />
poros rodea<strong>do</strong>s de células de parênquima paratraqueal alternadas com bandas de<br />
teci<strong>do</strong> de suporte.<br />
Tn: Raios multisseria<strong>do</strong>s, com 3 a 6 células de largura (raramente menores ou maiores).<br />
Altura <strong>do</strong>s raios entre 30 a 50 células. Vasos com espessamento espirala<strong>do</strong><br />
conspícuo.<br />
R: Raios homogéneos ou ligeiramente heterogéneos. Perfurações simples.<br />
57
2.2.5. Descrição <strong>do</strong>s frutos e sementes<br />
2.2.5.1. Espécies selvagens e leguminosas cultivadas<br />
cf. Aquilegia sp. RANUNCULACEAE<br />
Semente (descrição de Aquilegia vulgaris): oboval; vista transversal sub-quadrangular; faces<br />
laterais convexas. Margem adaxial com quilha mais larga na base da semente;<br />
margem abaxial arre<strong>do</strong>ndada. Comprimento: 2,1-2,8mm; largura: 1,1-1,6mm;<br />
espessura: 1-1,3mm.<br />
Anthemis cotula L. COMPOSITAE<br />
Cipsela: turbina<strong>do</strong>, ligeiramente contraídas no ápice. Dimensão: (1-) 1,3-1,8mm. Com 8 a 11<br />
costas tuberculadas ou verruculosas; sem papilho.<br />
Brassica sp. CRUCIFERAE<br />
Semente: esferoidal. Hilo circular a elíptico. Comprimento: 1-3,1mm; largura: 1-2,8mm.<br />
Cerastium sp. CARYOPHYLLACEAE<br />
Semente: género com sementes de grande variabilidade formal. Podem apresentar uma<br />
forma quase circular, oval, obovada e até triangular, varian<strong>do</strong> o grau de assimetria.<br />
Comprimento: 0,35-1,6mm; largura: 0,3-1,7mm; espessura: 0,3-0,9mm. Testa com<br />
ornamentação papilosa bem visível e saliente.<br />
Cistus sp. CISTACEAE<br />
Semente: Globoso-poliédrica. Cerca de 1-2mm de diâmetro. Rugosa.<br />
Erica sp. (exclui E. scoparia) ERICACEAE<br />
Folha: inteira, de margens revolutas cobrin<strong>do</strong> a totalidade da página inferior. Secção: página<br />
superior côncava. Comprimento: 1,3-9mm; largura: 0,3-0,8mm.<br />
58
Erica scoparia L. ERICACEAE<br />
Folha: inteira, de margens revolutas cobrin<strong>do</strong> apenas 2/3 da página inferior. Secção: página<br />
superior bicôncava. Comprimento: 3,5-10mm; largura: 0,6-1,1mm.<br />
Euphorbia helioscopia tipo EUPHORBIACEAE<br />
Semente: Sub-oval. Comprimento: 1,5-2,3mm; largura: 1,2-1,7mm. Ornamentação<br />
alveolada-reticulada.<br />
Nota: Tipo pouco caracteriza<strong>do</strong>. Na colecção de referência <strong>do</strong> LPA só Euphorbia pterococca<br />
Brot. e Mercurialis annua L. se assemelham com o tipo aqui descrito. Apresentam,<br />
contu<strong>do</strong>, diferenças tanto ao nível da dimensão como da ornamentação. E.<br />
amygdaloydes , muito comum no PNM-N, contém sementes lisas, por isso distintas da<br />
aqui apresentada.<br />
Gramineae Indeterminada - Lolium sp. GRAMINEAE<br />
Cariopse: oblonga, canaliculada, com extremidade inferior arre<strong>do</strong>ndada ou ligeiramente<br />
apontada, e extremidade superior truncada. Comprimento: 2,36-3,04mm; largura: 0,95-<br />
1,25mm. Encontrada com vestígios da lema e pálea.<br />
Polygonum aviculare L. POLYGONACEAE<br />
Aquénio: Oval (a losângico) com ápice triangular e ângulos obtusos. Trigonal. Comprimento:<br />
1,2-2,7mm; largura: 0,8-1,6mm; espessura: 0,6-1,3mm. Costa estreita mas saliente.<br />
Polygonum sp. lenticular POLYGONACEAE<br />
Aquénio: Oval ou elíptico, curta, com ápice curto e aponta<strong>do</strong>. Bifaceta<strong>do</strong>. Comprimento: 1,7-<br />
3mm; largura: 1,5-3mm; espessura: 0,5-1,5mm.<br />
Nota: Na área <strong>do</strong> PNM-N encontram-se, com sementes desta morfologia, as espécies<br />
Polygonum lapathifolium e P. persicaria.<br />
Portulaca oleracea L. PORTULACACEAE<br />
Semente. Sub-circular a oval. Comprimento: 0,6-1,2mm; largura até 1,1mm; espessura:<br />
cerca de 0,6mm. Testa ornamentada com tubérculos ou papilas, especialmente<br />
visíveis nas faces laterais.<br />
59
Quercus sp. FAGACEAE<br />
Glande: Oval a elíptico, por vezes apontada no ápice. Comprimento: 15-30mm; largura: 10-<br />
20mm. Testa rugosa com nervuras longitudinais por vezes profundas. Surge quase<br />
sempre fragmenta<strong>do</strong> longitudinal e lateralmente.<br />
Rumex crispus tipo POLYGONACEAE<br />
Aquénio: Oval ou oval-losângica, com ápice curto e aponta<strong>do</strong>. Trifacetada com la<strong>do</strong>s planos<br />
ou ligeiramente convexos. Com costa quase linear ou ligeiramente mais larga no<br />
centro. Comprimento: 1,3-2,7mm; largura: 0,8-1,7mm.<br />
Nota: Na área <strong>do</strong> PNM-N encontram-se, inseri<strong>do</strong>s neste grupo morfológico: Rumex crispus<br />
L., R. acetosa L., R. bucephalophorus L., R. conglomeratus Murray, R. obtusifolius L. e<br />
R. pulcher L. Estas espécies incluem-se no que Berggren (1981) denomina de Rumex<br />
subgenus Lapathum, com excepção de R. bucephalphorus, não descrito pela autora, e<br />
R. acetosa, espécie epónima de um subgenus que julgamos ser de difícil distinção<br />
face ao aqui descrito.<br />
Sambucus ebulus L. CAPRIFOLIACEAE<br />
Semente: oval. Comprimento até 3mm, largura até 2,1mm, espessura até 1,2mm. Testa<br />
rugosa.<br />
Vicia faba var. minor LEGUMINOSAE<br />
Semente: oblonga a sub-arre<strong>do</strong>ndada, com formas muito variáveis. Secção arre<strong>do</strong>ndada.<br />
Hilo lanceola<strong>do</strong>, de dimensões variáveis. Comprimento: 6-13mm; largura: até 6mm.<br />
2.2.5.2. Milhos<br />
Panicum miliaceum L.<br />
Cariopse: oval. Dimensão de grão carboniza<strong>do</strong>: 1,3-2,2mm. Escutelo largo atingin<strong>do</strong>, no<br />
máximo, metade <strong>do</strong> comprimento <strong>do</strong> grão.<br />
60
Setaria italica (L.) P. Beauv.<br />
Cariopse: arre<strong>do</strong>ndada. Dimensão de grão carboniza<strong>do</strong>: 1,1-1,7mm. Escutelo estreito<br />
atingin<strong>do</strong> 2/3 <strong>do</strong> comprimento <strong>do</strong> grão.<br />
2.2.5.3. Trigos<br />
Triticum aestivum (Triticum aestivum/durum)<br />
Tipo morfológico que inclui: Triticum aestivum subsp. vulgare (Vill) Mackey/ Triticum<br />
turgidum conv. durum (Desf.) Mackey/ Triticum turgidum conv. turgidum (L.) Mackey<br />
CARIOPSE<br />
Forma (plano <strong>do</strong>rsal): oval. Extremidades arre<strong>do</strong>ndadas a aplanadas (extremidade superior<br />
raramente apontada). Área <strong>do</strong> embrião é profunda.<br />
Perfil: Linha <strong>do</strong>rsal arre<strong>do</strong>ndada de forma aproximadamente simétrica; por vezes com uma<br />
saliência convexa. Linha ventral convexa, por vezes plana. Máxima espessura<br />
aproximadamente na zona central.<br />
Secção: Simetricamente arre<strong>do</strong>ndada. Sulco ventral largo e profun<strong>do</strong>.<br />
É consensual a impossibilidade da distinção entre as diferentes espécies de trigo nu<br />
englobadas neste tipo morfológico (Buxo, 1997; Buxo et al., 1997; Jacomet, 2006; Zohary e<br />
Hopf, 2000). Na bibliografia surgem várias designações, ten<strong>do</strong>-se generaliza<strong>do</strong> nos estu<strong>do</strong>s<br />
peninsulares a designação Triticum aestivum/durum de R. Buxo (1997).<br />
A fim de facilitar a sua leitura, no presente trabalho usaremos Triticum aestivum como<br />
uma abreviatura de Triticum aestivum/durum ou Triticum aestivum/turgidum (outra<br />
designação possível).<br />
Triticum compactum<br />
Triticum aestivum subsp. compactum (Host) Mackey<br />
CARIOPSE<br />
Forma (plano <strong>do</strong>rsal): arre<strong>do</strong>nda<strong>do</strong> ou ligeiramente oval. Extremidades arre<strong>do</strong>ndadas a<br />
aplanadas. Área <strong>do</strong> embrião profunda.<br />
Perfil: Linha <strong>do</strong>rsal arre<strong>do</strong>ndada de forma aproximadamente simétrica. Linha ventral<br />
convexa, por vezes plana. Máxima espessura aproximadamente na zona central.<br />
Secção: Simetricamente arre<strong>do</strong>ndada. Sulco ventral largo e profun<strong>do</strong>.<br />
61
Triticum dicoccum<br />
Triticum turgidum L. subsp. dicoccum (Schrank) Thell.<br />
CARIOPSE<br />
Forma (plano <strong>do</strong>rsal): Frequentemente estreito; extremidade superior ligeiramente apontada,<br />
mas também por vezes arre<strong>do</strong>ndada. Extremidade inferior (onde está o embrião)<br />
quase sempre apontada.<br />
Perfil: Linha <strong>do</strong>rsal convexa, por vezes fortemente marcada. Linha ventral ligeiramente<br />
côncava ou plana. Parte mais espessa perto <strong>do</strong> embrião ou a meio <strong>do</strong> grão. Cavidade<br />
<strong>do</strong> embrião frequentemente assimétrica.<br />
Secção: Arre<strong>do</strong>ndada, por vezes um pouco angulosa. Sulco ventral estreito e profun<strong>do</strong>.<br />
ESPIGUETA<br />
Gluma aproximadamente recta, com um ângulo na base. Entrenó estreito em relação à<br />
largura da espigueta. Ângulo entre as glumas muito aberto. Secção da gluma (antes da<br />
base): maciça, rectangular (menos espessa que T. monococcum mas mais maciça que<br />
T. spelta). Quilha primária visível. Quilha secundária visível. Com nervuras<br />
longitudinais visíveis.<br />
Largura da base da gluma: 0,7-(0,92)-1,1mm<br />
Triticum monococcum<br />
Triticum monococcum L. subsp. monococcum<br />
CARIOPSE<br />
Forma (plano <strong>do</strong>rsal): estreito, aponta<strong>do</strong> nas extremidades.<br />
Perfil: Com curvatura marcadamente convexa, semelhante em ambas as faces. Parte mais<br />
espessa <strong>do</strong> grão normalmente ao centro.<br />
Secção: Angulosa. Parte <strong>do</strong>rsal de aspecto aponta<strong>do</strong> mas com parte mais alta arre<strong>do</strong>ndada.<br />
Sulco ventral estreito e profun<strong>do</strong>.<br />
ESPIGUETA<br />
Gluma com curvatura marcada. Entrenó largo em relação à largura da espigueta. Ângulo<br />
entre as glumas fecha<strong>do</strong> (menos de 90º). Secção da gluma (antes da base): muito<br />
maciça, arre<strong>do</strong>ndada (mais espessa que T. dicoccum e T. spelta). Quilha primária<br />
muito visível. Quilha secundária muito visível. Normalmente sem nervuras longitudinais<br />
visíveis.<br />
Largura da base da gluma: 0,45-(0,65)-0,9<br />
62
Triticum spelta<br />
Triticum aestivum subsp. spelta (L.) Thell.<br />
CARIOPSE<br />
Forma (plano <strong>do</strong>rsal): Oval frequentemente com la<strong>do</strong>s quase paralelos. Extremidade<br />
superior arre<strong>do</strong>ndada a aplanada. Extremidade inferior aplanada, frequentemente<br />
apontada.<br />
Perfil: Linha <strong>do</strong>rsal simetricamente arre<strong>do</strong>ndada mas muito aplanada; linha ventral muito<br />
aplanada.<br />
Secção: Simetricamente arre<strong>do</strong>nda<strong>do</strong>. Sulco ventral estreito e profun<strong>do</strong>.<br />
ESPIGUETA<br />
Gluma com curvatura marcada. Entrenó um pouco largo em relação à largura da espigueta.<br />
Ângulo entre as glumas variável. Secção da gluma (antes da base): pouco maciça,<br />
arre<strong>do</strong>ndada a aproximadamente rectangular (menos espessa mas normalmente mais<br />
larga que T. monococcum e T. dicoccum). Quilha primária visível a pouco visível.<br />
Quilha secundária muito pouco visível. Com nervuras longitudinais muito visíveis e<br />
profundas.<br />
Largura da base da gluma: 1,1-(1,28)-1,4mm (medidas de S. Jacomet, 2006).<br />
Os valores da largura da base da gluma, acima apresenta<strong>do</strong>s, nem sempre são confirma<strong>do</strong>s<br />
em diversos contextos, onde as medidas testemunham uma maior variabilidade deste<br />
parâmetro. Esta variabilidade é mencionada por Van der Veen (1987) que apresenta<br />
diferentes valores de distintas jazidas arqueológicas <strong>do</strong> Centro e Norte da Europa:<br />
0,45- (0,95) -1,44mm; 0,95- (1,06) -1,44mm; 0,57- (1,0) -1,17mm.<br />
Triticum monococcum Triticum dicoccum Triticum spelta<br />
Triticum aestivum<br />
Triticum compactum<br />
C 4,5 - 7,1 3,5 - 6,1 4,7 - 8,4 3,4 - 7,0<br />
L<br />
E<br />
C/L<br />
C/E<br />
L/E<br />
L/C*100<br />
1,0 - 3,0<br />
(raramente > 2,5)<br />
1,6 - 3,1<br />
(raramente < 2,3)<br />
1,6 - 2,58<br />
(raramente < 2)<br />
1,77 - 2,5<br />
(raramente < 2)<br />
0,69 - 1,2<br />
(principalmente < 1)<br />
37,8 - 46,2<br />
(3)<br />
2,0 - 4,1 2,2 - 4,7<br />
1,5 - 3,4 1,7 - 3,3 2,0 - 4,0<br />
1,57 - 2,04<br />
(principalmente ± 2)<br />
1,57 - 2,5<br />
(principalmente 2 - 2,3)<br />
1,5 - 2,45<br />
2,1 - 3,09 (tipicos<br />
>2,5)<br />
1,07 - 1,73<br />
(T. compactum 65-70)<br />
Quadro 3.2. – Parâmetros biométricos de cariopses de Triticum spp. segun<strong>do</strong> S. Jacomet e<br />
colabora<strong>do</strong>res (2006).<br />
63
2.2.5.4 Cevadas<br />
Hordeum vulgare<br />
Hordeum vulgare L. subsp. vulgare<br />
CARIOPSE<br />
Forma (plano <strong>do</strong>rsal): semi-oval, com extremidades aplanadas.<br />
Perfil: semi-oval a ligeiramente aplana<strong>do</strong>. Ponto mais largo aproximadamente ao centro.<br />
Visíveis vestígios de lema e pálea.<br />
Secção: Angulosa, com laterais achatadas ou pouco arre<strong>do</strong>ndadas. Sulco ventral largo a<br />
muito largo e profun<strong>do</strong>.<br />
Jacomet e colabora<strong>do</strong>res (2006) propõem alguns elementos para a distinção entre<br />
cevada de seis carreiras e cevada de quatro carreiras a partir da morfologia da cariopse,<br />
contu<strong>do</strong> durante o presente estu<strong>do</strong> não foram considera<strong>do</strong>s critérios suficientes para um<br />
diagnóstico seguro:<br />
Hordeum hexastichum L. (cevada de seis carreiras)<br />
Grão mais arre<strong>do</strong>nda<strong>do</strong>: curto e largo.<br />
Índice Comprimento/Largura: menor que 1,8.<br />
Hordeum tetrastichum Körn (cevada de quatro carreiras)<br />
Grão estreito e mais oval.<br />
Índice Comprimento/Largura: maior que 1,8.<br />
A distinção entre estas duas cevadas pode ser conseguida através das lemas e <strong>do</strong><br />
ráquis (Jacomet, 2006; Buxo, 1997).<br />
Também se assume que não é possível uma distinção entre Hordeum vulgare L.<br />
subsp. vulgare (cevada de seis ou quatro carreiras) e Hordeum distichum (cevada de duas<br />
carreiras ) com base na morfologia da cariopse, apesar de R. Buxo (1997) apresentar a<br />
assimetria ou simetria <strong>do</strong> sulco central como elemento diagnosticante. Para o referi<strong>do</strong> autor,<br />
em H. vulgare o sulco ventral encontrar-se-ia desvia<strong>do</strong> <strong>do</strong> eixo central conferin<strong>do</strong> um<br />
aspecto mais assimétrico ao grão, enquanto que em H. distichum seria recto. Contu<strong>do</strong>,<br />
como referem Jacomet (2006) e Hubbard (1992), embora em H. distichum só existem grãos<br />
simétricos, em H. vulgare verifica-se uma proporção de <strong>do</strong>is grãos assimétricos para cada<br />
grão simétrico. Tal impossibilita o uso deste critério morfológico como elemento de distinção<br />
entre as cevadas em questão, permitin<strong>do</strong> apenas identificar os grãos assimétricos como H.<br />
vulgare.<br />
Em amostras de dimensão significativa a contabilização <strong>do</strong>s diferentes tipos<br />
morfológicos de cariopses existentes poderá determinar uma probabilidade estatística da<br />
64
presença de uma ou outra espécie. Desta forma, se existir uma quantidade de grãos<br />
simétricos superior aos assimétricos é provável que a amostra inclua grãos de H. distichum.<br />
2.3. Recolha de da<strong>do</strong>s etnobotânicos e ecológicos<br />
A pesquisa de da<strong>do</strong>s etnobotânicos referentes às espécies identificadas no estu<strong>do</strong><br />
carpológico e antracológico foi realizada na bibliografia da especialidade. Privilegiou-se, não<br />
obstante, as referências centradas na região em questão e áreas limítrofes, isto é, Trás-os-<br />
Montes e Alto Douro, tais como os trabalhos de Ana Carvalho (2005), José Ribeiro (2003),<br />
Ribeiro, Monteiro e Silva (2000) e as várias referências da obra organizada por Frazão-<br />
Moreira e Fernandes (2005). Acrescente-se algumas obras genéricas acerca de plantas<br />
medicinais e aromáticas (Juscafresa, 1995; Vasconcellos, 1949) e ainda uma referência<br />
específica de uma região bem distinta da transmontana, o Alentejo (Salgueiro, 2005), cuja<br />
inclusão foi assumida como a demonstração de um conhecimento geral das propriedades de<br />
diversas plantas em distintas regiões.<br />
A pesquisa respeitante às práticas agrícolas tradicionais privilegiou as referências<br />
bibliográficas, tanto de arqueologia como de antropologia.<br />
Esporadicamente foram acrescentadas informações relevantes através <strong>do</strong> contacto<br />
directo com as comunidades de agricultores locais actuais. Esse contacto visava a obtenção<br />
de informações respeitantes à gestão <strong>do</strong> território agrícola e o seu relacionamento e<br />
distanciamento face ao núcleo urbano, no entanto não se puderam ignorar da<strong>do</strong>s referentes<br />
tanto aos gestos inerentes às práticas agrícolas como às propriedades específicas de<br />
algumas espécies e a sua adequabilidade para determinadas funções. Não se tratan<strong>do</strong> de<br />
estu<strong>do</strong>s executa<strong>do</strong>s de forma sistemática, estes da<strong>do</strong>s não estão incluí<strong>do</strong>s nos respectivos<br />
quadros mas somente no texto.<br />
Os da<strong>do</strong>s ecológicos referentes às espécies identificadas no estu<strong>do</strong> arqueobotânico<br />
foram recolhi<strong>do</strong>s em obras da especialidade, das quais salientamos a tese de <strong>do</strong>utoramento<br />
de Carlos Aguiar, centrada no Parque Natural das Serras de Montesinho e Nogueira (PNM-<br />
N). Apesar <strong>do</strong> PNM-N se tratar de uma área geográfica e ecologicamente um pouco distinta<br />
da envolvência da Terronha de Pinhovelo, a obra de C. Aguiar é o estu<strong>do</strong> ecológico e<br />
fitossociológico mais aprofunda<strong>do</strong> acerca de uma área próxima ao local aqui em estu<strong>do</strong> e,<br />
naturalmente, uma obra de referência. Sempre que foi considera<strong>do</strong> necessário<br />
complementar as informações obtidas foram consultadas outras obras de referência<br />
(nomeadamente a Flora Ibérica editada por Castroviejo et al.).<br />
65
2.4. Arqueologia Espacial e análise eco-territorial<br />
Trata-se de um procedimento comum e, a nosso ver erróneo, encarar cada jazida<br />
arqueológica como uma entidade científica sem uma prévia existência à sua descoberta.<br />
Qualquer sítio arqueológico deve ser estuda<strong>do</strong> enquanto um espaço de vivências reais<br />
e não meramente como um objecto científico quase desumano, culturalmente e socialmente<br />
descontextualiza<strong>do</strong>. O local que actualmente designamos por Terronha de Pinhovelo antes<br />
de se tornar num elemento patrimonial de valor científico e cultural, isto é, um sítio<br />
arqueológico, foi uma povoação. Como tal, detinha um ambiente quotidiano próprio e era<br />
habita<strong>do</strong> por pessoas reais.<br />
Este local de habitação estava ainda incluí<strong>do</strong> num território paisagístico particular que,<br />
embora hoje obedeça a ritmos e pressões distintos, no passa<strong>do</strong> era frequenta<strong>do</strong> e explora<strong>do</strong><br />
pelos membros da comunidade da Terronha de Pinhovelo. Tentar compreender essa<br />
comunidade estudan<strong>do</strong> exclusivamente o local onde esta habitava e exercia alguns ofícios<br />
é, por certo, limita<strong>do</strong>r. Tal limitação torna-se mais evidente quan<strong>do</strong> se trata de uma<br />
comunidade que, à partida, deduzimos ser eminentemente rural, pratican<strong>do</strong> uma economia<br />
de subsistência e conectada com actividades agro-pastoris.<br />
Compreender hoje esse espaço <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> é tarefa difícil e deve passar por<br />
diferentes fases. Em primeiro lugar deve-se delimitar (teoricamente) o espaço da<br />
comunidade e devem ser identificadas as suas principais e actuais características (entre<br />
outras, a geologia, ecologia e a actual utilização <strong>do</strong>s recursos disponíveis). Em seguida, e<br />
na falta de sequências polínicas que providenciassem paleo-imagens regionais, devem ser<br />
analisadas as evidências dessa paisagem recolhidas no local de habitação a ser<br />
intervenciona<strong>do</strong>. Naturalmente que compreender o território antigo não implica,<br />
necessariamente, caracterizá-lo por completo.<br />
De facto, os da<strong>do</strong>s que detemos são usualmente fragmentários e limita<strong>do</strong>s mas<br />
fornecem uma base de estu<strong>do</strong> que pode ser completada com outros meios, nomeadamente<br />
as abordagens de ín<strong>do</strong>le etnográfica. Os da<strong>do</strong>s assim obti<strong>do</strong>s visam uma abordagem<br />
centrada na apropriação <strong>do</strong> espaço pelas comunidades humanas.<br />
No âmbito da Arqueologia Espacial, a tentativa de percepção <strong>do</strong> espaço explora<strong>do</strong><br />
pela comunidade da Terronha de Pinhovelo em época romana foi realizada através da<br />
Análise de Territórios de Exploração, procuran<strong>do</strong>-se deduzir quais as distâncias que cada<br />
comunidade está disposta a percorrer para adquirir os seus bens essenciais. Parte-se <strong>do</strong><br />
princípio (difícil de comprovar), de que uma povoação localiza-se num local sensivelmente<br />
central face aos recursos que necessita para a sua subsistência (Vilaça, 1995; Fernandez<br />
Martinez, Ruiz Zapatero, 1984).<br />
66
Segun<strong>do</strong> a bibliografia, para as comunidades de agricultores deduz-se que a área 1km<br />
em re<strong>do</strong>r da povoação deveria ser alvo de uma exploração intensiva. Essa exploração e<br />
consequente alteração paisagística deveriam diminuir de forma aproximadamente<br />
concêntrica face ao centro habitacional (Fernandez Martinez, Ruiz Zapatero, 1984).<br />
Contu<strong>do</strong>, o tempo de percurso ganha uma maior preponderância <strong>do</strong> que a distância<br />
geográfica (1km em terreno montanhoso pode traduzir-se numa distância impraticável para<br />
a manutenção e rentabilização de campos a agrícolas e respectivas produções). Como tal,<br />
foram elabora<strong>do</strong>s cálculos que permitissem ultrapassar essa questão.<br />
Segun<strong>do</strong> a fórmula de Naismith, calculan<strong>do</strong> que em terreno plano 10km correspondem<br />
a 2 horas de marcha acrescenta-se 30 minutos extra por cada variação de altitude de 300m.<br />
Em termos práticos numa carta militar 1:25 000 1cm corresponde a 3 minutos e cada curva<br />
de nível de 50m equivale a um extra de 5 minutos (Davidson, Bailey, 1984).<br />
Naturalmente, este é um modelo teórico e susceptível de inúmeras críticas (veja-se, a<br />
titulo de exemplo Fernandez Martinez, Ruiz Zapatero, 1984). Contu<strong>do</strong>, deve ser encara<strong>do</strong><br />
unicamente como uma ferramenta de trabalho que permite uma aproximação à realidade já<br />
de si demasia<strong>do</strong> complexa para ser perceptível unicamente através <strong>do</strong>s vestígios<br />
arqueológicos recolhi<strong>do</strong>s em escavação.<br />
De mo<strong>do</strong> a complementar estas possibilidades foi realizada uma pesquisa etnográfica<br />
com entrevistas nas aldeias em re<strong>do</strong>r da jazida arqueológica e, potencialmente, na área de<br />
captação de recursos da antiga povoação romana.<br />
As entrevistas realizadas a habitantes das aldeias mais próximas <strong>do</strong> sítio arqueológico<br />
para além de terem proporciona<strong>do</strong> uma melhor percepção <strong>do</strong> potencial agrícola <strong>do</strong>s terrenos<br />
da região permitiram também perceber alguns aspectos da organização <strong>do</strong>s trabalhos<br />
agrícolas por parte das sociedades rurais tradicionais.<br />
Desta forma, foi possível chegar à possibilidade de os terrenos agrícolas se<br />
localizarem a uma distância preferencial de 30-40 minutos face à povoação, e a uma<br />
distância máxima de uma hora.<br />
Estes conceitos já generaliza<strong>do</strong>s na bibliografia arqueológica devem, quanto a nós, ser<br />
conecta<strong>do</strong>s com um modelo que traduz de forma aproximada a complexidade desta<br />
organização concêntrica da envolvência das povoações rurais. Desenvolvi<strong>do</strong> por José<br />
Mateus (Mateus, 1990 e 2004; Mateus et al., 2003) este modelo de zonação eco-territorial<br />
identifica cinco unidades, os territórios Doméstico, Adjacente, Próximo, Periférico e Remoto.<br />
Trata-se de um modelo ecológico onde o grau de eco-artefactualização <strong>do</strong> território é dita<strong>do</strong><br />
essencialmente pela recorrência cíclica (de diferentes comprimentos de onda) de gestos de<br />
afeiçoamento de maior ou menor irreversibilidade na sucessão ecológica. Estas cinco<br />
67
unidades desenvolvem-se de forma centrípeta e correspondem a uma decrescente<br />
afectação e artefactualização da paisagem por parte das comunidades humanas:<br />
- Doméstico (casa): zona de eco-artefactualização profunda, de acesso e<br />
utilização diária. Captura da natureza, tanto de animais e plantas como <strong>do</strong>s<br />
próprios recursos hídricos.<br />
- Adjacente (horta): zona de eco-artefactualização intensiva, de acesso e uso<br />
semanal onde <strong>do</strong>minam as biocenoses culturais, em solos altera<strong>do</strong>s e<br />
trabalha<strong>do</strong>s. A paisagem encontra-se repartida e moldada em tesselas por<br />
sebes e muros.<br />
-Próximo (campo): zona de eco-artefactualização extensiva, de acesso e uso<br />
mensal, onde se verificam sistemas de pousio, queimada e estrumação. A<br />
paisagem encontra-se repartida e a propriedade delimitada de forma menos<br />
marcante. O ambiente físico sofre escassa modelação.<br />
- Periférico (charneca): zona de eco-artefactualização limitada, de acesso e uso<br />
sazonal. Área de carácter semi-natural, onde são geridas e favorecidas<br />
determinadas populações. Zona de pastoreio e caça.<br />
- Remoto (mata natural): zona sem eco-artefactualização (ou onde esta é quase<br />
nula), de acesso e utilização esporádica e efémera. Área de carácter<br />
natural.<br />
De qualquer forma, as três primeiras áreas, Doméstica, Adjacente e Próxima serão<br />
privilegiadas nesta abordagem, da<strong>do</strong> serem com maior probabilidade as que se encontram<br />
mais fortemente representadas nos vestígios paleobotânicos em análise. Por outro la<strong>do</strong>,<br />
visto ser claro que as povoações antigas não viviam isoladas, devemos considerar que os<br />
territórios Periféricos de umas poderiam ser os territórios Próximos de outras comunidades,<br />
de outras povoações o que exige um estu<strong>do</strong> arqueológico regional mais aprofunda<strong>do</strong>.<br />
68
IV. RESULTADOS<br />
1. A Terronha de Pinhovelo<br />
1.1. Contexto biogeográfico, paisagístico e geológico<br />
Administrativamente, a pequena elevação conhecida na bibliografia como Terronha de<br />
Pinhovelo e, localmente, também como Terronho ou Terronho de Pinhovelo localiza-se no<br />
distrito de Bragança, concelho de Mace<strong>do</strong> de Cavaleiros, junto ao limite Sul da freguesia de<br />
Amen<strong>do</strong>eira. Deve parte <strong>do</strong> seu nome à aldeia de Pinhovelo, antiga vila que se encontra no<br />
pequeno vale a Oeste e que é facilmente observada na íntegra a partir da jazida<br />
arqueológica. Corresponde às seguintes coordenadas geográficas:<br />
Latitude: 41º 32’ 31’’<br />
Longitude: 02º 08’ 33’’ W Greenwich<br />
Alt.: 693m<br />
A inexistência da respectiva folha da Carta Geológica de Portugal dificulta seriamente<br />
a caracterização da zona em estu<strong>do</strong>. Existem, contu<strong>do</strong>, alguns estu<strong>do</strong>s que focaram<br />
contextos mais abrangentes ou zonas próximas àquela aqui estudada.<br />
Num destes estu<strong>do</strong>s, Quadra<strong>do</strong>, et al. (1964) inserem esta região no que denominam<br />
de série transmontana. Esta série caracteriza-se pela presença de xisto epidótico,<br />
associan<strong>do</strong>-se-lhe quartzo, clorite, moscovite e calcite. O quartzo apresenta-se “em<br />
lentículas mais ou menos estiradas, de textura engrenada” exibin<strong>do</strong> “fenómenos de<br />
tectonização” (Quadra<strong>do</strong>, e tal, 1964).<br />
Já Maria Ribeiro (1991) refere a confluência na região de uma “Unidade <strong>do</strong>s Xistos<br />
Verdes e quartzo-filádicos” e um “Complexo Vulcano-Silicioso” onde para além das<br />
formações vulcânicas, contam-se formações constituídas por material sedimentar.<br />
A região transmontana é usualmente subdividida, <strong>do</strong> ponto de vista bioclimático em<br />
cinco regiões: Terra Fria de Alta Montanha, Terra Fria de Montanha, Terra Fria de Planalto,<br />
Terra de Transição e Terra Quente. Do mesmo mo<strong>do</strong>, a região divide-se em cinco <strong>do</strong>mínios<br />
fitogeográficos: o sub-atlântico, oro-atlântico, pirenaico-cantábrico ou leonês, iberomediterrâneo<br />
e sub-mediterrâneo. Só os últimos três estão presentes no Nordeste<br />
transmontano (Agroconsultores e Coba, 1991).<br />
A povoação romana da Terronha de Pinhovelo localiza-se numa zona de contacto<br />
entre as regiões naturais de Bragança e Bornes-Sabor, isto é, entre a Terra de Transição<br />
(entre 400/500m e 600/700m) e a Terra Fria de Planalto (entre 600/700m e 900/1000m).<br />
69
Figura 4.1. – Localização da Terronha de Pinhovelo na CMP (folhas 63, 64, 77, 78) e delimitação <strong>do</strong><br />
território teórico de 30 minutos<br />
70
A jazida arqueológica encontra-se a uma cota máxima de 693m, sen<strong>do</strong> sombreada a<br />
Norte pelo alto das Raposeiras com altitude de 726m e <strong>do</strong>minada a SW, depois <strong>do</strong> vale da<br />
aldeia de Pinhovelo, pela Serra de Pinhovelo, ou de Palas, a 775m.<br />
A Região de Bornes-Sabor é <strong>do</strong>mínio <strong>do</strong> carvalho-negral (Quercus pyrenaica), <strong>do</strong><br />
carvalho-cerquinho (Quercus faginea) e da azinheira (Quercus ilex subsp. ballota). Conta<br />
também com a presença de zimbros (Juniperus oxicedrus) e com frequentes povoamentos<br />
de sobreiros. Os matos são <strong>do</strong>mina<strong>do</strong>s por esteva (Cistus ladanifer), rosmaninho (Lavandula<br />
pedunculata), tomilho (Thymus mastichina), trovisco (Daphne gnidium) e menos<br />
frequentemente por urzes (Erica australis) e carqueja (Chamaespartium tridentatum). A<br />
agricultura é <strong>do</strong>minada pelo olival, o centeio e o trigo, o milho e a batata. Contam-se ainda<br />
os soutos, pomares (macieiras e cerejeiras) e vinha.<br />
A Região de Bragança é <strong>do</strong>mínio <strong>do</strong>s carvalhais de carvalho-negral, e <strong>do</strong> castanheiro<br />
(Castanea sativa). São abundantes os povoamentos de pinheiros (Pinus pinaster) e<br />
vi<strong>do</strong>eiros (Betula celtiberica). Na zona Oriental, fora da área de estu<strong>do</strong>, a azinheira é muito<br />
abundante. Os matos são <strong>do</strong>mina<strong>do</strong>s pelas urzes (Erica australis e Erica tetralix),<br />
Chamaespartium tridentatum, Halimium allyssoides, Calluna vulgaris, Rosa canina, Rosa<br />
micrantha, giestas (Cytisus spp. e Genista spp.) e tojos (Ulex spp.) Pre<strong>do</strong>mina a agricultura<br />
<strong>do</strong> centeio e trigo.<br />
A Terronha de Pinhovelo encontra-se numa região com os seguintes da<strong>do</strong>s climáticos<br />
(valores de 1951-1980) (Agroconsultores e Coba, 1991):<br />
- Temperatura média anual de 12 a 14ºC;<br />
- Temperatura máxima média anual de 18ºC<br />
- Temperatura mínima média anual de 7ºC<br />
- Precipitação média anual de 600mm<br />
- Classificação climática de Thornthwaite: moderadamente húmi<strong>do</strong><br />
1.1.1. O território imediato<br />
A escolha <strong>do</strong> território ao alcance de trinta minutos como base de estu<strong>do</strong> segue as<br />
propostas existentes na bibliografia da especialidade, já mencionada anteriormente.<br />
Considera-se aqui que os trinta minutos de caminhada definiriam o território mais<br />
comummente explora<strong>do</strong> e, por isso, provavelmente mais representa<strong>do</strong> nas amostras de<br />
macro-restos recolhidas em escavação. Não obstante, parece-nos claro que a comunidade<br />
que habitava na Terronha de Pinhovelo de mo<strong>do</strong> algum circunscrevia as suas actividades<br />
produtivas e mesmo de lazer ao território aqui defini<strong>do</strong>.<br />
71
De mo<strong>do</strong> a averiguar a validade <strong>do</strong>s modelos de arqueologia espacial foram realizadas<br />
entrevistas nas aldeias da proximidade. A generalidade das pessoas entrevistadas referiu<br />
que os terrenos cultiva<strong>do</strong>s se localizavam, na sua maioria, a uma distância não superior a<br />
trinta minutos de caminhada. Contu<strong>do</strong>, embora sejam casos raros, havia também quem<br />
tivesse terrenos mais distantes, a quarenta minutos e até a uma hora de caminhada.<br />
Também a delimitação <strong>do</strong>s próprios territórios foi testada, ten<strong>do</strong>-se efectua<strong>do</strong> <strong>do</strong>is<br />
percursos de meia hora a partir <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>. Estes privilegiaram a utilização de caminhos e<br />
trilhos, invés de percursos em linha recta, partin<strong>do</strong> <strong>do</strong> pressuposto que em tempos antigos a<br />
circulação também seria efectuada desta forma (embora certamente não por estes<br />
caminhos), contornan<strong>do</strong> campos cultiva<strong>do</strong>s e outros obstáculos. Os percursos, para<br />
Noroeste e Sul permitiram ultrapassar o território teórico apresenta<strong>do</strong> neste estu<strong>do</strong> em<br />
menos de 500m, pelo que não se considera suficiente para inviabilizar a proposta aqui<br />
apresentada. Saliente-se, mais uma vez, que não se pretende delimitar territórios concretos<br />
de cariz administrativo mas somente áreas de exploração preferencial.<br />
O território de meia hora de caminhada da Terronha de Pinhovelo caracteriza-se por<br />
ser bastante acidenta<strong>do</strong> (ver figura 4.1.). A Norte surge imponente a elevação das<br />
Raposeiras, seguida de uma zona aplanada e depois de um vale profun<strong>do</strong> que delimita o<br />
território de 30 minutos, aí e a Nordeste e Este (na verdade o cálculo coloca o limite<br />
imediatamente na outra margem da Ribeira de Travanca).<br />
A Oeste e Noroeste e Su<strong>do</strong>este a Serra de Pinhovelo ou Serra das Palas, mais<br />
elevada que a TP quebra-lhe a visibilidade e constitui-se como um limite físico transponível<br />
mas que exige esforço e tempo. Antecede-lhe o fértil vale onde se localiza a actual aldeia de<br />
Pinhovelo. Este vale prolonga-se para Norte, permitin<strong>do</strong> contornar a elevação referida, em<br />
direcção à aldeia de Vale Pradinhos.<br />
É a Sul e Sudeste de TP que são encontradas as principais aberturas deste território<br />
para a região. A Sul contorna-se facilmente a elevação das Fragas <strong>do</strong> Ginso, entre estas e a<br />
serra <strong>do</strong> Facho, até ao vale da ribeira de Travanca e à depressão de Mace<strong>do</strong>. A Sudeste,<br />
antes da referida elevação, uma zona de fácil circulação através <strong>do</strong> actual bairro de<br />
Travanca permite chegar às zonas mais planas que caracterizam a depressão de Mace<strong>do</strong>.<br />
Os limites <strong>do</strong> território de 30 minutos fazem-se na ribeira de Travanca, a Sudeste, e junto às<br />
Fragas <strong>do</strong> Ginso e início da serra <strong>do</strong> Facho, a Sul.<br />
A região sumariamente descrita acima encontra-se, hoje em dia, visivelmente<br />
antropizada. De facto, não foram encontradas áreas onde a acção <strong>do</strong> Homem não tivesse<br />
altera<strong>do</strong> significativamente a paisagem. A forma como as comunidades mais recentes têm<br />
utiliza<strong>do</strong> estes terrenos aparece caracterizada no mapa da figura 4.2.<br />
72
Neste mapa, as cores traduzem a presente ocupação <strong>do</strong>s solos, seja com formações<br />
naturais ou cultivos, cuja descrição muito breve se encontra na legenda. As letras<br />
correspondem a espécies que são encontradas em zonas cuja representação em cor não<br />
traduz a sua presença. Por exemplo, terá um significa<strong>do</strong> ecológico diferente que uma área<br />
representada com a cor amarela (campos de cereais aban<strong>do</strong>na<strong>do</strong>s) esteja rodeada de<br />
carvalhos-negrais ou de sobreiros e azinheiras. Os números representam outras formações<br />
de pequena extensão e sem representatividade em mapa, como bordas de caminho ou<br />
galerias ripícolas.<br />
Dominam claramente os terrenos aban<strong>do</strong>na<strong>do</strong>s onde erve<strong>do</strong>s secos e charnecas<br />
crescem, segui<strong>do</strong> <strong>do</strong>s sobreirais, olivais e soutos de castanheiros. São também abundantes<br />
as áreas de giestais. É, assim, fácil perceber que nas últimas décadas os trabalhos<br />
agrícolas tornaram-se mais raros e os campos foram sen<strong>do</strong> aban<strong>do</strong>na<strong>do</strong>s devi<strong>do</strong> quer à<br />
emigração e migração que roubaram mão-de-obra e conduziram a um níti<strong>do</strong> envelhecimento<br />
na classe de agricultores da região, quer ainda à falta de rentabilidade para os pequenos<br />
produtores, da<strong>do</strong> o preço da mão-de-obra e o preço de escoamento <strong>do</strong>s produtos. Como<br />
consequência, são muito raros os campos de cereal ainda semea<strong>do</strong>s na zona.<br />
Mas há cerca de cinco décadas as coisas eram bastante diferentes. As informação<br />
adquiridas entre os habitantes locais permitem perceber que a área envolvente da aldeia de<br />
Pinhovelo possui terrenos muito férteis e de elevada produtividade. Em tempos antigos a<br />
economia da terra era baseada essencialmente no cultivo <strong>do</strong> cereal, principalmente o trigo.<br />
Cultivava-se cereal em quase todas as terras: junto ao rio, em zonas aplanadas, nas<br />
encostas, no topo das elevações, e até entre os sobreiros <strong>do</strong>s monta<strong>do</strong>s da serra que<br />
sombreia a aldeia a Oeste.<br />
O trigo era o cereal mais cultiva<strong>do</strong>, segui<strong>do</strong> <strong>do</strong> centeio. A cevada era plantada<br />
ocasionalmente. Desta forma, os melhores terrenos eram para o trigo. O centeio, menos<br />
exigente, era planta<strong>do</strong> no topo das encostas. De qualquer forma, foi-me referi<strong>do</strong> que os<br />
terrenos suportavam os <strong>do</strong>is cereais. Nos anos de pousio plantava-se a batata.<br />
O olival ocupava uma área diminuta <strong>do</strong>s terrenos disponíveis mas os subsídios<br />
atribuí<strong>do</strong>s ao plantio da oliveira vieram mudar bastante a paisagem transmontana. De facto,<br />
os entrevista<strong>do</strong>s foram unânimes a referir que os terrenos de olival de hoje eram quase na<br />
sua totalidade campos de cereal.<br />
Actualmente, os sobreiros são uma fonte de rendimento muito importante. Foi me dito<br />
na aldeia que a cortiça, retirada em cada nove anos, consiste no produto mais rentável para<br />
os agricultores e silvicultores de Pinhovelo.<br />
75
Por entre o complexo mosaico resultante de trabalhos agrícolas passa<strong>do</strong>s e presentes<br />
é possível vislumbrar alguns da<strong>do</strong>s relevantes no que respeita à distribuição da vegetação<br />
natural na paisagem. Com alguma frequência os únicos da<strong>do</strong>s foram adquiri<strong>do</strong>s nas<br />
margens de caminhos ou ribeiras, limites de propriedades e zonas possivelmente<br />
aban<strong>do</strong>nadas há mais tempo.<br />
Parte da própria elevação da TP, em especial a actual plataforma principal onde<br />
decorreram os trabalhos arqueológicos, foi outrora um campo de cereal, estan<strong>do</strong> <strong>do</strong>mina<strong>do</strong><br />
por um pequeno pra<strong>do</strong>. Na sua borda abundam as estevas e as giestas-brancas e giestasamarelas,<br />
as espécies de giestas mais frequentes em toda a região. Nas zonas onde o<br />
terreno se encontra coberto de pedras, não sen<strong>do</strong> apto para o cultivo, <strong>do</strong>minam o carvalhocerquinho,<br />
e a azinheira, contan<strong>do</strong>-se também o freixo, raros pilriteiros, e um único<br />
castanheiro.<br />
A Norte, a elevação das Raposeiras é <strong>do</strong>minada por um amplo giestal. Entre este,<br />
ocorrem frequentes carvalhos-cerquinho, em especial na vertente Sul e no topo da<br />
elevação. Na plataforma Norte deste monte surgem alguns carvalhos-negral, rarean<strong>do</strong> os<br />
anteriores enquanto que na encosta Oeste e Su<strong>do</strong>este encontra-se um amplo campo<br />
aban<strong>do</strong>na<strong>do</strong>. No limite Nordeste das Raposeiras e além desta elevação, junto ao vale,<br />
continuam os campos aban<strong>do</strong>na<strong>do</strong>s, surgin<strong>do</strong> também a maior área de pinhal deste<br />
território.<br />
Nos fun<strong>do</strong>s e partes mais baixas das encostas <strong>do</strong> quadrante Noroeste <strong>do</strong>minam as<br />
charnecas, identifican<strong>do</strong>-se frequentes freixos, sobreiros, azinheiras, carvalhos-cerquinho e<br />
giestas (que aqui não se constituem como formações extensas mas estão também nos<br />
limites de propriedades <strong>do</strong>minadas por gramíneas). Foi nesta zona que se identificaram as<br />
últimas searas ainda em exploração.<br />
Junto a Pinhovelo localizam-se, como é natural, as hortas, mas também os antigos<br />
campos de cereal, olivais e pomares onde <strong>do</strong>mina a cerejeira, sen<strong>do</strong> mais rara a nogueira.<br />
A serra de Pinhovelo ou de Palas <strong>do</strong>mina toda a área Oeste <strong>do</strong> território de trinta<br />
minutos de TP. O sobreiral é, aqui, a formação pre<strong>do</strong>minante. O sobreiro encontra-se em<br />
quase to<strong>do</strong>s os pontos da encosta, ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong>, inclusive, a única árvore a subsistir nas áreas<br />
<strong>do</strong>s soutos, certamente devi<strong>do</strong> à sua importância económica.<br />
O Quercus pyrenaica surge sub-representa<strong>do</strong> na paisagem actual desta região e tal é<br />
particularmente notório na serra de Palas. Quase no topo, o carvalho-negral surge<br />
sombrea<strong>do</strong> pelo sobreiral de altitude como uma espécie minoritária, frequentemente num<br />
esta<strong>do</strong> arbustivo ou como pequena árvore. Por outro la<strong>do</strong>, na formação arbustiva<br />
identificada no mapa pela cor azul-clara, o Q. pyrenaica surge entre giestas, estevas,<br />
pinheiros bravos, azinheiras e carvalhos-cerquinho, mas naturalmente só na metade<br />
superior da encosta.<br />
76
Na parte Sul <strong>do</strong> território pre<strong>do</strong>minam os campos aban<strong>do</strong>na<strong>do</strong>s, com erve<strong>do</strong>s e<br />
charnecas, os olivais e um mato baixo de giestas e rosmaninho com ocasionais sobreiros e<br />
azinheiras. Este último, assim como os olivais, prolongam-se para Este, para o termo de<br />
Travanca. De resto, a zona Este é <strong>do</strong>minada por uma ampla área pouco arborizada, onde<br />
pequenos sobreiros, azinheiras, carvalhos-cerquinho e freixos coexistem com giestas,<br />
estevas e rosmaninho.<br />
Embora não tenham si<strong>do</strong> detectadas zonas de medronhais, esta espécie foi<br />
identificada, entre azinheiras, nas encostas Oeste e Sul <strong>do</strong> próprio sítio arqueológico.<br />
Por fim, no que à vegetação ribeirinha diz respeito, o freixo é claramente a espécie<br />
<strong>do</strong>minante. É acompanhada, nas galerias ripícolas, pelo ulmeiro e, em menor medida, pelo<br />
choupo-negro. Com o freixo surgem frequentemente os sobreiros e carvalhos-cerquinho que<br />
aí se refugiam, nos limites <strong>do</strong>s lameiros.<br />
Por fim, refira-se que existem, no território de trinta minutos, abundantes fontes de<br />
abastecimento de água. Para além das frequentes linhas de água da região, algumas<br />
sazonais, regista-se uma bica de água entre o sopé NE da Terronha e o sopé de<br />
Raposeiras, ou seja, a cerca de cinco minutos <strong>do</strong> centro <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>. Acrescenta-se ainda<br />
que elementos da população local mencionaram a existência de uma fonte no próprio<br />
cabeço da Terronha, junto ao actual Sector A. Esta estaria já destruída e soterrada pelo que<br />
não é possível comprovar a sua presença. Porém, as constantes diferenças da vegetação<br />
<strong>do</strong> local durante o perío<strong>do</strong> de Verão parecem confirmar a informação.<br />
1.2. Implantação da jazida: aspectos estratégicos<br />
A escolha da elevação actualmente conhecida como Terronha de Pinhovelo para o<br />
estabelecimento de uma povoação em tempos, pelo menos, proto-históricos ter-se-á devi<strong>do</strong><br />
à possibilidade de satisfação, a partir deste local, de exigências respeitantes a duas<br />
condições básicas de existência: defesa e subsistência. Uma estratégica posição de<br />
<strong>do</strong>mínio paisagístico e facilidade de defesa aliava-se à existência de água e de terrenos<br />
férteis em extensão suficiente para permitir a auto-suficiência da comunidade.<br />
De um ponto de vista geo-estratégico o posicionamento desta ocupação humana neste<br />
local permitia um controlo visual significativo sobre a depressão de Mace<strong>do</strong>. Este vale,<br />
localiza<strong>do</strong> a Este da Terronha de Pinhovelo, é parte integrante da grande falha Manteigas-<br />
Vilariça-Sanábria, importante acidente tectónico que marca bem a paisagem. Esta terá<br />
constituí<strong>do</strong> uma parcela particularmente fértil assim como um corre<strong>do</strong>r de circulação<br />
privilegia<strong>do</strong> de orientação aproximada Sul-Norte que atravessa grande parte <strong>do</strong> centro-<br />
77
interior <strong>do</strong> país (a Beira Alta) e toda a região de Trás-os-Montes Oriental. Na zona de<br />
estu<strong>do</strong>, este vale é ladea<strong>do</strong> a Este pela Serra de Bornes e a Oeste por um conjunto de<br />
pequenas elevações que se posicionam ligeiramente a Sul da Serra da Nogueira. Uma<br />
destas elevações é a Terronha de Pinhovelo.<br />
De facto, em frente da Terronha de Pinhovelo, <strong>do</strong> outro la<strong>do</strong> <strong>do</strong> grande vale, a Serra<br />
de Bornes <strong>do</strong>mina, de forma indiscutível, a paisagem. Neste acidente orográfico localiza-se<br />
o povoa<strong>do</strong> da Fraga <strong>do</strong>s Corvos onde foi identificada uma estrutura interpretada como<br />
muralha. Tal estrutura foi enquadrada, pelos investiga<strong>do</strong>res responsáveis, num momento da<br />
Idade <strong>do</strong> Ferro e/ou Bronze final, visto que as escavações arqueológicas que aí decorrem<br />
desde 2003 para além de materiais destes perío<strong>do</strong>s, descontextualiza<strong>do</strong>s por acções<br />
destrutivas no povoa<strong>do</strong>, somente colocaram a descoberto ocupações <strong>do</strong> Bronze Pleno. Por<br />
ora não se considera a possibilidade de a construção da dita estrutura defensiva se integrar<br />
nessa fase mais antiga de ocupação da elevação (Senna-Martinez, et al., 2006 e 2005).<br />
Por outro la<strong>do</strong>, mais a Norte, mas também no extremo Este da depressão de Mace<strong>do</strong><br />
encontra-se o Castro de S. Marcos. Este pequeno cabeço nunca foi alvo de qualquer<br />
intervenção arqueológica para além de prospecção de superfície. Pressupõe-se tratar-se de<br />
um povoa<strong>do</strong> da Idade <strong>do</strong> Ferro (Mendes, 2005). A relevância desta referência deve-se ao<br />
facto de este povoa<strong>do</strong> se posicionar já além <strong>do</strong> limite Norte da Serra de Bornes, no ponto<br />
onde um vale se abre para Este, atravessan<strong>do</strong> o limite desta serra e abrin<strong>do</strong> o vale de<br />
Mace<strong>do</strong> à região Oriental <strong>do</strong> concelho de Mace<strong>do</strong> de Cavaleiros. Nesta zona, a par de<br />
vestígios históricos mais recentes, como a aldeia de Chacim, encontram-se diversos<br />
vestígios da ocupação romana e pré-romana <strong>do</strong> território <strong>do</strong>s Zoelae (Barranhão, Tereso,<br />
2006; Mendes, 2005).<br />
Ao conjunto destes três povoa<strong>do</strong>s, Fraga <strong>do</strong>s Corvos, Castro de S. Marcos e Terronha<br />
de Pinhovelo, juntam-se referências da tradição oral que apontam para a existência de<br />
ocupações pré-romanas noutros cabeços da região envolvente da Terronha e da depressão<br />
de Mace<strong>do</strong>.<br />
Desta forma, pode-se pressupor a existência de uma organização, de natureza ainda<br />
desconhecida, de vários povoa<strong>do</strong>s em torno deste vale, em época proto-histórica. Tal<br />
articula-se com a possibilidade apontada por quase to<strong>do</strong>s os autores, que se focaram no<br />
estu<strong>do</strong> das fronteiras territoriais e étnicas <strong>do</strong>s povos pré-romanos, de a serra de Bornes<br />
constituir o limite Sul <strong>do</strong> território <strong>do</strong>s Zoelae (vide supra). A confirmar-se esta possibilidade,<br />
a depressão de Mace<strong>do</strong> seria um ponto de entrada privilegia<strong>do</strong> para o mesmo, permitin<strong>do</strong><br />
contornar a serra de Bornes para depois, através <strong>do</strong>s diversos vales laterais, se poder<br />
aceder ao restante território.<br />
Tal como o Castro de S. Marcos controla uma dessas passagens laterais, para Este, a<br />
Terronha de Pinhovelo posiciona-se junto a <strong>do</strong>is pequenos vales que deveriam constituir<br />
78
zonas de passagem para as regiões a Noroeste. Esta elevação proporciona igualmente um<br />
amplo <strong>do</strong>mínio visual sobre o vale de Mace<strong>do</strong> constituin<strong>do</strong>-se, a par com a Fraga <strong>do</strong>s<br />
Corvos, como o povoa<strong>do</strong> fortifica<strong>do</strong> mais meridional <strong>do</strong> povo em questão.<br />
Apesar de a investigação arqueológica ser ainda incipiente, é possível, perante estas<br />
evidências arriscar a existência de uma organização de cariz defensivo a um nível regional.<br />
E é também (ainda que não apenas) neste prisma que se pode compreender a escolha da<br />
Terronha de Pinhovelo para o estabelecimento de uma comunidade humana.<br />
Também como estratégia defensiva, mas neste caso, especifica à própria povoação,<br />
terá contribuí<strong>do</strong> para a escolha da Terronha de Pinhovelo como local de habitação não só o<br />
facto de apresentar uma plataforma sensivelmente regular e alongada mas, principalmente,<br />
as suas condições naturais de defesa.<br />
A elevação apresenta a Oeste, orientadas para o vale da aldeia de Pinhovelo,<br />
escarpas abruptas que tornam muito difícil o acesso ao povoa<strong>do</strong> através desse ponto.<br />
A Sul, a Norte e a Este o acesso encontrar-se-ia facilita<strong>do</strong> pelo carácter mais ou<br />
menos suave <strong>do</strong> declive. Deste mo<strong>do</strong>, é possível que se tenha verifica<strong>do</strong> a construção de<br />
estruturas muralhadas a Norte, exactamente onde o declive é mais suave. No terreno, e<br />
através de fotografias aéreas é possível verificar a existência de <strong>do</strong>is alinhamentos pétreos<br />
alonga<strong>do</strong>s e significativamente largos, de orientação aproximadamente Este-oeste<br />
interpreta<strong>do</strong>s como derrubes de duas linhas de muralhas (Barranhão, Tereso, 2006). Estes<br />
terão si<strong>do</strong> reutiliza<strong>do</strong>s já em tempos recentes como local de despejo de pedras de limpeza<br />
<strong>do</strong>s terrenos para o seu uso agrícola. Até ao momento foi detectada em <strong>do</strong>is troços <strong>do</strong><br />
primeiro alinhameto a face Norte de uma estrutura 6 . Entre as duas possíveis linhas de<br />
muralha verificam-se inúmeras evidências de utilização <strong>do</strong> espaço por estas paleocomunidades.<br />
De resto, uma estrutura que acreditamos ter deti<strong>do</strong> várias funções, entre as quais uma<br />
função defensiva, contorna o povoa<strong>do</strong> a Sul e a Este. Trata-se de um talude pétreo. Este foi<br />
já intervenciona<strong>do</strong> em duas áreas de escavação, uma em cada flanco (Carvalho et al., 1997;<br />
Barranhão, Tereso, 2006). Porém, é no espaço entre as já referidas linhas de muralha que<br />
este talude terá cria<strong>do</strong> um maior desnível, de cerca de 5 metros. Nesse mesmo sítio, o<br />
resvalar de pedras, ou uma intervenção clandestina antiga terão exposto um pequeno troço<br />
da estrutura pétrea defensiva.<br />
Se to<strong>do</strong>s estes da<strong>do</strong>s sustentam a escolha desta elevação para o estabelecimento de<br />
uma povoação em época proto-histórica, não são totalmente aplicáveis na explicação da<br />
continuação da ocupação em época romana, quan<strong>do</strong> grande parte <strong>do</strong>s povoa<strong>do</strong>s fortifica<strong>do</strong>s<br />
6 Um <strong>do</strong>s troços foi, infelizmente, exposto primeiramente no Inverno de 2006/2007 como consequência de um<br />
acto de vandalismo, nomeadamente a abertura de uma cavidade no amontoa<strong>do</strong> pétreo. No entanto, a sua<br />
interpretação enquanto muralha necessita de confirmação através de futuras escavações arqueológicas<br />
programadas.<br />
79
da região são aban<strong>do</strong>na<strong>do</strong>s. Nessa altura, outros argumentos terão dita<strong>do</strong> essa<br />
continuidade. Se não podemos aceder a aspectos históricos muito específicos <strong>do</strong> processo<br />
de conquista que poderiam explicar parcialmente este facto, podemos pressupor que<br />
factores económicos, nomeadamente os terrenos férteis que rodeiam o povoa<strong>do</strong>, poderão<br />
ter ti<strong>do</strong>, também, um papel importante na determinação da continuidade de ocupação <strong>do</strong><br />
local.<br />
1.3. Intervenções arqueológicas programadas<br />
As intervenções na Terronha de Pinhovelo, alvo deste estu<strong>do</strong>, decorreram em três<br />
campanhas de Verão nos anos de 2004, 2005 e 2006. Estas tiveram a duração de 5, 6 e 3<br />
semanas respectivamente.<br />
Os trabalhos de campo decorreram com a direcção técnico-cientifica <strong>do</strong> signatário, da<br />
Dra. Helena Barranhão, Dra. Lúcia Miguel e Mestre Carlos Mendes. As equipas de campo<br />
foram constituídas por inúmeros voluntários, na sua maioria estudantes universitários mas<br />
também estudantes das escolas locais e outras pessoas interessadas.<br />
Visto existirem já quatro publicações visan<strong>do</strong> esta jazida, para além de três relatórios<br />
técnicos, a descrição <strong>do</strong>s contextos arqueológicos efectuar-se-á de forma sumária e<br />
orientada para a natureza <strong>do</strong> estu<strong>do</strong> aqui apresenta<strong>do</strong>.<br />
A escolha das áreas intervencionadas na Terronha de Pinhovelo seguiu distintos<br />
critérios, intentan<strong>do</strong> cumprir um único objectivo: a compreensão da jazida através de uma<br />
abordagem sumária a diversos pontos específicos desta.<br />
Deste mo<strong>do</strong>, o Sector A foi implanta<strong>do</strong> no extremo Sul da plataforma principal <strong>do</strong><br />
povoa<strong>do</strong>, no início <strong>do</strong> desnível menciona<strong>do</strong> supra, de forma a compreender essa zona de<br />
transição na qual se colocava, de imediato, a possibilidade de serem detectadas estruturas<br />
defensivas semelhantes às que haviam si<strong>do</strong> encontradas nas escavações de emergência<br />
realizadas em 1997 por Pedro Sobral e colabora<strong>do</strong>res no flanco Este <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong> (Carvalho,<br />
et al., 1997).<br />
Com o Sector B, no topo da plataforma principal, perto das escarpas e <strong>do</strong> que se cria<br />
ser uma linha de muralha, pretendia-se encetar uma abordagem àquela que se julgava ser a<br />
principal área <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>, ao mesmo tempo que se pretendia compreender a relação desta<br />
com a muralha e a escarpa. De igual mo<strong>do</strong>, seria possível avaliar o grau da destruição que<br />
os trabalhos agrícolas haviam provoca<strong>do</strong> sobre os vestígios arqueológicos, visto serem<br />
abundantes as pedras facetadas à superfície.<br />
80
O sector C localiza-se perto <strong>do</strong> ponto mais eleva<strong>do</strong> <strong>do</strong> cabeço e a sua implantação<br />
deveu-se à presença de evidências que apontavam para a existência de uma estrutura<br />
negativa de consideráveis dimensões. Esta era tida na região como um forno de cozedura<br />
de cerâmica, o que parecia comprova<strong>do</strong> pela existência de inúmeros vestígios superficiais.<br />
Foram ainda realizadas as Sondagens 1 e 2, posicionadas numa área a Norte que<br />
julgamos exterior ao povoa<strong>do</strong>, com o intuito de libertar uma área para a construção de um<br />
futuro parqueamento de mo<strong>do</strong> a dinamizar e divulgar a jazida.<br />
Embora durante a primeira campanha (2004) se tenha opta<strong>do</strong> por esta estratégia de<br />
dispersão de esforços, em 2005 só os sectores A e B foram intervenciona<strong>do</strong>s. Em 2006<br />
apenas se investiu no Sector B, com novos alargamentos.<br />
1.3.1. Sector B<br />
No sector B foram identificadas seis fases de ocupação, todas elas romanas. Da<strong>do</strong> o<br />
esta<strong>do</strong> inicial da investigação algumas destas fases estão mal caracterizadas e a sua<br />
identificação enquanto momentos distintos da utilização deste espaço corresponde a uma<br />
interpretação que poderá ser revista com a continuação <strong>do</strong>s trabalhos de campo.<br />
Para facilitar a compreensão <strong>do</strong>s contextos, a leitura destas descrições deverá ser<br />
acompanhada pela observação da planta arqueológica <strong>do</strong> Anexo X. O Sector encontra-se,<br />
para fins descritivos, dividi<strong>do</strong> em Núcleo, Zona Este e Zona Norte.<br />
Fase I<br />
Zona Este: aquela que se supõe ser a fase de ocupação mais antiga <strong>do</strong> sector B<br />
corresponde à edificação de um compartimento de planta circular na zona Sudeste. A base<br />
deste era constituída pelo afloramento de xisto regulariza<strong>do</strong> (encontrava-se visivelmente<br />
pica<strong>do</strong> em considerável profundidade) e corta<strong>do</strong> neste registou-se um buraco de poste<br />
rectangular.<br />
O compartimento encontra-se corta<strong>do</strong> por estruturas rectilíneas posteriores e terá si<strong>do</strong><br />
coberto, já quan<strong>do</strong> também essas paredes mais recentes não se encontravam em uso, por<br />
um sedimento argiloso que regularizou a zona e permitiu, segun<strong>do</strong> cremos, a reutilização <strong>do</strong><br />
local para outros fins. Este sedimento assentava directamente no afloramento/base da<br />
estrutura.<br />
O posicionamento desta estrutura na sequência de ocupação da área é, assim,<br />
meramente conjectural visto não se encontrar associada a qualquer pacote sedimentar<br />
relaciona<strong>do</strong> com a sua fase de utilização, o que limita o estabelecimento de inter-relações<br />
81
estratigráficas e não permite a associação a conjuntos artefactuais que possibilitem a<br />
atribuição de cronologias.<br />
Fase II<br />
Núcleo: construção de uma parede (U.E. B[16]) aproximadamente no centro da área.<br />
Embora seja mais antiga que as restantes construções que a envolvem, a sua identificação<br />
enquanto fase isolada é problemática. Só a continuação <strong>do</strong>s trabalhos permitirá o<br />
esclarecimento desta questão.<br />
Fase III<br />
Núcleo: aproveitan<strong>do</strong> a parede B[16] enquanto limite Norte, foi construí<strong>do</strong> um<br />
compartimento rectangular de consideráveis dimensões o Ambiente II, utilizan<strong>do</strong><br />
afloramentos como alicerces. Encostada ao afloramento que delimita parcialmente este<br />
compartimento a Este registou-se uma estrutura de combustão. Esta é constituída por uma<br />
camada de argila cozida muito plana, sobre uma base de pequenas lajes de xisto, ladeada a<br />
Norte por pequenos e alonga<strong>do</strong>s elementos da mesma matéria-prima. Cobrin<strong>do</strong><br />
parcialmente a camada de argila cozida, e entre esta e o canto de afloramento a SE, foi<br />
escava<strong>do</strong> um pequeno depósito, a U.E. B[71], com abundantes carvões e também algumas<br />
sementes. Contu<strong>do</strong>, é possível que a construção <strong>do</strong> Ambiente I não tenha inutiliza<strong>do</strong> esta<br />
estrutura e o depósito [71] pertença à fase seguinte.<br />
Figura 4.3. – Sector B: área de combustão no Ambiente II, vista geral e pormenor (visto de<br />
Noroeste e Norte, respectivamente)<br />
Zona Este: é possível que, a Este <strong>do</strong> Ambiente II, esta fase se encontre traduzida na<br />
construção das paredes B[104] e B[107] que cortam a casa circular da Fase I forman<strong>do</strong> um<br />
canto de outra área edificada. Trata-se somente de uma hipótese visto não existirem, por<br />
82<br />
[71]<br />
[72]
ora, relações estratigráficas que permitam mais fielmente reconstruir a sequência de<br />
ocupação.<br />
Zona Norte: já a Norte, e também numa base hipotética, ter-se-á construí<strong>do</strong> um<br />
compartimento (Ambiente V) e, no seu interior, nomeadamente no canto Noroeste, uma<br />
estrutura de armazenagem rectangular com base de opus signinum e revestimento argiloso<br />
(Ambiente IV). Perto desta estrutura, no la<strong>do</strong> contrário da parede B[39] encontra-se um<br />
lajea<strong>do</strong> 7 .<br />
Fase IV<br />
Núcleo: cobrin<strong>do</strong> directamente parte da estrutura de combustão de argila<br />
anteriormente descrita, durante a Fase IV ter-se-á edifica<strong>do</strong> um novo compartimento (o<br />
Ambiente I) no interior <strong>do</strong> Ambiente II, sem que se tenha verifica<strong>do</strong>, no entanto, qualquer<br />
aproveitamento das suas paredes que permaneceriam intactas. Note-se que, à semelhança<br />
<strong>do</strong> Ambiente II, também este novo compartimento é aberto para Oeste, não se verifican<strong>do</strong> aí<br />
qualquer parede 8 . Neste foram registadas três estruturas de combustão:<br />
A primeira estrutura, a partir de Este, é constituída por um pequeno murete onde se<br />
encontra apoia<strong>do</strong> um empedra<strong>do</strong> quadrangular, regular, de xisto e quartzo (alguns <strong>do</strong>s quais<br />
queima<strong>do</strong>s) com argila cozida. Junto a esta um pequeno depósito escuro, a U.E. B[63], foi<br />
removi<strong>do</strong>.<br />
Pouco mais a Oeste definiram-se <strong>do</strong>is alinhamentos pétreos. Entre ambos encontravase<br />
a segunda área de combustão, evidenciada pelo depósito B[65], repleto de carvões e<br />
sementes carbonizadas. A base da estrutura é constituída por um depósito esbranquiça<strong>do</strong><br />
circunscrito a esta estrutura.<br />
O segun<strong>do</strong> alinhamento pétreo constitui o limite Oeste desta área de combustão e o<br />
limite Este de uma terceira estrutura constituída por uma cama de pedras, de xisto e<br />
quartzo, alongada e muito irregular que forma mesmo uma depressão na sua extremidade<br />
Sul no contacto com o afloramento. Cobrin<strong>do</strong> esta estrutura encontrava-se o depósito B[66],<br />
de coloração escura e repleto de carvões e sementes.<br />
Note-se que nestas três áreas de combustão foram muito escassos os restos<br />
faunísticos recolhi<strong>do</strong>s, to<strong>do</strong>s eles de muito pequenas dimensões.<br />
7 Á semelhança da parede B[16], é difícil a integração da parede B[39] na sequência de ocupação <strong>do</strong> Sector B,<br />
embora se perceba, de forma clara que esta, aparentemente com um forte papel estruturante na zona, é mais<br />
antiga que todas as construções circundantes. Neste momento é tenta<strong>do</strong>r colocar a parede B[39] na Fase II, com<br />
a B[16], mas as relações não são tão claras. Mais uma vez esbarramos com a natural escassez de da<strong>do</strong>s<br />
resultante <strong>do</strong> pouco desenvolvimento <strong>do</strong>s trabalhos no local.<br />
8 É provável que o Ambiente II tenha si<strong>do</strong>, na sua primeira fase de utilização, um compartimento fecha<strong>do</strong>. A<br />
presença de elementos pétreos de um possível fecho a Oeste, parcialmente postas a descoberto no final da 3ª<br />
campanha, aparentam apontar nesse senti<strong>do</strong>.<br />
83
[25]<br />
Figura 4.4. – Sector B: vista geral de Ambiente I, com três áreas de combustão (vista de Oeste)<br />
[65]<br />
Zona Este: nesta área construiu-se uma estrutura de difícil interpretação. Trata-se de<br />
uma área com inúmeros elementos pétreos, maioritariamente de xisto, finca<strong>do</strong>s no solo.<br />
Muitas dessas pedras apresentavam uma característica cor rosada que evidenciava terem<br />
si<strong>do</strong> sujeitas a fogo.<br />
Também nesta fase, tal como foi anteriormente descrito, o compartimento que detinha<br />
as paredes B[104] e B[107] encontrava-se destruí<strong>do</strong> e foi, conjuntamente com o que restava<br />
da casa circular, coberto por um sedimento argiloso alaranja<strong>do</strong> (B[46]), possivelmente um<br />
piso no qual se abriu uma vala. Esta encontrava-se cheia por um depósito muito escuro,<br />
U.E. B[11], e poderá ter si<strong>do</strong> utilizada enquanto área de combustão.<br />
Zona Norte: o lajea<strong>do</strong> anteriormente descrito encontrava-se inutiliza<strong>do</strong>. Nas<br />
proximidades, e sobre derrubes de uma fase anterior, foi edifica<strong>do</strong> um lajea<strong>do</strong> constituí<strong>do</strong><br />
por lajes de xisto de grandes dimensões. Os ambientes IV e V mantinham-se em utilização 9 .<br />
9 Este da<strong>do</strong> parece claro, embora uma outra possibilidade possa ser colocada: a estrutura de armazenagem<br />
denominada de Ambiente IV poderia ter si<strong>do</strong> construída nesta Fase IV, sen<strong>do</strong> o compartimento no qual se<br />
encerra, o Ambiente V mais antigo. De facto, a estrutura de armazenagem aparenta cortar o piso de ocupação<br />
de terra batida, o que pressupõe a existência de <strong>do</strong>is momentos de construção distintos.<br />
84<br />
[66]
[95]<br />
[10]<br />
[91]<br />
[46]<br />
[6]<br />
[11]<br />
Figura 4.5. – Sector B: fase IV na metade Sul da<br />
Zona Este (visto de Oeste).<br />
Figura 4.6. – Sector B: estrutura de<br />
armazenagem (Amb. IV) com derrube [82]<br />
no interior (visto de Sul).<br />
Fase V<br />
Todas as estruturas encontravam-se destruídas e cobertas por sedimentos que se<br />
depositaram naturalmente (U.E. B[3] e B[4]). No canto Nordeste da zona Este uma estrutura<br />
negativa cortava o depósito [4] e encontrava-se cheia por um sedimento escuro a U.E. B[9].<br />
Contu<strong>do</strong>, a exiguidade da área deste contexto até agora escavada não permite avançar<br />
qualquer interpretação.<br />
Fase VI<br />
Utilização recente da área para trabalhos agrícolas que terão perturba<strong>do</strong> alguns<br />
contextos arqueológicos.<br />
85
1.3.2. Sector A<br />
Foram identificadas sete fases de ocupação/aban<strong>do</strong>no na área <strong>do</strong> Sector A. Algumas<br />
permanecem, porém, apenas parcamente conhecidas.<br />
Fase I<br />
O primeiro momento de ocupação identifica<strong>do</strong> até ao momento nesta área<br />
corresponde à edificação de <strong>do</strong>is taludes pétreos (Talude Norte e Talude Sul). Estas<br />
estruturas maioritariamente constituídas por blocos e calhaus de xisto, apresentam uma<br />
orientação Oeste-Este. Actualmente num avança<strong>do</strong> esta<strong>do</strong> de ruína, desconhece-se a<br />
cronologia da sua construção visto no presente momento <strong>do</strong>s trabalhos de campo não terem<br />
si<strong>do</strong> intervenciona<strong>do</strong>s depósitos associa<strong>do</strong>s à fase de construção destas estruturas.<br />
Fase II<br />
Nesta fase deu-se uma reestruturação <strong>do</strong> espaço entre os <strong>do</strong>is taludes supra<br />
menciona<strong>do</strong>s implican<strong>do</strong> a construção de uma estrutura negativa, semi-circular, em<br />
materiais perecíveis, com cerca de 2m de diâmetro. No seu interior encontrava-se o<br />
depósito A[34], visivelmente repleto de macro-fosseis vegetais e com um conjunto<br />
artefactual integrável na Idade <strong>do</strong> Ferro.<br />
Fase III<br />
Sobre os derrubes da fase anterior formaram-se depósitos com conjuntos artefactuais<br />
possivelmente integra<strong>do</strong>s na Idade <strong>do</strong> Ferro.<br />
Fase IV<br />
Trata-se da primeira fase de ocupação romana. Surge representada na plataforma<br />
superior, criada com a construção <strong>do</strong> Talude Norte. Esta fase foi exposta com a remoção<br />
<strong>do</strong>s contextos da fase seguinte mas não foi ainda alvo de intervenções pelo que pouco se<br />
conhece da mesma. São visíveis paredes de um compartimento, assim como diversos<br />
níveis de derrube.<br />
Fase V<br />
Também os mais significativos vestígios desta fase encontram-se por escavar,<br />
nomeadamente estruturas negativas interpretadas como áreas de combustão.<br />
86
Fase VI<br />
Após a utilização e inutilização das estruturas de combustão da fase anterior ter-se-á<br />
procedi<strong>do</strong> ao entulhamento da plataforma superior. Neste depósito de entulho foram<br />
escavadas seis estruturas negativas com formas e profundidades variáveis. Estas<br />
encontravam-se repletas de sedimento de coloração escura e carvões, enquanto que<br />
algumas ainda continham abundante fauna mamalógica, o que conduziu à sua interpretação<br />
enquanto estruturas de combustão.<br />
Fase VII<br />
Aban<strong>do</strong>no <strong>do</strong> sítio enquanto povoa<strong>do</strong> e afectação por trabalhos agrícolas recentes.<br />
Traduzi<strong>do</strong> nas camadas superficiais.<br />
Figura 4.7. – Sector A: <strong>do</strong>is taludes (visto de Sul)<br />
1.3.3. Outras áreas<br />
Para<br />
além <strong>do</strong>s sectores anteriormente descritos foram abertos mais um sector e duas<br />
sondagens.<br />
O Sector<br />
C, localiza<strong>do</strong> a Norte <strong>do</strong> Sector B, não forneceu até ao momento níveis<br />
arqueológicos<br />
estruturalmente relevantes. Um derrube com diversos níveis distintos foi<br />
detecta<strong>do</strong> sen<strong>do</strong> que a grande dimensão <strong>do</strong>s elementos pétreos parece indicar a existência<br />
nas proximidades de uma estrutura de consideráveis dimensões.<br />
87
De igual mo<strong>do</strong>, a recolha de abundantes fragmentos de telhas deformadas,<br />
característicos casos de acidentes de cozedura, indicia a presença próxima de uma<br />
estrutura<br />
de forno.<br />
No sopé da elevação<br />
adjacente à Terronha de Pinhovelo, na área a Norte <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>,<br />
foram abertas duas sondagens. As sondagens 1 e 2 posicionam-se numa zona que se crê<br />
exterior<br />
ao povoa<strong>do</strong>, mas na sua imediata proximidade.<br />
Enquanto que a Sond. 2 não forneceu quaisquer vestígios arqueológicos, na Sond. 1<br />
detectou-se a presença de escassos artefactos, entre os quais um fragmento de Terra<br />
Sigillata.<br />
1.3.4. Enquadramento cronológico<br />
Não é possível, no actual esta<strong>do</strong> <strong>do</strong>s conhecimentos, estabelecer uma correlação<br />
entre as fases de ocupação identificadas nos distintos sectores. É claro, porém, que a fase<br />
mais antiga até agora identificada em escavação corresponde à construção <strong>do</strong>s taludes <strong>do</strong><br />
Sector A, um momento de monumentalização <strong>do</strong> espaço e possivelmente de preparação<br />
para defesa <strong>do</strong> espaço. Este momento não se encontra ainda enquadra<strong>do</strong><br />
cronologicamente.<br />
Os níveis da Idade <strong>do</strong> Ferro estão representa<strong>do</strong>s pela edificação, sobre pedras<br />
derrubadas <strong>do</strong>s referi<strong>do</strong>s<br />
taludes, de uma estrutura semi-circular em materiais perecíveis. A<br />
integração<br />
na Idade <strong>do</strong> Ferro foi realizada com base em estu<strong>do</strong>s tipológicos <strong>do</strong> material<br />
cerâmico associa<strong>do</strong>. Efectivamente, a quase totalidade <strong>do</strong>s recipientes apresentam fabricos<br />
manuais, sen<strong>do</strong> mais abundantes os potes de perfil em S de dimensões variadas, e ainda<br />
grandes recipientes de armazenagem de perfil recto. São mais frequentes os bor<strong>do</strong>s<br />
esvasa<strong>do</strong>s e os lábios rectos, enquanto que as superfícies são cuidadas, frequentemente<br />
brunidas, por vezes com engobes de tom bege. Dois fragmentos apresentam incisões<br />
lineares<br />
de Terra Sigillata Itálica (TSI) recolhi<strong>do</strong>s no Sector A. Tratam-se de <strong>do</strong>is bor<strong>do</strong>s<br />
de pr<br />
10 .<br />
No que respeita aos níveis romanos, as mais antigas evidências correspondem a <strong>do</strong>is<br />
fragmentos<br />
atos. Segun<strong>do</strong> Ana Silva (2007), um apresenta caneluras com decoração em guilhoché<br />
e um golfinho na parede externa, corresponden<strong>do</strong> à forma IX de Atlante ou forma 21 de<br />
Conspectus; o outro bor<strong>do</strong> de prato apresenta decoração em barbotina composta por uma<br />
dupla espiral (forma X, variante 24, de Atlante ou forma 20 de Conspectus). A inserção<br />
10 O estu<strong>do</strong> <strong>do</strong>s contextos e materiais arqueológicos da Idade <strong>do</strong> Ferro foram da responsabilidade da Dra. Lúcia<br />
Miguel, responsável técnico-científico das intervenções realizadas no Sector A.<br />
88
cronológica destes fragmentos não é unívoca enquadran<strong>do</strong>-se entre o ano 10 a.C. e<br />
mea<strong>do</strong>s <strong>do</strong> século II d.C.<br />
Contu<strong>do</strong>, estes artefactos foram recolhi<strong>do</strong>s em níveis de revolvimentos antigos, os já<br />
menciona<strong>do</strong>s<br />
entulhamentos de estruturas romanas da fase VI <strong>do</strong> Sector A, sen<strong>do</strong> assim de<br />
pouca utilidade para a compreensão da jazida.<br />
Um outro conjunto cerâmico também <strong>do</strong><br />
Sector A, desta feita de Terra Sigillata<br />
Hispânica<br />
proveniente de Tritium Magallum, testemunha uma fase posicionada entre a<br />
segunda metade <strong>do</strong> século I e finais de II ou inícios de III (Silva, 2007).<br />
Por outro la<strong>do</strong>, na área até agora escavada no Sector B não se logrou atingir níveis<br />
muito profun<strong>do</strong>s pelo que só estão <strong>do</strong>cumenta<strong>do</strong>s contextos das fases de ocupação mais<br />
recentes, já <strong>do</strong> Baixo-Império. Apesar de a produção de alguns fabricos cerâmicos aqui<br />
detecta<strong>do</strong>s poder remontar ao século III, a verdade é que usualmente perduram para fases<br />
posteriores. A maioria das produções de Terra Sigillata, nomeadamente de Terra Sigillata<br />
Hispânica Tardia (TSHT) enquadra-se mesmo nos séculos IV e V d.C, <strong>do</strong>minan<strong>do</strong> as formas<br />
Ritt. 8, Drag. 35, Drag. 15/17, Hisp. 5, Palol 9/11, Hisp. 83, Hisp. 7, Palol 4 e principalmente<br />
Drag. 37 (Silva, 2007). To<strong>do</strong>s os fragmentos decora<strong>do</strong>s recolhi<strong>do</strong>s inserem-se nesta última<br />
forma.<br />
Não<br />
deixa de ser interessante notar que no Sector A a cerâmica TSHT é quase<br />
inexistente,<br />
enquanto que no Sector B assume praticamente a exclusividade entre a<br />
cerâmica fina importada (à excepção de escassos fragmentos de TSH). Trabalhos futuros<br />
deverão esclarecer as diferenças entre as duas áreas de escavação permitin<strong>do</strong> um mais<br />
preciso enquadramento cronológico das fases identificadas nos mesmos.<br />
Por fim, relembramos que a primeira intervenção realizada na Terronha<br />
de Pinhovelo,<br />
no seu<br />
flanco Este, havia exposto fases de ocupação enquadradas num espaço de tempo<br />
entre os séculos I e IV/V d.C. (Carvalho, et al., 1997).<br />
89
2. Estu<strong>do</strong> paleobotânico<br />
2.1. Os contextos amostra<strong>do</strong>s<br />
Descrevem-se em seguida as unidades estratigráficas amostradas para estu<strong>do</strong><br />
paleobotânico:<br />
TP.Lab. - Amostras resultantes da flutuação <strong>do</strong>s sedimentos:<br />
[3]<br />
Depósito argilo-arenoso, moderadamente duro, castanho amarela<strong>do</strong>/alaranja<strong>do</strong> claro; com<br />
xisto sub-anguloso e arre<strong>do</strong>nda<strong>do</strong>, até 20cm, ocasional; alguns nódulos de argila cozida,<br />
raízes ocasionais.<br />
As amostras tratadas foram recolhidas aquan<strong>do</strong> da definição da área de combustão<br />
caracterizada pelo depósito [66], estan<strong>do</strong> associa<strong>do</strong>s a este. A restante, ampla, extensão <strong>do</strong><br />
depósito não foi amostrada.<br />
TSHT: séculos III-IV e IV-V.<br />
Fase: V.<br />
[4]<br />
Depósito arenoso, moderadamente duro/duro, castanho médio/escuro, com xisto anguloso e<br />
sub-rola<strong>do</strong>, até 20cm, frequente; com abundantes materiais arqueológicos; com raízes<br />
frequentes.<br />
A amostra foi recolhida na definição de uma estrutura composta por pedras fincadas, muitas<br />
delas queimadas (U.E.[93]) na área Este <strong>do</strong> Sector B. A restante, ampla, extensão <strong>do</strong><br />
depósito não foi amostrada.<br />
TSHT: séculos IV-V<br />
Fase: V.<br />
[9]<br />
Depósito castanho acinzenta<strong>do</strong> muito escuro, areno-argiloso e duro, com xisto menor que<br />
10cm, abundante; com raízes frequentes.<br />
Localiza<strong>do</strong> na área Este <strong>do</strong> Sector B, mais precisamente no canto NE. Encontra-se<br />
parcialmente defini<strong>do</strong>, corresponden<strong>do</strong>-lhe ainda uma área definida muito diminuta. Deverá<br />
90
encontrar-se a encher uma estrutura negativa que, nos trabalhos de campo julgou-se ser<br />
uma estrutura de combustão.<br />
Fase: V.<br />
[11]<br />
Depósito castanho acinzenta<strong>do</strong> muito escuro, areno-argiloso, moderadamente duro, com<br />
abundantes elementos pétreos, xisto, até 30cm; com raízes frequentes.<br />
Localiza<strong>do</strong> no canto SE da área de escavação este depósito enche uma estrutura negativa.<br />
Trata-se de um contexto que não está completamente defini<strong>do</strong> mas que poderá<br />
corresponder a uma estrutura de combustão.<br />
Fase: IV.<br />
[20]<br />
Derrube pétreo envolto num depósito castanho alaranja<strong>do</strong>, areno-argiloso, moderadamente<br />
duro, com frequentes nódulos de argila, com xisto sub-anguloso até 15cm, com raízes<br />
ocasionais.<br />
Depósito localiza<strong>do</strong> no interior <strong>do</strong> Ambiente I. Trata-se <strong>do</strong> derrube das paredes <strong>do</strong> mesmo,<br />
em conjunto com parte <strong>do</strong>s depósitos por este perturba<strong>do</strong>s. As amostras tratadas foram<br />
recolhidas aquan<strong>do</strong> da definição <strong>do</strong> depósito [65], sedimento de uma estrutura de<br />
combustão.<br />
TSHT: séculos III-V<br />
Fase: IV.<br />
[21]<br />
Depósito castanho alaranja<strong>do</strong>, argilo-arenoso, moderadamente duro, com xisto anguloso,<br />
até 10cm, escasso; com raízes escassas.<br />
Localiza<strong>do</strong> no canto SE <strong>do</strong> Ambiente II, abaixo <strong>do</strong> derrube pétreo <strong>do</strong> mesmo. Havia carvões<br />
concentra<strong>do</strong>s na parede Sul, junto ao canto, e também carvões dispersos pela pequena<br />
extensão deste confina<strong>do</strong> depósito.<br />
Fase: IV.<br />
91
[22]<br />
Depósito castanho alaranja<strong>do</strong> escuro, argilo-arenoso, moderadamente duro, com abundante<br />
fauna mamalógica (algumas porções de grande dimensão); com xisto anguloso até 10cm,<br />
escasso.<br />
Nível de aban<strong>do</strong>no, provavelmente associa<strong>do</strong> ao derrube [23] e à estrutura de combustão<br />
representada pelo depósito [71], no interior <strong>do</strong> Ambiente II. Depósito muito circunscrito.<br />
Fase: IV.<br />
[24]<br />
Depósito castanho amarela<strong>do</strong>/alaranja<strong>do</strong> claro, argilo-arenoso, moderadamente duro e cuja<br />
definição foi muito difícil de conseguir dada as grandes semelhanças com a UE [70].<br />
Depósito localiza<strong>do</strong> no interior <strong>do</strong> Ambiente II, possivelmente um nível de ocupação. Não é<br />
clara a associação à estrutura de combustão [71] mas é possivelmente contemporâneo de<br />
uma fase da sua utilização.<br />
Fase: IV.<br />
[50]<br />
Depósito castanho acinzenta<strong>do</strong> claro, areno-argiloso, muito duro, com xisto anguloso até<br />
5cm, frequente e quartzo sub-anguloso até 5cm, ocasional; com raízes ocasionais.<br />
Localiza<strong>do</strong> no exterior mas junto ao limite Oeste <strong>do</strong> Ambiente II, prolongan<strong>do</strong>-se para o<br />
Ambiente I, corresponde à regularização da zona para se constituir como piso. As amostras<br />
foram recolhidas a Oeste <strong>do</strong> Ambiente II.<br />
Fase: IV.<br />
[63]<br />
Depósito castanho médio-escuro, areno-argiloso, moderadamente duro.<br />
Pequeno depósito muito circunscrito, localiza<strong>do</strong> perto da estrutura de combustão [25], no<br />
Ambiente I. Recolhi<strong>do</strong> integralmente.<br />
Fase: IV.<br />
[65]<br />
Depósito castanho acizenta<strong>do</strong> médio com tonalidade por vezes amarelada, areno-argiloso,<br />
moderadamente duro, com pequenos nódulos de argila cozida, com raízes ocasionais.<br />
92
Ladea<strong>do</strong> por <strong>do</strong>is alinhamentos pétreos, trata-se de uma das três áreas de combustão <strong>do</strong><br />
Ambiente I (a <strong>do</strong> meio). Recolhi<strong>do</strong> integralmente, bem como as terras da sua definição que<br />
ainda pertenciam ao depósito [20].<br />
Fase: IV.<br />
[66]<br />
Depósito castanho médio, por vezes castanho escuro, areno-argiloso, moderadamente duro,<br />
com alguns nódulos de argila cozida, com escasso cascalho de xisto até 5cm, com raízes<br />
ocasionais.<br />
Cobrin<strong>do</strong> uma base de lareira (um empedra<strong>do</strong> tosco) no limite Oeste <strong>do</strong> Ambiente I, trata-se<br />
<strong>do</strong> sedimento de uma estrutura de combustão. Recolhi<strong>do</strong> integralmente, bem como as terras<br />
da sua definição que ainda pertenciam ao depósito [3].<br />
Fase: IV.<br />
[70]<br />
Depósito castanho alaranja<strong>do</strong> médio a escuro, areno-argiloso, moderadamente duro, com<br />
xisto angulosos e sub-anguloso menor que 10cm, frequente; com raízes ocasionais e alguns<br />
fragmentos de telha no topo.<br />
Estenden<strong>do</strong>-se em grande parte <strong>do</strong> interior <strong>do</strong> Ambiente II é duvi<strong>do</strong>so se se trata de um<br />
nível de ocupação, sen<strong>do</strong> provável que seja o último nível de derrube deste compartimento.<br />
De qualquer forma, caracteriza-se pela presença de algumas concentrações de carvões e<br />
também pela existência de carvões dispersos pelo depósito. Foram recolhidas amostras<br />
pontuais que atestaram a riqueza em fitoclastos e permitiram a caracterização <strong>do</strong> depósito.<br />
Fase: IV.<br />
[71]<br />
Depósito castanho acinzenta<strong>do</strong> médio, areno-argiloso, moderadamente duro.<br />
Localiza<strong>do</strong> parcialmente sobre a base de argila [72] da estrutura de combustão <strong>do</strong> Ambiente<br />
II e entre esta e o afloramento a Este. Trata-se de um depósito diminuto com cerca de 4kg<br />
de sedimento que resulta da última utilização da referida estrutura. A amostra constitui uma<br />
recolha integral.<br />
Fase: III.<br />
93
[82]<br />
Depósito castanho acinzenta<strong>do</strong> médio-escuro, areno-argiloso, solto, com xisto anguloso até<br />
20cm, frequente; com raízes frequentes.<br />
Derrube ou entulhamento proposita<strong>do</strong> <strong>do</strong> Ambiente IV, estrutura de armazenagem<br />
rectangular localizada no canto NW <strong>do</strong> compartimento/Ambiente V. Recolha pontual para<br />
verificar a riqueza em macro-restos.<br />
Fase: III.<br />
[95]<br />
Depósito castanho médio, por vezes castanho escuro, areno-argiloso, moderadamente duro,<br />
com xisto sub-anguloso menor que 20cm, escasso; com raízes ocasionais.<br />
Localiza<strong>do</strong> a Este da estrutura circular, encostan<strong>do</strong> a esta. Recolhas para averiguar a<br />
riqueza em macro-restos dispersos e recolha no interior de recipiente muito aberto, aí<br />
descoberto em bom esta<strong>do</strong> de conservação.<br />
Fase: III.<br />
TP.RM. - Amostras correspondentes a recolhas manuais:<br />
[5]<br />
Nível de derrube com sedimento castanho escuro, arenoso (a Norte) e alaranja<strong>do</strong> vivo,<br />
argilo-arenoso (a Sul). A zona de contacto não é muito perceptível. Com xisto abundante,<br />
por vezes maior que 15cm, com raízes ocasionais.<br />
Localiza<strong>do</strong> no interior <strong>do</strong> Ambiente II, a zona Sul deverá ser derrube <strong>do</strong> muro [14] (parede<br />
Norte <strong>do</strong> Ambiente I que tombou para o interior <strong>do</strong> compartimento que o ladeava), a área a<br />
Norte deverá ser derrube <strong>do</strong> muro [16] (parede Norte <strong>do</strong> Ambiente II).<br />
TSHT: séculos III- início de IV<br />
Fase: IV.<br />
[6]<br />
Derrube envolto num depósito castanho alaranja<strong>do</strong>, argilo-arenoso, moderadamente duro a<br />
solto, com xisto sub-anguloso e anguloso abundante, maior que 15cm; com raízes<br />
abundantes.<br />
94
Localiza<strong>do</strong> no espaço constrito <strong>do</strong> canto SE <strong>do</strong> Ambiente II, é a continuação <strong>do</strong> derrube [5]<br />
com o qual se estabeleceu uma relação de equivalência. Trata-se de um derrube pétreo<br />
com sedimento semelhante ao ligante de parede [12] (parede <strong>do</strong> Ambiente I) e a depósito<br />
[21] que se encontra coberto por [6].<br />
Fase: IV.<br />
[23]<br />
Derrube envolto num depósito castanho médio, areno-argiloso, moderadamente duro, com<br />
fauna mamalógica abundante; com xisto anguloso até 25cm abundante; com raízes<br />
escassas.<br />
Localiza<strong>do</strong> no interior <strong>do</strong> Ambiente II, trata-se de um nível de derrube das paredes deste<br />
mesmo compartimento. É um segun<strong>do</strong> nível <strong>do</strong> mesmo derrube defini<strong>do</strong> pela U.E.[5],<br />
distingui<strong>do</strong> pela posição engana<strong>do</strong>ramente mais horizontal de alguns blocos pétreos.<br />
TSHT: século III- início de IV<br />
Fase: IV.<br />
[43]<br />
Derrube envolto num depósito castanho alaranja<strong>do</strong>, argilo-arenoso, duro; com xisto<br />
anguloso e sub-anguloso, por vezes maior que 15cm, frequente; com raízes frequentes.<br />
Localiza<strong>do</strong> na zona Norte <strong>do</strong> Sector B, entre o muro central e o corte Oeste, trata-se de um<br />
derrube pétreo.<br />
Fase: IV.<br />
[46]<br />
Depósito castanho amarela<strong>do</strong> e alaranja<strong>do</strong>, claro, areno-argiloso, moderadamente duro,<br />
com xisto sub-anguloso até 10cm, escasso; com raízes ocasionais.<br />
Coberto por [3] encontrava-se no interior <strong>do</strong> que restava <strong>do</strong> compartimento de planta<br />
circular, um possível nível de regularização para criai piso de ocupação (cobria o buraco de<br />
poste da cabana).<br />
Fase: III.<br />
[47]<br />
Depósito castanho amarela<strong>do</strong>, areno-argiloso, moderadamente duro a solto, com xisto<br />
anguloso até 40cm, muito abundante; com raízes de grandes dimensões muito abundantes.<br />
95
Nível de derrube <strong>do</strong> Ambiente V.<br />
TSHT: séculos III-IV, III-V e IV-V.<br />
Fase: IV.<br />
[49]<br />
Depósito castanho alaranja<strong>do</strong>, argilo-arenoso, duro, com abundante cerâmica de<br />
construção; com xisto anguloso até 15cm, escasso; com raízes ocasionais.<br />
Localiza<strong>do</strong> na zona Norte <strong>do</strong> Sector B, entre o muro central e o corte Oeste, trata-se de um<br />
derrube de telha<strong>do</strong>.<br />
Fase: III.<br />
[53]<br />
Derrube envolto em depósito castanho médio com pequenos nódulos amarela<strong>do</strong>s, argiloarenoso,<br />
duro, com xisto anguloso até 25cm, frequente; com raízes abundantes.<br />
Derrube pétreo localiza<strong>do</strong> no Ambiente V, coberto por [47].<br />
TSHT: séculos III-IV e IV-V.<br />
Fase: III.<br />
[68]<br />
Depósito castanho alaranja<strong>do</strong> escuro, argilo-arenoso, moderadamente duro, com xisto subanguloso<br />
até 15cm, escasso.<br />
Depósito muito circunscrito, semelhante a [22] mas sem contacto físico directo, poderá ser<br />
parte <strong>do</strong> derrube localiza<strong>do</strong> no interior <strong>do</strong> Ambiente II.<br />
Fase: IV.<br />
[86]<br />
Depósito castanho rosa<strong>do</strong>/alaranja<strong>do</strong> claro, areno-argiloso, duro, com escassa potência<br />
sedimentar, com xisto anguloso por vezes maior que 20cm, escasso; com raízes ocasionais.<br />
Localiza<strong>do</strong> no interior de Ambiente V, possível nível de base de derrube.<br />
Fase: III.<br />
96
2.2. Antracologia: análise de da<strong>do</strong>s<br />
Os resulta<strong>do</strong>s <strong>do</strong> estu<strong>do</strong> antracológico encontram-se representa<strong>do</strong>s nos quadros 4.1 e<br />
4.2, para as recolhas de flutuação e recolhas manuais, respectivamente.<br />
Espécie V3 V9 IV11 IV20 IV21 IV22 IV24 IV50 IV63 IV65 IV66 IV70 III71 III82 III95 Total<br />
Alnus glutinosa 1 1<br />
Arbutus une<strong>do</strong> 3 1 8 16 15 2 1 24 3 73<br />
cf. Arbutus une<strong>do</strong> 1 1 2<br />
Cistus sp. 2 3 2 14 2 6 29<br />
cf. Cistus sp. 2 13 2 3 4 1 7 8 6 46<br />
Corylus avelana 1 1<br />
Cytisus/Genista/Ulex 1 4 1 2 8<br />
Erica arborea 2 1 3<br />
Erica arborea/australis/scoparia 1 2 3<br />
Erica australis/arborea 2 2<br />
Erica australis 2 1 3<br />
Erica scoparia 1 1<br />
Erica umbellata 2 1 1 4<br />
Erica cf. umbellata 1 1<br />
Erica scoparia/umbellata 1 3 4<br />
Erica sp. 1 1 2<br />
cf. Erica sp. 1 1 1 3<br />
cf. Erica arborea 8 8<br />
Fraxinus angustifolia 1 1 3 1 1 2 11 1 21<br />
cf. Fraxinus angustifolia 1 1 1 2 5<br />
Juglans regia 1 1<br />
Pinus pinaster 9 1 2 13 31 3 4 3 12 18 37 13 2 1 149<br />
Pinus sp. 3 3 1 7 2 1 17<br />
Quercus coccifera 2 2<br />
Quercus cf. coccifera 1 1 3 5<br />
Quercus ilex 8 3 1 2 14<br />
Quercus cf. ilex 2 2<br />
Quercus faginea 1 6 2 15 2 2 1 9 2 40<br />
Quercus cf. faginea 2 3 1 1 7<br />
Quercus pyrenaica (tipo) 7 7 11 14 2 29 5 1 17 1 94<br />
Quercus perenifolia 2 1 9 6 5 5 2 1 5 12 1 4 53<br />
Quercus suber 2 1 7 5 8 5 1 1 24 3 3 5 65<br />
Quercus suber/coccifera 5 1 3 2 2 4 1 2 2 1 5 1 29<br />
Quercus subgenus Quercus 1 5 13 20 4 1 1 27 6 6 3 1 88<br />
Quercus sp. 20 3 10 24 18 12 4 6 43 10 14 3 4 1 172<br />
cf. Quercus sp. 1 1<br />
Sorbus sp. 1 1<br />
Ulmus minor 2 2 4<br />
Casca 2 2 1 5<br />
Angiospermica 3 1 2 5 3 1 1 2 1 19<br />
Indetermina<strong>do</strong> 8 11 5 17 1 4 3 1 10 17 7 16 10 110<br />
Total 70 7 84 110 191 33 10 25 17 166 80 142 99 50 14 1098<br />
Quadro<br />
4.1. – Antracologia: resulta<strong>do</strong>s das recolhas de flutuação (Lab.)<br />
97
Espécie IV5 IV6 IV11 IV22 IV23 IV43 IV47 IV68 III46 III49 III53 III82 III86 III95 Total<br />
Alnus glutinosa 1 1<br />
Arbutus une<strong>do</strong> 10 1 2 1 20 1 5 5 1 46<br />
Cistus sp. 1 2 1 2 2 5 2 6 2 23<br />
cf. Cistus sp. 1 1 1 3<br />
Erica australis/arborea 3 3<br />
Erica australis 4 1 1 1 7<br />
Erica umbellata 1 2 3<br />
Erica scoparia 1 1 3 1 1 7<br />
Erica scoparia/umbellata 1 1<br />
Erica scoparia/australis 1 1<br />
cf. Erica sp. 2 2 4<br />
cf. Erica arborea 2 4 6<br />
Fraxinus angustifolia 2 2 5 14 7 4 34<br />
cf. Fraxinus angustifolia 1 1<br />
Hedera helix 1 1<br />
Leguminosae 1 1<br />
Pinus pinaster 10 4 20 32 1 4 2 9 1 6 89<br />
Pinus sp. 1 2 3<br />
Prunus spinosa 1 1<br />
Quercus coccifera 1 1<br />
Quercus ilex 1 6 1 1 1 1 11<br />
Quercus faginea 6 3 8 21 3 3 3 3 2 1 53<br />
Quercus pyrenaica (tipo) 2 2 12 7 2 2 1 3 1 5 1 8 46<br />
Quercus perenifolia 1 1 1 1 1 5<br />
Quercus suber 7 2 19 3 15 3 12 2 12 23 10 1 4 113<br />
Quercus suber/coccifera 2 1 1 4<br />
Quercus subgenus Quercus 2 7 3 2 2 3 2 3 24<br />
Quercus sp. 5 2 5 1 2 1 1 1 1 19<br />
Rosa sp. 1 1<br />
Sorbus sp. 2 2<br />
Angiospermica 6 4 1 11<br />
Indetermina<strong>do</strong> 1 2 4 2 1 5 1 16<br />
Total 24 30 73 27 76 25 97 16 34 53 52 14 6 14 541<br />
Quadro 4.2. – Antracologia: resulta<strong>do</strong>s das recolhas manuais (RM)<br />
2.2.1. Amostras de flutuação - LAB.<br />
A análise de da<strong>do</strong>s foi realizada segun<strong>do</strong> critérios de presença/ausência. É sabi<strong>do</strong> que<br />
a interpretação <strong>do</strong>s resulta<strong>do</strong>s de análises de material lenhoso disperso deverá ser realizada<br />
com bastante cautela, não conduzin<strong>do</strong> a interpretações ecológicas lineares. Assim, a<br />
ausência ou presença de espécies numa amostra não implicam um reflexo inequívoco da<br />
paisagem mas sim o resulta<strong>do</strong> de opções humanas espelhadas em determina<strong>do</strong>s depósitos<br />
de determina<strong>do</strong>s contextos. As interpretações derivadas das análises estatísticas deverão<br />
ser preferencialmente culturais e funcionais.<br />
Um conjunto de PCA e RDA foram obti<strong>do</strong>s de forma a detectar diferenças entre U.E. e<br />
identificar eventuais padrões na distribuição das espécies, ilustrativos da sua ecologia e<br />
porte. Desta forma, o RDA, que inclui os factores descritivos das espécies, não contemplou<br />
os tipos xilotómicos de identificação mais duvi<strong>do</strong>sa 11 .<br />
11 Refere-se “tipos xilotómicos” e não “espécies” pois alguns tipos xilotómicos não definem mais <strong>do</strong> que um<br />
género mas devem ser incluí<strong>do</strong>s na análise de mo<strong>do</strong> a conferir alguma leitura ao gráfico e garantir a<br />
representatividade de determinadas U.E.<br />
98
Os resulta<strong>do</strong>s da análise multivariada encontram-se expressos nos gráficos das figuras<br />
4.8 a 4.11. Nestes gráficos as amostras estão representadas por um código indican<strong>do</strong> a<br />
Fase e a unidade estratigráfica (ex. IV65); as espécies estão referidas pelos códigos<br />
indica<strong>do</strong>s no quadro 4.5 e as variáveis externas (ecologia e porte) pelos códigos referi<strong>do</strong>s<br />
nos quadros 4.3 e 4.4.<br />
Os PCA das figuras 4.8 e 4.9 salientam a existência de três principais grupos de<br />
amostras (U.E.):<br />
1. A amostra IV11, que deve a sua originalidade aos tipos xilotómicos Esu, Euc, Qc e<br />
Cy, ou seja tipos pouco frequentes na totalidade das amostras mas que se concentram<br />
nesta em particular.<br />
2. As amostras V9, IV24, IV50, IV63, e III95, constituem-se como amostras com pouca<br />
variabilidade específica, ou seja, com poucos tipos xilotómicos (as únicas com menos de<br />
dez). Na verdade o que serve de base a este grupo homogéneo é exactamente o facto de<br />
se estabelecer uma correlação negativa com a generalidade <strong>do</strong>s tipos xilotómicos.<br />
Salienta-se ainda a U.E. [63], cuja originalidade se deve à presença <strong>do</strong> único<br />
fragmento de Sorbus sp. de todas as amostragens de flutuação (Lab.). Deve ser referi<strong>do</strong>,<br />
contu<strong>do</strong>, que entre as amostras de IV11, de recolha manual (RM) da unidade estratigráfica<br />
IV11 (não incluídas na análise numérica), foi identifica<strong>do</strong> este mesmo tipo xilotómico.<br />
3. O último grupo inclui as restantes amostras, exactamente aquelas que detêm a<br />
maior quantidade de tipos xilotómicos identifica<strong>do</strong>s. A distinção de <strong>do</strong>is sub-grupos<br />
encontra-se determinada pela associação ao conjunto de V3, IV20, IV65, IV70 e III71 de<br />
tipos pouco comuns como Qcc, Ca, Um, Ag e cAu.<br />
É perceptível que as U.E. que têm menos variabilidade de espécies são aquelas que<br />
mais se destacam, agrupan<strong>do</strong>-se no conjunto 2, acima menciona<strong>do</strong>. Ou seja, quanto maior<br />
for a quantidade de tipos xilotómicos que detêm, menor é a originalidade das U.E. A única<br />
excepção é exactamente a amostra com mais tipos xilotómicos, a IV11, devi<strong>do</strong> às razões<br />
acima expostas.<br />
Por outro la<strong>do</strong>, os tipos Eas, Qp e Qsc, segui<strong>do</strong>s de Fa e Qf são elementos<br />
determinantes para a distinção e distribuição das amostras. A presença ou ausência nas<br />
U.E. <strong>do</strong>s elementos em questão apresenta-se como principal factor de<br />
semelhança/dissemelhança ao nível da composição florística das amostras.<br />
Por sua vez, os RDA das figuras 4.10. e 4.11. demonstram a existência de <strong>do</strong>is grupos<br />
de difícil distinção, isto é, com muitas semelhanças ao nível ecológico e de porte:<br />
99
1. Um conjunto de U.E. encontra-se relaciona<strong>do</strong> com o factor ecológico Bper (Bosques<br />
de perenifólias). Tal deve-se em parte à abundância de amostras com Quercus ilex e<br />
Quercus perenifolia e também a uma correlação negativa com a ecologia Rip (Vegetação<br />
ripícola). De facto, algumas U.E. das presentes neste grupo, [9], [24], [50], [63], [66], [82] e<br />
[95], são os únicos contextos nos quais não se verifica a presença de Fraxinus angustifolia,<br />
a espécie ripícola representada em mais amostras.<br />
2. Algumas amostras, nomeadamente V3, IV20, IV22 e IV70, apresentam-se<br />
conectadas com espécies de porte B (pequenas arvores a arbustos) e A (arbóreo) e também<br />
a formações de Bcad (Bosques de cadicifólias). Este carácter deve-se à sua associação a<br />
espécies como a azinheira, carvalho-cerquinho e Quercus perenifolia (tipos morfológicos<br />
associa<strong>do</strong>s ao porte A e B) e Carvalho-negral e Quercus subgenus Quercus (de formações<br />
Bcad).<br />
Este grupo 2 apresenta uma correlação negativa com os giestais, estevais e urzais de<br />
Erica scoparia, Erica umbellata e Erica australis, ou seja, com formações arbustivas.<br />
Uma breve análise quantitativa (RDA da figura 4.11.) demonstra que o Pinheiro bravo<br />
é a espécie presente num maior número de amostras. Na verdade, só se encontra ausente<br />
da amostra IV63. Como tal, Pinus pinaster surge associa<strong>do</strong> a to<strong>do</strong>s os tipos xilotómicos<br />
identifica<strong>do</strong>s, com excepção de Sorbus sp., a única espécie exclusiva de IV63. Contu<strong>do</strong>,<br />
como foi já referi<strong>do</strong>, nas recolhas manuais (RM) surgem também fragmentos desta<br />
Rosaceae, nomeadamente em amostras da U.E. [11], aí associa<strong>do</strong>s a Pinus pinaster.<br />
É também evidente que as espécies arbustivas surgem em poucas amostras. Porém,<br />
poder-se-á supor que o facto deste RDA incluir maioritariamente casos de identificação<br />
específica terá conduzi<strong>do</strong> a uma sub-representação das urzes, as quais, em fragmentos de<br />
carvão de pequena dimensão é difícil de ir além de grupos xilotómicos mais amplos. A<br />
simples observação <strong>do</strong> quadro 4.1. demonstra que a inclusão <strong>do</strong>s tipos morfológicos mais<br />
amplos iria alterar pouco as leituras aqui expostas.<br />
Por fim deve ser referi<strong>do</strong> que os tipos xilotómicos Quercus ilex e Quercus perenifolia<br />
surgem associa<strong>do</strong>s usualmente a amostras onde <strong>do</strong>minam as espécies arbóreas (ver<br />
também quadro 4.3 onde após leitura atentada, este facto torna-se visível).<br />
100
-0.6 1.0<br />
Qp<br />
Qf<br />
QQ<br />
Fa<br />
Ci<br />
Qsc<br />
Au<br />
Qfc<br />
cCi<br />
Pi<br />
Eu<br />
Qcc<br />
IV21<br />
IV65<br />
Esu<br />
Ag<br />
Er<br />
cAu<br />
Ear<br />
Euc<br />
Qc<br />
Ca<br />
-1.0 0.6<br />
Cy<br />
cEar<br />
Eaa<br />
IV66<br />
Eas<br />
cFa<br />
III82<br />
Jr<br />
Qic Es<br />
Qpe<br />
Qs<br />
IV22<br />
Pp<br />
cEr<br />
IV11<br />
Qi<br />
IV20<br />
IV70 Um<br />
V3<br />
Ea<br />
So<br />
IV24<br />
IV50<br />
Figuras 4.8. – Antracologia: PCA com diferentes amostras e tipos<br />
morfológicos·<br />
III71<br />
IV63<br />
V9<br />
III95<br />
101<br />
-1.0 1.2<br />
IV65<br />
IV21<br />
IV20<br />
IV66<br />
IV11<br />
IV70<br />
III82<br />
V3<br />
III71<br />
-1.0 1.0<br />
Figura 4.9. – Antracologia: quantidades de tipos morfológicos por<br />
amostra (ver Quadros 4.4. e 4.5 para legenda)<br />
IV22<br />
IV50<br />
III95<br />
IV63<br />
V9<br />
IV24
-0.7 0.8<br />
Ear<br />
Rip<br />
So<br />
G<br />
Ag Ca<br />
Um Fa<br />
Jr<br />
Es<br />
Arb<br />
Ci<br />
Cy Eu<br />
Ea<br />
Qc<br />
Bcad<br />
-0.8 1.0<br />
IV63<br />
Bper<br />
Figura 4.10. – Antracologia: RDA com amostras, tipos morfológicos e variáveis<br />
explicativas<br />
A<br />
Qs<br />
Qi<br />
Qpe<br />
III95<br />
Qf<br />
IV20<br />
B<br />
IV24<br />
III71<br />
IV11<br />
V9<br />
Qp<br />
Au<br />
IV70<br />
IV65<br />
IV50<br />
IV21<br />
IV22<br />
V3<br />
III82<br />
IV66<br />
QQ<br />
Pp<br />
Pin<br />
-0.8 0.8<br />
102<br />
Ear<br />
Rip<br />
So<br />
G<br />
Fa<br />
Ag<br />
Jr<br />
Es<br />
Ca<br />
Um<br />
Arb<br />
Qc<br />
Eu Ea<br />
Cy<br />
Ci<br />
IV63<br />
Bcad<br />
Bper<br />
-0.8 1.0<br />
Figura 4.11. – Antracologia: RDA com quantidade de amostras nas<br />
quais se encontra cada tipo morfológico<br />
Qs<br />
A<br />
III95<br />
Qf<br />
Qpe<br />
Qi<br />
Qp<br />
IV20<br />
B<br />
IV24<br />
III71<br />
IV11<br />
V9<br />
IV70<br />
IV65<br />
IV50<br />
IV21<br />
Au<br />
IV22<br />
V3<br />
III82<br />
IV66<br />
QQ<br />
Pin<br />
Pp
Código Ecologia<br />
Arb Formações arbustivas<br />
Bcad Bosques de caducifólias<br />
Bper Bosques de perenifólias<br />
Pin Pinhal<br />
Rip Bosques/Galerias rípicolas<br />
Quadro 4.3. – Antracologia: variável Ecologia<br />
(legenda)<br />
Código Porte<br />
A Arbóreo<br />
B Pequenas árvores (a arbustos)<br />
G Arbustivo<br />
Quadro 4.4. – Antracologia: variável Porte<br />
(legenda)<br />
Espécie Codigo<br />
Arb<br />
Ecologia<br />
Bcad Bper Pin Rip A<br />
Porte<br />
B G<br />
Alnus glutinosa Ag 0 0 0 0 1 1 0<br />
Arbutus une<strong>do</strong> Au 0 0 1 0 0 1 1<br />
Cistus sp. Ci 1 0 0 0 0 0 0<br />
Corylus avelana Ca 0 0 0 0 1 1 0<br />
Cytisus/Genista/Ulex Cy 1 0 0 0 0 0 0<br />
Erica arborea Ear 1 1 0 0 1 0 0<br />
Erica australis Ea 1 0 0 0 0 0 0<br />
Erica scoparia Es 1 1 1 0 0 0 0<br />
Erica umbellata Eu 1 0 0 0 0 0 0<br />
Fraxinus angustifolia Fa 0 0 0 0 1 1 0<br />
Juglans regia Jr 0 0 0 0 1 1 0<br />
Pinus pinaster Pp 0 1 0 1 0 1 0<br />
Quercus coccifera Qc 1 0 1 0 0 1 0<br />
Quercus ilex Qi 1 0 1 0 0 1 1<br />
Quercus faginea Qf 1 1 1 0 0 1 1<br />
Quercus pyrenaica (tipo) Qp 0 1 0 0 0 1 0<br />
Quercus perenifolia Qpe 1 0 1 0 0 1 1<br />
Quercus suber Qs 0 0 1 0 0 1 0<br />
Quercus subgenus Quercus QQ 0 1 0 0 0 1 1<br />
Sorbus sp. So 0 1 0 0 1 0 0<br />
Ulmus minor Um 0 0 0 0 1 1 0<br />
Quadro 4.5. (1) – Antracologia: código de tipos morfológicos e atribuição de Ecologia e Porte<br />
Grupos xilotómicos Código<br />
cf. Arbutus une<strong>do</strong> cAu<br />
cf. Cistus sp. cCi<br />
Erica arborea/australis/scoparia Eas<br />
Erica australis/arborea Eaa<br />
Erica cf. umbellata Euc<br />
Erica scoparia/umbellata Esu<br />
Erica sp. Er<br />
cf. Erica sp. cEr<br />
cf. Erica arborea cEar<br />
cf. Fraxinus angustifolia cFa<br />
Pinus sp. Pi<br />
Quercus cf. coccifera Qcc<br />
Quercus cf. ilex Qic<br />
Quercus cf. faginea Qfc<br />
Quercus suber/coccifera Qsc<br />
Quercus sp. Qu<br />
cf. Quercus sp. cQu<br />
Quadro 4.5. (2) – Antracologia: código de tipos morfológicos<br />
103<br />
0<br />
0<br />
1<br />
0<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1<br />
0
2.2.2. As recolhas manuais - RM<br />
Entre as inúmeras recolhas manuais efectuadas durante os trabalhos arqueológicos <strong>do</strong><br />
Sector B da Terronha de Pinhovelo foram seleccionadas algumas para análise neste estu<strong>do</strong>.<br />
Os critérios de selecção prenderam-se com as seguintes motivações:<br />
- Acrescentar da<strong>do</strong>s complementares para U.E. que forneceram poucos carvões nas<br />
amostras tratadas por flutuação e ao mesmo tempo comparar a eficácia <strong>do</strong>s diferentes tipos<br />
de recolha.<br />
- Averiguar realidades consideradas relevantes que não foram amostradas de forma<br />
sistemática para flutuação.<br />
Como é visível, comparan<strong>do</strong> os quadros 4.1. e 4.2., as U.E. [11], [22], [82] e [95],<br />
forneceram de um mo<strong>do</strong> geral menos tipos xilotómicos que as amostragens de flutuação<br />
das mesmas realidades. O caso mais evidente é a U.E. [82].<br />
De resto, as recolhas manuais de macro-restos vegetais forneceram somente três<br />
novos tipos xilotómicos face às recolhas por flutuação. Tratam-se de., Prunus spinosa,<br />
Hedera helix e Rosa sp e, com excepção deste último detecta<strong>do</strong> na U.E. [95], foram<br />
recolhi<strong>do</strong>s em contextos que não foram alvo de flutuações de sedimentos.<br />
Os derrubes <strong>do</strong> Compartimento/Ambiente II, U.E. [5], [6] e [23], são muito semelhantes<br />
entre si, apesar de a primeira apresentar algumas especificidades (Arbutus une<strong>do</strong>, Cistus sp<br />
e Prunus spinosa).<br />
Foram estudadas as amostras IV43] e III49, cujas posições estratigráficas se definem<br />
pelas suas relações físicas directas da seguinte forma na matriz de Harris:<br />
43<br />
49<br />
Apesar de se verificarem algumas semelhanças entre os <strong>do</strong>is contextos, existem<br />
também significativas diferenças, nomeadamente a presença de medronheiro e freixo na<br />
mais recente, e a identificação na mais antiga, o derrube [49], de Alnus glutinosa, Erica<br />
australis, Pinus pinaster, Q. coccifera e Q. ilex.<br />
Já as relações físicas directas das U.E. [47], [53] e [86] representam-se em matriz da<br />
seguinte forma:<br />
47<br />
53<br />
86<br />
104
As duas realidades mais recentes são quase iguais ao nível da composição florística.<br />
No que respeita ao depósito mais antigo, a U.E. [86], o facto de ter forneci<strong>do</strong> poucos<br />
carvões impossibilita comparações fiáveis.<br />
2.3. Carpologia: análise de da<strong>do</strong>s<br />
2.3.1. Espécies silvestres<br />
2.3.1.1. Distribuição pelas amostras<br />
V3 V9 IV11 IV20 IV21 IV22 IV50 IV63 IV65 IV66 IV70 III71 III82 III95<br />
Anthemis cotula 1<br />
cf. Aquilegia sp. 1<br />
Brassica sp. 1<br />
cf. Cerastium sp. 1<br />
Cistus sp. 1<br />
Erica scoparia -<br />
folhas<br />
3<br />
Erica sp. Folhas 2<br />
Euphorbia<br />
helioscopia tipo<br />
1<br />
Polygonum<br />
aviculare<br />
2 1 1<br />
Polygonum<br />
bifaceta<strong>do</strong><br />
1<br />
Portulaca<br />
oleraceae<br />
8 6 4 3 1<br />
Quercus sp. -<br />
frag<br />
Rumex crispus<br />
tipo<br />
5 1 1<br />
Sambucus cf.<br />
ebulus<br />
1<br />
Graminea<br />
cf.Lolium<br />
1 1 1 1 4 1 1<br />
Graminea cf.<br />
Lolium - frag<br />
2 4<br />
Graminea -<br />
ind.<br />
1 3<br />
Indetermina<strong>do</strong>s 1 1 1 1<br />
Fruto<br />
indetermina<strong>do</strong><br />
1<br />
Indetermina<strong>do</strong>s<br />
frags<br />
1 3 5 2 1 4<br />
Quadro 4.6. – Carpologia: espécies silvestres encontradas em Lab.<br />
105<br />
1<br />
1
Como é possível ver no Quadro 4.6, várias espécies silvestres só se encontram<br />
representadas num contexto e, ainda assim, em pequenas quantidades. A U.E. [70] foi o<br />
contexto que mais espécies silvestres forneceu no Sector B da Terronha de Pinhovelo,<br />
segui<strong>do</strong> de [3]. Estes <strong>do</strong>is contextos apenas têm em comum Portulaca oleraceae e Cf.<br />
Lolium.<br />
As duas espécies acima mencionadas, são exactamente aquelas que se encontram<br />
representadas num maior número de contextos, incluin<strong>do</strong> estruturas de combustão e<br />
depósitos dispersos. De igual mo<strong>do</strong>, são as espécies das quais foram encontradas mais<br />
sementes, salientan<strong>do</strong>-se as 22 sementes de beldroega.<br />
Salienta-se uma diferença importante entre as duas lareiras <strong>do</strong> Ambiente I (U.E. [65] e<br />
[66]), a ausência, na primeira, de qualquer gramínea selvagem. Embora as beldroegas<br />
sejam mais frequentes em contextos ruderais e hortícolas (ver quadro em Anexo VIII),<br />
Polygonum aviculare e Lolium sp. poderão resultar de contaminações durante a colheita<br />
cerealífera, visto ocorrerem frequentemente como infestantes desses contextos.<br />
No que respeita à lareira <strong>do</strong> Ambiente II (U.E. [71]), forneceu, a nível de espécies<br />
silvestres, um único fragmento identificável - parte de uma bolota. Entenden<strong>do</strong> que o<br />
depósito [22] se encontra associa<strong>do</strong> a [71], cobrin<strong>do</strong>-a parcialmente torna-se relevante notar<br />
aí uma grande presença de glandes de Quercus sp (ver recolhas manuais, Quadro 4.7.).<br />
Nenhuma bolota foi recuperada no Ambiente I, circunscreven<strong>do</strong>-se mesmo a sua<br />
ocorrência, entre as amostras provenientes de flutuação (Lab.), a contextos <strong>do</strong> Ambiente II.<br />
As recolhas manuais confirmam este pre<strong>do</strong>mínio (ver Quadro 4.7.), embora testemunhem<br />
também a presença destes futos em outras áreas <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>.<br />
U.E.<br />
Vicia faba<br />
inteira<br />
Vicia faba<br />
fragmentos<br />
Vicia faba<br />
TOTAL<br />
Quercus sp.<br />
fragmentos<br />
Quercus sp.<br />
metades<br />
IV6 1<br />
IV11 1 1<br />
IV22 32 2<br />
IV23 4 1<br />
III46 1 1<br />
III46 1 1 1<br />
III49 1 0<br />
T 3 5 4 34 2<br />
Quadro 4.7. – Carpologia: recolhas manuais de favas e bolotas<br />
106
2.3.2. Favas<br />
É evidente pela leitura <strong>do</strong> quadro 4.8 que as favas não se encontram<br />
homogeneamente distribuídas pelas amostras e pela área de escavação. De facto, das 60<br />
sementes recolhidas por flutuação, 47 foram recolhidas na área de combustão [65] e outras<br />
8 são provenientes de amostras <strong>do</strong> depósito [20]. Se tivermos em conta que as amostras<br />
recolhidas neste depósito correspondem a níveis de definição <strong>do</strong> depósito [65] então<br />
podemos assumir que todas as 55 sementes (91,7% <strong>do</strong> total de favas) pertencem a um<br />
mesmo contexto, uma estrutura de combustão <strong>do</strong> Ambiente I.<br />
Deve-se ainda referir que ten<strong>do</strong> em conta que só foi sub-amostra<strong>do</strong> 14,2% <strong>do</strong><br />
sedimento da U.E. [65], esta contaria, potencialmente, com um total de 331 favas.<br />
De resto, é relevante notar que a estrutura de combustão [66] que ladeia a [65] não<br />
forneceu qualquer semente inteira. De facto, este contexto forneceu unicamente fragmentos<br />
de fava muito pequenos que, por nenhum apresentar o hilo, não foram considera<strong>do</strong>s uma<br />
unidade. Esta diferença entre as duas estruturas é muito relevante e deverá ser passível de<br />
interpretações conjuntas com os da<strong>do</strong>s das restantes espécies.<br />
As recolhas manuais estudadas permitiram a detecção de 4 favas, distribuídas pelas<br />
U.E. [11], [23], e duas em [46].<br />
U.E. Frags. Inteiras u. frag. Total<br />
V3 4 1 0 1<br />
IV20 60 1 7 8<br />
IV21 6 0 2 2<br />
IV65 284 9 38 47<br />
IV66 18 0 0 0<br />
IV70 10 0 1 1<br />
III95 1 0 1 1<br />
T 383 11 49 60<br />
Quadro 4.8. – Carpologia: Vicia faba em amostras de flutuação (Lab.). Consideram-se unidades<br />
fragmentadas to<strong>do</strong>s os fragmentos com hilo, entendi<strong>do</strong>s, assim, como uma unidade efectiva<br />
2.3.3. Milhos<br />
Foram recuperadas algumas cariopses de milho nos contextos arqueológicos de TP.<br />
Enquanto que somente um grão foi identifica<strong>do</strong> como Setaria italica, treze foram<br />
classifica<strong>do</strong>s como Panicum miliaceum. Estes são, contu<strong>do</strong>, sempre minoritários face às<br />
outras espécies de cereal identificadas.<br />
Apenas os contextos das Fases III e IV forneceram grãos de milho, e se, por um la<strong>do</strong>,<br />
é possível deduzir a existência de uma certa concentração destes nos Ambientes I e II, por<br />
107
outro, a maior concentração <strong>do</strong> esforço de amostragem na área <strong>do</strong>s referi<strong>do</strong>s<br />
compartimentos poderá ter enviesa<strong>do</strong> de forma marcada esta distribuição. De resto, foi<br />
identificada uma cariopse de milho-miú<strong>do</strong> no interior de um recipiente na U.E. [95], e outras<br />
duas na estrutura de armazenagem (Ambiente IV), localizadas na parte Este e Norte <strong>do</strong><br />
Sector respectivamente.<br />
Somente no interior da estrutura de armazenagem, na U.E. [82], o milho se encontra<br />
em quantidades semelhantes às <strong>do</strong>s restantes cereais (2 grãos), mas a diminuta quantidade<br />
de sementes aí recolhida não permite qualquer conclusão mais arrojada.<br />
De resto, todas as áreas de combustão <strong>do</strong>s compartimentos em questão forneceram<br />
grãos de milho, mas em percentagens muito pequenas face aos restantes cereais (4%). No<br />
cômputo geral das amostras o milho completa somente 2% <strong>do</strong> total <strong>do</strong>s cereais<br />
encontra<strong>do</strong>s.<br />
2.3.4. Trigos e cevada<br />
Setaria Panicum Panicum /<br />
U.E. italica miliaceum Setaria<br />
IV21 1 1/ 2<br />
IV22 1<br />
IV24 2<br />
IV65 1<br />
IV66 1 1<br />
IV70 2<br />
III71 2<br />
III82 2<br />
III95 1<br />
T 1 13 0<br />
Quadro 4.9. – Carpologia: milho em amostras de flutuação (Lab.)<br />
2.3.4.1. Distribuição das cariopses pelas amostras<br />
A quantidade de grãos de cereal encontra<strong>do</strong>s nas amostras estudadas é visível no<br />
quadro 4.10. Contu<strong>do</strong>, o facto de cada contexto ter si<strong>do</strong> amostra<strong>do</strong> e sub-amostra<strong>do</strong> de<br />
forma desigual condiciona a leitura desse mesmo quadro. Deste mo<strong>do</strong>, a partir <strong>do</strong> peso total<br />
<strong>do</strong>s sedimentos de cada U.E. recolhi<strong>do</strong>s no campo e da percentagem da sub-amostragem<br />
sobre a qual incidiu este estu<strong>do</strong> arqueobotânico (ver quadro 3.1) foi efectua<strong>do</strong> um cálculo de<br />
forma a perceber quais as potenciais quantidades de cereais presentes nos sedimentos<br />
recolhi<strong>do</strong>s (ver total no quadro 4.11). O estu<strong>do</strong> estatístico da distribuição das cariopses<br />
pelas amostras foi realiza<strong>do</strong> sobre os valores deste quadro e excluiu as três amostras que<br />
108
forneceram menos de uma dezena de sementes nas sub-amostras estudadas (V4, IV22 e<br />
III82).<br />
Ainda assim é necessário ter em conta que, se no caso das áreas de combustão [65],<br />
[66] e [71] foi recolhi<strong>do</strong> em escavação a totalidade <strong>do</strong> sedimento para sub-amostragem em<br />
laboratório e, por isso, o cálculo fornecerá um numero potencial de cariopses de to<strong>do</strong> o<br />
depósito, o mesmo não acontece com os restantes sedimentos. O número obti<strong>do</strong> nestes<br />
através <strong>do</strong> cálculo referi<strong>do</strong> demonstrará somente a riqueza das amostras recolhidas no<br />
campo que, por sua vez, são só uma parte da totalidade (não quantificada) <strong>do</strong> sedimento<br />
escava<strong>do</strong>.<br />
V3 V4 IV20 IV21 IV22 IV24 IV50 IV65 IV66 IV70 III71 III82 III95 Total<br />
T. monococcum 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3<br />
T. dicoccum 28 0 17 8 0 3 0 31 25 8 2 0 2 124<br />
T. cf. dicoccum 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 0 0 10<br />
T. dicoccum/aestivum 1 0 0 0 0 0 1 4 6 0 0 1 0 13<br />
T. dicoccum/spelta 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6<br />
T. spelta 1 0 2 0 0 1 0 4 4 3 1 0 1 17<br />
T. cf. spelta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1<br />
T. aestivum 24 0 10 1 1 2 0 24 20 7 1 0 0 90<br />
T. cf. aestivum 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 7<br />
T. aestivum/compactum 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3<br />
T. compactum 14 0 6 8 0 0 0 16 10 6 1 0 1 62<br />
T. cf. compactum 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2<br />
Triticum sp. 57 0 14 2 0 5 4 21 55 15 4 2 5 184<br />
H. vulgare 14 0 19 22 3 2 4 44 8 26 4 2 2 150<br />
Hordeum sp. 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 6<br />
Indetermina<strong>do</strong> 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3<br />
Total 142 1 69 43 6 13 11 157 141 66 14 5 13 681<br />
Quadro 4.10. – Carpologia: cariopses de cereal em amostras de flutuação (Lab.). Número de<br />
cariopses contadas em cada amostra.<br />
V3 V4 IV20 IV21 IV22 IV24 IV50 IV65 IV66 IV70 III71 III82 III95 Total<br />
T. monococcum 0 0 0 0 8 0 0 0 11 0 0 0 0 19<br />
T. dicoccum 185 0 84 22 0 5 0 218 276 30 5 0 9 835<br />
T. cf. dicoccum 7 0 0 0 0 0 0 42 22 0 2 0 0 73<br />
T. dicoccum/aestivum 7 0 0 0 0 0 6 28 66 0 0 3 0 111<br />
T. dicoccum/spelta 7 0 0 3 0 0 0 0 44 0 0 0 0 54<br />
T. spelta 7 0 10 0 0 2 0 28 44 11 2 0 5 109<br />
T. cf. spelta 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7<br />
T. aestivum 159 0 49 3 4 3 0 169 221 26 2 0 0 637<br />
T. cf. aestivum 7 0 5 0 0 0 0 7 33 4 0 0 0 55<br />
T. aestivum/compactum 0 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 20<br />
T. compactum 93 0 30 22 0 0 0 113 110 23 2 0 5 397<br />
T. cf. compactum 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0 18<br />
Triticum sp. 378 0 69 5 0 8 24 148 608 56 10 7 23 1336<br />
H. vulgare 93 0 93 60 12 3 24 310 88 98 10 7 9 808<br />
Hordeum sp. 0 0 0 3 0 0 12 0 11 0 0 0 9 35<br />
Indetermina<strong>do</strong> 0 0 0 0 0 0 0 14 11 0 0 0 0 25<br />
Total 941 6 340 117 24 20 67 1106 1558 248 35 17 61 4539<br />
Quadro 4.11. – Carpologia: potenciais quantidades de cariopses de contextos amostra<strong>do</strong>s por<br />
flutuação (Lab.). Quantidades inferidas para cada amostra (número de grãos na totalidade da amostra<br />
recolhida).<br />
A principal diferença entre as diversas amostras no que respeita à presença de cereais<br />
é ao mesmo tempo a mais importante condicionante <strong>do</strong>s resulta<strong>do</strong>s da PCA da figura 4.12:<br />
109
a grande diferença na quantidade total de grãos que faz salientar as amostras V3, IV65 e<br />
IV65. Na verdade, o facto de as três U.E. em questão apresentarem bastante mais grãos<br />
que as restantes, origina uma PCA fortemente condicionada por este aspecto, com uma<br />
leitura difícil. A existência de uma correlação negativa de todas as outras amostras com<br />
todas as espécies deve-se a este factor.<br />
Denota-se, contu<strong>do</strong>, a existência de uma proximidade no conteú<strong>do</strong> das U.E. [3] e [66].<br />
Estas distinguem-se da U.E. [65] principalmente pela presença de T. dicoccum/spelta e T.<br />
monococcum, assim como de Hordeum sp. Por sua vez, IV65 deve a sua originalidade aos<br />
valores de T. cf. spelta , T. compactum/aestivum e Hordeum vulgare. Torna-se evidente que<br />
algumas das principais diferenças destes contextos residem principalmente nas cariopses<br />
para as quais houve significativos problemas em almejar uma identificação específica.<br />
A observação <strong>do</strong> gráfico da figura 4.14 permite perceber que a principal diferença entre<br />
as duas áreas de combustão, [65] e [66], encontra-se na grande abundância de grãos de<br />
cevada da amostra IV65 e na presença em IV66 de T. monococcum (ainda que em pequena<br />
quantidade) assim como de grãos de trigo cuja identificação não ultrapassou o género, da<strong>do</strong><br />
o seu o mau esta<strong>do</strong> de conservação. As restantes diferenças são de pequena importância e<br />
prendem-se, essencialmente, com a diferença na quantidade de grãos recolhi<strong>do</strong>s nos <strong>do</strong>is<br />
contextos.<br />
Há também, como é possível ler na figura 4.16, uma ligeira diferença entre a<br />
frequência de cariopses de trigo de semente nua ou semente vestida. Porém, não é muito<br />
significativa.<br />
110
-0.6 1.0<br />
IV_21<br />
IV_24<br />
IV_20<br />
IV_50<br />
III_71<br />
III_95<br />
-0.4 1.2<br />
Figura 4.12. – Carpologia: PCA com diferentes amostras e tipos morfológicos·de<br />
cariopses<br />
IV_70<br />
IV_65<br />
H<br />
Tsc<br />
Tca<br />
Hv<br />
V_3<br />
Tdc<br />
Tde<br />
Tm<br />
Tcc<br />
Ts<br />
IV_66<br />
Tda<br />
Tc<br />
Tac<br />
Td<br />
Ta<br />
T<br />
111<br />
-0.8 0.9<br />
III_71<br />
IV_24<br />
H<br />
IV_50<br />
III_95<br />
Tdc<br />
Tda<br />
IV_21<br />
Tde<br />
IV_70<br />
-0.6 1.0<br />
Ts<br />
Td<br />
Hv<br />
IV_20<br />
Figura 4.13 – Carpologia: PCA excluin<strong>do</strong> amostras com maior quantidade de<br />
cariopses<br />
Tc<br />
Tac<br />
T<br />
Ta
Quantidade<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Tm Td Tdc Tda Tde Ts Tsc Ta Tac Tca Tc Tcc T Hv H I<br />
Tipo morfológico<br />
Figura 4.14. – Carpologia: comparação entre frequência de cariopses de IV65 e IV66<br />
112<br />
IV_65<br />
IV_66
No quadro 4.12. apresentam-se os códigos pelos quais se nomeiam os tipos<br />
morfológicos neste estu<strong>do</strong>.<br />
Tipo morfológico Código<br />
T. monococcum Tm<br />
T. dicoccum Td<br />
T. cf. dicoccum Tdc<br />
T. dicoccum/aestivum Tda<br />
T. dicoccum/spelta Tde<br />
T. spelta Ts<br />
T. cf. spelta Tsc<br />
T. aestivum Ta<br />
T. cf. aestivum Tac<br />
T. aestivum/compactum Tca<br />
T. compactum Tc<br />
T. cf. compactum Tcc<br />
Triticum sp. T<br />
H. vulgare Hv<br />
Hordeum sp. H<br />
Indetermina<strong>do</strong> I<br />
Quadro 4.12. – Carpologia: códigos de tipos morfológicos<br />
de cereais<br />
De forma a permitir uma melhor representação das restantes realidades, realizou-se<br />
uma PCA sem as três amostras com mais cariopses (figura 4.13). Contu<strong>do</strong>, o que ressalta<br />
de forma evidente é a inoperacionalidade e escassa utilidade <strong>do</strong> tratamento estatístico de<br />
amostras que, para além <strong>do</strong> escasso número de sementes, se caracterizam pela presença<br />
de demasiadas cariopses em mau esta<strong>do</strong> de conservação, sem uma classificação<br />
específica.<br />
De qualquer mo<strong>do</strong>, de forma sumária, é possível apontar a evidência de três principais<br />
grupos de amostras.<br />
O primeiro é constituí<strong>do</strong> pela amostra IV20, cuja maior diferença face às restantes U.E.<br />
aparenta ser a quantidade de cariopses identificadas.<br />
O segun<strong>do</strong> grupo é constituí<strong>do</strong> por IV21 e IV70, amostras <strong>do</strong> Ambiente II,<br />
apresentan<strong>do</strong> Triticum dicoccum/spelta (presente em IV21) e a cevada (muito abundante em<br />
IV70) como principais elementos discriminantes. Na verdade, como é possível perceber na<br />
figura 4.15, a cevada apresenta nestas U.E. níveis percentuais mais significativos que nas<br />
restantes amostras analisadas, assumin<strong>do</strong>-se como uma característica <strong>do</strong> grupo em<br />
questão.<br />
No último conjunto de da<strong>do</strong>s, as amostras III71, III95 e IV24 apresentam uma<br />
correlação negativa com a cevada, espécie pouco representada nas últimas duas amostras,<br />
enquanto que a U.E. [50] caracteriza-se pela correlação negativa com Triticum spp. Este<br />
113
facto é, contu<strong>do</strong> artificial, já que é fruto de não se ter logra<strong>do</strong> a identificação ao nível da<br />
espécie de qualquer cariopse de trigo desta amostra.<br />
Em suma, as únicas linhas de análise passíveis de seguir com os da<strong>do</strong>s em questão<br />
são a comparação entre duas estruturas de combustão <strong>do</strong> Ambiente I e a distinção e<br />
caracterização <strong>do</strong> Ambiente II, cuja interpretação é ainda uma incógnita.<br />
Recolhas manuais<br />
Foram recolhidas cariopses de cereal em algumas das amostras de recolha manual<br />
(Quadro 4.13). Destas salienta-se a U.E. [46], possível nível de piso que reaproveita o que<br />
restava das paredes de uma construção de planta circular. Neste depósito, possivelmente<br />
associa<strong>do</strong> à U.E. [11] foram identificadas sementes de cevada e trigo (maioritariamente<br />
identificadas apenas ao nível genérico).<br />
Por outro la<strong>do</strong>, a U.E. [11] cujas amostras tratadas por flutuação não forneceram<br />
qualquer cariopse intacta, conta em RM com escassas sementes, em especial de cevada.<br />
U.E. Nº Espécie L B H L/B L/H B/H B/L*100 H/B*1OO<br />
1 T. dicoccum 4,7 2,7 2,1 1,74 2,24 1,29 57,45 77,78<br />
IV11<br />
2H. vulgare<br />
3H. vulgare<br />
4H. vulgare<br />
5,9<br />
4,9<br />
2,9<br />
3,1<br />
2,5<br />
2,4<br />
2,03<br />
1,58<br />
2,36<br />
2,04<br />
1,16<br />
1,29<br />
49,15<br />
63,27<br />
86,21<br />
77,42<br />
IV23<br />
1T. aestivum<br />
2Triticum sp.<br />
5,1 3,2 2,5 1,59 2,04 1,28 62,75 78,13<br />
1T. aestivum 5 3,2 2,7 1,56 1,85 1,19 64,00 84,38<br />
2T. aestivum 5,2 3,3 2,9 1,58 1,79 1,14 63,46 87,88<br />
3 T. compactum 5 3,5 3 1,43 1,67 1,17 70,00 85,71<br />
4 T. compactum 4,8 3,5 2,6 1,37 1,85 1,35 72,92 74,29<br />
5 T. dicoccum<br />
6Triticum sp.<br />
7Triticum sp.<br />
8Triticum sp.<br />
5,7 3 2,6 1,90 2,19 1,15 52,63 86,67<br />
III46 9Triticum sp.<br />
10 Triticum sp.<br />
11 H. vulgare 5 2,3 1,8 2,17 2,78 1,28 46,00 78,26<br />
12 H. vulgare 5,5 3,2 2,1 1,72 2,62 1,52 58,18 65,63<br />
13 H. vulgare<br />
14 H. vulgare<br />
15 H. vulgare<br />
16 H. vulgare<br />
17 H. vulgare<br />
5,7 2,9 2,3 1,97 2,48 1,26 50,88 79,31<br />
III49 1 T. compactum 5,1 3,4 2,8 1,50 1,82 1,21 66,67 82,35<br />
Quadro 4.13. – Carpologia: quantidade e biometria de cereais de recolhas manuais<br />
114
Figura 4.15. – Carpologia: quantidade relativa de trigo e cevada de amostras com mais cariopses<br />
115
Figura 4.16. – Carpologia: proporções de trigos vesti<strong>do</strong>s e nus das amostras com mais cariopses<br />
116
2.3.4.2. Biometria de cariopses<br />
A classificação das cariopses de género Triticcum foi realizada de acor<strong>do</strong> com<br />
características morfológicas externas mas também seguin<strong>do</strong> os parâmetros biométricos de<br />
S. Jacomet (2006). Como tal, os gráficos apresenta<strong>do</strong>s servem objectivos descritivos (de<br />
tipos morfológicos e de U.E.) e, ao mesmo tempo, de averiguação da uniformidade <strong>do</strong>s<br />
parâmetros utiliza<strong>do</strong>s e confirmação da existência de diferentes tipos morfológicos.<br />
Deste mo<strong>do</strong>, ainda que se tenha parti<strong>do</strong> de um preconceito (a identificação já realizada)<br />
o tratamento estatístico foi particularmente útil para a compreensão <strong>do</strong>s diferentes contextos<br />
e tipos morfológicos.<br />
Triticum spp.: distinção entre várias espécies através das cariopses<br />
Os boxplot da figura 4.17 (1 a 8) representam a comparação das diferentes espécies de<br />
Triticum no que respeita a cada um <strong>do</strong>s parâmetros biométricos considera<strong>do</strong>s. Se da leitura<br />
destes gráficos se torna evidente o eleva<strong>do</strong> nível de sobreposição apresenta<strong>do</strong> pelos<br />
parâmetros métricos simples (comprimento, largura e espessura), conferin<strong>do</strong>-lhes baixo valor<br />
discriminatório, já os índices biométricos usa<strong>do</strong>s apresentam menor sobreposição, o que<br />
reforça o seu uso no diagnóstico taxonómico das cariópses. Por outro la<strong>do</strong>, se observarmos<br />
os resulta<strong>do</strong>s da PCA realizada com os parâmetros biométricos das cerca de três centenas<br />
de trigos identifica<strong>do</strong>s na jazida (figuras 4.18 e 4.19, ver também o anexo I) onde a totalidade<br />
<strong>do</strong>s parâmetros é utilizada de forma multivariada na ordenação, verificamos uma dispersão<br />
sequencial das diferentes espécies de trigos, com os eixos de maior variância<br />
correspondentes precisamente aos índices C/L, L/C*100 e C/E, apresentan<strong>do</strong> zonas de<br />
sobreposição mínimas (cf. figura 4.19), o que parece confirmar a atribuição específica<br />
realizada e o valor diagnosticante <strong>do</strong>s parâmetros usa<strong>do</strong>s. Note-se no entanto que a<br />
dispersão da totalidade <strong>do</strong>s espécimens de trigo se representa de forma contínua,<br />
suceden<strong>do</strong>-se os diferentes tipos morfológicos ao longo <strong>do</strong>s eixos de variância, sem a<br />
formação de clusters morfológicos claramente individualiza<strong>do</strong>s – ocorre uma única mancha<br />
de dispersão total, se omitirmos a atribuição específica preconcebida. Este aspecto prendese<br />
certamente com a própria transição gradual da morfologia carpológica patenteada pelas<br />
próprias espécies de trigo.<br />
Os resulta<strong>do</strong>s expostos permitem-nos constatar a presença em Terronha de Pinhovelo<br />
de distintas espécies de trigo.<br />
As cariopses de T. monococcum distinguem-se das restantes (com excepção de T.<br />
spelta) por serem mais compridas. São normalmente mais espessas e menos largas que as<br />
de T. spelta. Tal diferença traduz-se, inclusive em índices distintos de C/L, L/E, L.C*100 e<br />
117
E/L*100. T. monococcum caracteriza-se, assim, pelas suas proporções entre largura e<br />
comprimento, sen<strong>do</strong> a cariopse estreita face ao comprimento apresenta<strong>do</strong>.<br />
Na bibliografia a distinção entre T. spelta e T. dicoccum surge como uma tarefa<br />
complicada. S. Jacomet (2006) refere mesmo que, quan<strong>do</strong> os grãos de T. spelta são<br />
carboniza<strong>do</strong>s na espiga ou na espigueta não se distinguem <strong>do</strong>s de T. dicoccum. Foi possível,<br />
mesmo assim, classificar alguns grãos de T. spelta, quan<strong>do</strong> os valores métricos se<br />
enquadravam nos valores típicos desta espécie, afastan<strong>do</strong>-se <strong>do</strong>s de T. dicoccum (ou seja<br />
os grãos eram mais compri<strong>do</strong>s, largos e, principalmente, apresentavam índices de C/L e C/E<br />
mais eleva<strong>do</strong>s). A leitura das PCAs confirma que o Comprimento <strong>do</strong>s grãos e a relação C/E<br />
são os argumentos biométricos que distinguem os <strong>do</strong>is tipos morfológicos defini<strong>do</strong>s pelo<br />
méto<strong>do</strong> de classificação, existin<strong>do</strong> ainda assim um eleva<strong>do</strong> nível de sobreposição (esse nível<br />
de sobreposição está sobrevaloriza<strong>do</strong> na PCA da figura 4.19 devi<strong>do</strong> à classificação como T.<br />
dicoccum de uma cariopse muito duvi<strong>do</strong>sa (visível na figura 4.18, e apresenta<strong>do</strong> como outlier<br />
no boxplot da figura 4.17 (5), com C/E muito eleva<strong>do</strong> (2,81) mas demasia<strong>do</strong> curta e espessa.<br />
Em suma, a distinção entre as cariopses das duas espécies em questão é difícil, poden<strong>do</strong><br />
somente ser feita ao nível <strong>do</strong>s grãos típicos.<br />
As cariopses de T. aestivum apresentam muitas semelhanças com as de T. dicoccum e<br />
T. compactum. Do ponto de vista da morfologia externa as cariopses são muito semelhantes.<br />
Embora se entenda que as extremidades <strong>do</strong>s grãos, assim como o perfil <strong>do</strong>rsal e ventral<br />
apresentam características próprias, a verdade é que estas são pouco variáveis.<br />
Contu<strong>do</strong>, o modelo de classificação de S. Jacomet (2006) baseia-se na relação entre<br />
características morfológicas e biométricas. A autora consegue esbater os níveis de<br />
sobreposição através <strong>do</strong> uso de diversas relações e índices métricos. Embora se admita a<br />
existência de uma certa artificialidade neste méto<strong>do</strong>, a verdade é que este representa<br />
tendências gerais relacionáveis com determinadas espécies identificadas pela morfologia<br />
externa da sua cariopse. Nas amostras aqui em estu<strong>do</strong>, estes parâmetros métricos<br />
evidenciam a existência de espécies distintas. A PCA demonstra que a Largura e o índice<br />
L/C*100, ambos com valores mais eleva<strong>do</strong>s para T. aestivum, e os índices C/L e C/E, com<br />
valores mais eleva<strong>do</strong>s para T. dicoccum são os elementos biométricos que melhor<br />
caracterizam as diferenças entre estes tipos morfológicos. Nos boxplot referentes a estes<br />
parâmetros é bem evidente que, embora haja um curto grau de sobreposição, são defini<strong>do</strong>s<br />
<strong>do</strong>is grupos distintos (particularmente visível em C/L e L/C*100). No que respeita a T.<br />
compactum, as cariopses apresentam um plano esferoidal, mercê da sua relação entre<br />
Comprimento e Largura. São, assim, cariopses curtas face à largura que apresentam (esta<br />
largura é muito semelhante a T. aestivum). Deste mo<strong>do</strong>, os parâmetros mais eficazes para a<br />
sua distinção são L/C*100 e obviamente C/L.<br />
118
T. aestivum T. compactum T. dicoccum T. spelta Hordeum vulgare<br />
Comprimento 4,8 ± 0,45 (3,6-6,3) 4,4 ± 0,58 (1,8-5,5) 5 ± 0,52 (3,6-6) 5,6 ± 0,43 (5-6,3) 5,1 ± 0,58 (3,7-6,4)<br />
Largura 3 ± 0,28 (2,2-3,9) 3,2 ± 0,43 (1,3-4,2) 2,7 ± 0,29 (2-3,4) 2,9 ± 0,42 (2,1-3,7) 3 ± 0,41 (2-3,9)<br />
Espessura 2,6 ± 0,27 (1,9-3,3) 2,6 ± 0,32 (1,1-3,2) 2,3 ± 0,29 (1,5-3,2) 2,2 ± 0,22 (2-2,7) 2,3 ± 0,38 (1,5-3,3)<br />
C/L 1,6 ± 0,05 (1,52-1,71) 1,4 ± 0,08 (1,15-1,54) 1,8 ± 0,09 (1,67-2,05) 2 ± 0,17 (1,7-2,38) 1,7 ± 0,22 (1,22-2,62)<br />
C/E 1,9 ± 0,16 (1,48-2,23) 1,7 ± 0,13 (1,44-1,69) 2,1 ± 0,18 (1,71-2,81) 2,6 ± 0,1 (2,33-2,71) 2,3 ± 0,34 (1,63-3,67)<br />
L/E 1,2 ± 0,1 (0,97-1,4) 1,2 ± 0,09 (1-1,4) 1,2 ± 0,1 (0,96-1,5) 1,3 ± 0,09 (1,05-1,44) 1,3 ± 0,11 (1,04-1,55)<br />
L/C*100 62,3 ± 1,92 (58,5-66) 71,3 ± 4,44 (65,1-86,8) 54,8 ± 2,77 (48,8-66,7) 51,5 ± 4,33 (42-58,73) 59 ± 7,22 (38,2-64,5)<br />
E/L*100 85,3 ± 7 (71,4-103,6) 83,4 ± 6,43 (71,4-100) 86,2 ± 7,4 (66,7-103,9) 76,5 ± 6,23 (69,4-95,2) 76,2 ± 6,38 (64,5-96,6)<br />
Quadro 4.14. – Carpologia: síntese de da<strong>do</strong>s biométricos de cariopses de cereais<br />
119
Comprimento<br />
Largura<br />
8,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
2,0<br />
0,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
Ta<br />
Ta<br />
IV70<br />
IV66<br />
V3<br />
IV70<br />
Tc<br />
Tc<br />
V3<br />
V3<br />
V3<br />
V3<br />
Td<br />
Espécie<br />
Td<br />
Espécie<br />
Figura 4.17 (1 e 2) – Carpologia: da<strong>do</strong>s biométricos, comparação entre espécies<br />
120<br />
V3<br />
Tm<br />
Tm<br />
Ts<br />
Ts<br />
IV65
Espessura<br />
C/L<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
2,50<br />
2,25<br />
2,00<br />
1,75<br />
1,50<br />
1,25<br />
1,00<br />
Ta<br />
IV66<br />
IV65<br />
V3<br />
Ta<br />
Tc<br />
V3<br />
Tc<br />
IV65<br />
Td<br />
IV66<br />
IV65<br />
IV20<br />
V3<br />
Espécie<br />
Figura 4.17 (3 e 4) – Carpologia: da<strong>do</strong>s biométricos, comparação entre espécies<br />
121<br />
Td<br />
Espécie<br />
Tm<br />
Tm<br />
Ts<br />
Ts<br />
IV24<br />
IV65
C/E<br />
L/E<br />
3,00<br />
2,80<br />
2,60<br />
2,40<br />
2,20<br />
2,00<br />
1,80<br />
1,60<br />
1,40<br />
1,50<br />
1,40<br />
1,30<br />
1,20<br />
1,10<br />
1,00<br />
0,90<br />
Ta<br />
Ta<br />
IV65<br />
Tc<br />
Tc<br />
IV66<br />
Figura 4.17 (5 e 6) – Carpologia: da<strong>do</strong>s biométricos, comparação entre espécies<br />
122<br />
Td<br />
IV65<br />
Espécie<br />
Td<br />
IV65<br />
Espécie<br />
Tm<br />
Tm<br />
Ts<br />
Ts<br />
IV65
L/C*100<br />
E/L*1OO<br />
90,00<br />
80,00<br />
70,00<br />
60,00<br />
50,00<br />
40,00<br />
110,00<br />
100,00<br />
90,00<br />
80,00<br />
70,00<br />
60,00<br />
Ta<br />
Ta<br />
IV65<br />
Tc<br />
Tc<br />
IV65<br />
IV66<br />
Figura 4.17 (7 e 8) – Carpologia: da<strong>do</strong>s biométricos, comparação entre espécies<br />
123<br />
Td<br />
Espécie<br />
Td<br />
Espécie<br />
Tm<br />
Tm<br />
Ts<br />
Ts<br />
IV65<br />
IV65
-1.0 1.0<br />
L/E<br />
L/C*100<br />
L<br />
E<br />
-1.0 1.0<br />
Figura 4.18. – Carpologia:<br />
PCA com biometria de trigos<br />
Legenda; T. spelta ( ■) ; T. dicoccum (+); T. monococcum ( ◄); T. aestivum ( ○); T. compactum <br />
C/E<br />
C<br />
C/L<br />
E/L*1OO<br />
124<br />
-1.0 1.0<br />
L/E<br />
L/C*100<br />
L<br />
Tc<br />
E<br />
Ta<br />
-1.0 1.0<br />
Figura 4.19. – Carpologia: PCA combiometria de trigos<br />
C/E<br />
C<br />
Ts<br />
Td<br />
C/L<br />
Tm<br />
E/L*1OO
Triticum spp: biometria de cariopses, comparação entre as diferentes U.E.<br />
Uma série de oito boxplot (figura 4.20) foram produzi<strong>do</strong>s de forma a detectar diferentes<br />
biometrias de cada tipo morfológico nas diferentes U.E. O resulta<strong>do</strong> evidente é que não se<br />
encontraram diferenças significativas entre os contextos de escavação.<br />
Assinala-se uma diferença significativa respeitante à largura <strong>do</strong>s grãos de T. aestivum<br />
nas estruturas de combustão [65] e [66]. Embora dentro da margem de sobreposição a<br />
análise <strong>do</strong>s 50% de cada amostra demonstra uma clara diferença: a maioria das cariopses<br />
de T. aestivum de IV66 são maiores que as de IV65. Um comportamento que se verifica<br />
também nos parâmetros Comprimento, Largura e Espessura, embora de forma menos<br />
acentuada. No entanto, o facto de tal não se traduzir em diferenças significativas nas<br />
relações e índices calcula<strong>do</strong>s, ou seja, nas proporções <strong>do</strong> grão, certifica que se trata <strong>do</strong><br />
mesmo grupo morfológico.<br />
Os valores que a amostra IV21 apresenta, por vezes um pouco distintos das restantes,<br />
não são aqui considera<strong>do</strong>s relevantes, da<strong>do</strong> nos encontrarmos perante uma amostra com<br />
uma pequena quantidade de cariopses, tornan<strong>do</strong>-se pouco relevante a sua comparação<br />
com as áreas de combustão acima mencionadas.<br />
Comprimento<br />
8,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
2,0<br />
0,0<br />
Ta<br />
Tc<br />
Espécie<br />
Figura 4.20 (1) – Carpologia: da<strong>do</strong>s biométricos, comparação entre amostras<br />
125<br />
Td<br />
U.E.<br />
IV20<br />
IV21<br />
IV65<br />
IV66<br />
IV70<br />
V3
Largura<br />
Espessura<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
Ta<br />
Ta<br />
Tc<br />
Espécie<br />
Tc<br />
Espécie<br />
Figura 4.20 (2 e 3) – Carpologia: da<strong>do</strong>s biométricos, comparação entre amostras<br />
126<br />
Td<br />
Td<br />
U.E.<br />
IV20<br />
IV21<br />
IV65<br />
IV66<br />
IV70<br />
V3<br />
U.E.<br />
IV20<br />
IV21<br />
IV65<br />
IV66<br />
IV70<br />
V3
C/L<br />
F<br />
i<br />
g<br />
u<br />
r<br />
a<br />
4<br />
.<br />
2<br />
0<br />
C/E<br />
(<br />
4<br />
e<br />
5<br />
)<br />
–<br />
C<br />
a<br />
r<br />
p<br />
o<br />
l<br />
2,50<br />
2,25<br />
2,00<br />
1,75<br />
1,50<br />
1,25<br />
1,00<br />
3,00<br />
2,80<br />
2,60<br />
2,40<br />
2,20<br />
2,00<br />
1,80<br />
1,60<br />
1,40<br />
Ta<br />
Ta<br />
105<br />
Tc<br />
113<br />
Espécie<br />
Tc<br />
Espécie<br />
Figura 4.20 (4 e 5) – Carpologia: da<strong>do</strong>s biométricos, comparação entre amostras<br />
127<br />
Td<br />
Td<br />
U.E.<br />
IV20<br />
IV21<br />
IV65<br />
IV66<br />
IV70<br />
V3<br />
U.E.<br />
IV20<br />
IV21<br />
IV65<br />
IV66<br />
IV70<br />
V3
L/E<br />
L/C*100<br />
1,50<br />
1,40<br />
1,30<br />
1,20<br />
1,10<br />
1,00<br />
0,90<br />
90,00<br />
80,00<br />
70,00<br />
60,00<br />
50,00<br />
Ta<br />
Ta<br />
Tc<br />
Espécie<br />
Tc<br />
Espécie<br />
Figura 4.20 (6 e 7) – Carpologia: da<strong>do</strong>s biométricos, comparação entre amostras<br />
128<br />
Td<br />
Td<br />
U.E.<br />
IV20<br />
IV21<br />
IV65<br />
IV66<br />
IV70<br />
V3<br />
U.E.<br />
IV20<br />
IV21<br />
IV65<br />
IV66<br />
IV70<br />
V3
E/L*1OO<br />
100,00<br />
90,00<br />
80,00<br />
70,00<br />
Ta<br />
Figura 4.20 (8) – Carpologia: da<strong>do</strong>s biométricos, comparação entre amostras<br />
Hordeum vulgare: biometria das cariopses e comparação entre as diferentes U.E.<br />
Tc<br />
Espécie<br />
A distinção de grupos morfológicos distintos de cevada foi tentada na PCA da figura<br />
4.21. Porém, a dispersão <strong>do</strong>s resulta<strong>do</strong>s não parece indicar qualquer diferença ou<br />
agrupamento de da<strong>do</strong>s.<br />
À semelhança <strong>do</strong>s trigos, também para as cevadas foram realiza<strong>do</strong>s boxplot com vista<br />
à detecção, entre as várias U.E., de diferenças na biometria das cariopses (figura 4.23). Tal<br />
informação foi complementada por um novo gráfico da PCA (figura 4.22).<br />
No caso concreto de Hordeum vulgare não foram detectadas padrões significativos<br />
que distinguissem as diferentes realidades arqueológicas deste ponto de vista. Denota-se<br />
unicamente que a U.E. [65] é aquela que apresenta uma maior heterogeneidade entre as<br />
cariopses. Esta heterogeneidade traduz-se na maior amplitude <strong>do</strong>s valores biométricos das<br />
cariopses visíveis na generalidade <strong>do</strong>s boxplot, e também na representação da PCA da<br />
figura 4.22. Porém, deve-se salientar que trata-se <strong>do</strong> contexto arqueológico com maior<br />
quantidade de cereais mensuráveis, existin<strong>do</strong> uma significativa diferença quantitativa face<br />
às restantes amostras.<br />
129<br />
Td<br />
U.E.<br />
IV20<br />
IV21<br />
IV65<br />
IV66<br />
IV70<br />
V3
-1.0 1.0<br />
-1.0<br />
C/L<br />
C/E<br />
E/L*1OO<br />
C<br />
Figura 4.21. – Carpologia:<br />
PCA com biometria de cevadas<br />
E<br />
L/E<br />
L<br />
L/C*100<br />
1.0<br />
-1.0 1.0<br />
C/L<br />
130<br />
C/E<br />
E/L*1OO<br />
C<br />
-1.0 1.0<br />
Figura 4.22. – Carpologia:<br />
PCA com biometria de cereais e amostras<br />
Legenda: IV21 (●); IV65 (+); IV66 (◄); IV70 (■)<br />
E<br />
L/E<br />
L<br />
L/C*100
Comprimento<br />
Largura<br />
6,5<br />
6,0<br />
5,5<br />
5,0<br />
4,5<br />
4,0<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
IV21<br />
IV21<br />
IV65<br />
IV65<br />
Figura 4.23. (1 e 2) – Carpologia:<br />
biometria de cevadas, comparação de amostras<br />
131<br />
U.E.<br />
U.E.<br />
IV66<br />
IV66<br />
IV70<br />
IV70
Espessura<br />
C/L<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
2,70<br />
2,40<br />
2,10<br />
1,80<br />
1,50<br />
1,20<br />
IV21<br />
IV21<br />
IV65<br />
29<br />
14<br />
IV65<br />
Figura 4.23. (3 e 4) – Carpologia: biometria de cevadas, comparação de amostras<br />
132<br />
U.E.<br />
U.E.<br />
IV66<br />
39<br />
IV66<br />
50<br />
53<br />
IV70<br />
53<br />
IV70
L/E<br />
C/E<br />
1,60<br />
1,50<br />
1,40<br />
1,30<br />
1,20<br />
1,10<br />
1,00<br />
4,00<br />
3,50<br />
3,00<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
IV21<br />
IV21<br />
IV65<br />
29<br />
20<br />
IV65<br />
Figura 4.23. (5 e 6) – Carpologia: biometria de cevadas, comparação de amostras<br />
133<br />
U.E.<br />
U.E.<br />
IV66<br />
IV66<br />
IV70<br />
53<br />
52<br />
IV70
L/C*100<br />
E/L*1OO<br />
100,00<br />
80,00<br />
60,00<br />
40,00<br />
20,00<br />
100,00<br />
90,00<br />
80,00<br />
70,00<br />
60,00<br />
IV21<br />
IV21<br />
14<br />
29<br />
IV65<br />
16<br />
IV65<br />
Figura 4.23. (7 e 8) – Carpologia: biometria de cevadas, comparação de amostras<br />
134<br />
U.E.<br />
U.E.<br />
39<br />
IV66<br />
IV66<br />
52<br />
53<br />
IV70<br />
IV70
2.3.4.3. Distribuição de espiguetas pelas amostras<br />
De entre os fragmentos de espiguetas, as glumas são os elementos mais comuns no<br />
registo arqueobotânico mas surgem também quantidades significativas de bases de<br />
espiguetas. O <strong>do</strong>mínio de T. spelta é evidente na generalidade das amostras, assim como a<br />
escassez de T. monococcum. T. dicoccum surge em menores quantidades que T. spelta<br />
ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong> detecta<strong>do</strong> na quase totalidade <strong>do</strong>s contextos estuda<strong>do</strong>s.<br />
As amostras que apresentam maior quantidade de fragmentos de espiguetas, de<br />
acor<strong>do</strong> com os quadros no Anexo II são V3, IV20, IV21, IV65, IV66 e IV70.<br />
A presença das espiguetas nas U.E. [21] e [70] ([24], embora com menor quantidade)<br />
poderá ser um da<strong>do</strong> importante para a interpretação da funcionalidade <strong>do</strong> Ambiente<br />
II.<br />
Deve-se acrescentar que os sedimentos que foram alvo de flutuação nestes contextos<br />
são<br />
uma pequena parte (percentualmente não quantificada) da totalidade daqueles que<br />
foram<br />
escava<strong>do</strong>s, tratan<strong>do</strong>-se de depósitos que cobriam quase toda a área <strong>do</strong> compartimento em<br />
questão. Salienta-se a presença entre estas amostras de uma única base de espigueta<br />
atribuída a T. monococcum com reserva.<br />
Ainda no Ambiente II, a estrutura de combustão representada pelo depósito [ 71]<br />
forneceu escassos elementos de espiguetas.<br />
As áreas de combustão [65] e [66] <strong>do</strong> Ambiente I contam com significativas<br />
quantidades de espiguetas, com um evidente <strong>do</strong>mínio de T. spelta. Ainda assim, a U.E. [66]<br />
apresenta claramente maior número destes elementos de espiguetas. Esse número é tanto<br />
maior quanto se se tiver em consideração que a sub-amostragem realizada sobre esta U.E.<br />
é menor que a realizada sobre a área de combustão [65] (ver quadro 3.1).<br />
A interpretação das U.E. [3] e [20] só poderá ser realizada ten<strong>do</strong> em conta a<br />
especificidade das suas áreas amostradas, tema que surge evidencia<strong>do</strong> no capitulo IV.2.1.<br />
As diferentes quantidades das espiguetas recolhidas em ambos os depósitos poderão<br />
ser<br />
interpretadas exactamente pelas já referidas conexões com as áreas de combustão <strong>do</strong><br />
Ambiente I, acima descritas.<br />
2.3.4.4. Biometria de espiguetas<br />
É usualmente admiti<strong>do</strong> que o estu<strong>do</strong> das espiguetas é mais fiável <strong>do</strong> que o das<br />
cariopses para distinção entre as várias espécies de cereais. Os parâmetros morfológicos<br />
encontram-se descritos no capítulo III.2.2.5.3.<br />
135
O estu<strong>do</strong> biométrico das espiguetas encontradas na Terronha de Pinhovelo incidiu<br />
unicamente sobre a largura da base das glumas visto ser o único parâmetro que foi possível<br />
calcular de forma sistemática e em quantidades significativas nas amostras.<br />
Ainda assim, como tivemos já oportunidade de perceber, são escassos os elementos<br />
pertencentes a T. monococcum, e a sua disposição nos boxplot abaixo apresenta<strong>do</strong>s<br />
serve<br />
fins principalmente descritivos. Na verdade, T. spelta é a única espécie com suficientes<br />
quantidades de glumas para permitir a averiguação de diferenças entre as U.E.<br />
A figura 4.24 demonstra uma sobreposição significativa entre a largura das glumas<br />
de<br />
T. dicoccum e T. monococcum. Por outro la<strong>do</strong>, a maioria das glumas de T. spelta são,<br />
como<br />
se esperava, mais largas que as restantes. Contu<strong>do</strong>, o grau de sobreposição face a T.<br />
dicoccum é mais significativo <strong>do</strong> que o indica<strong>do</strong> por S. Jacomet (2006), o que foi<br />
compensa<strong>do</strong> pela observação da secção das glumas e pelas características das estrias<br />
que<br />
detêm.<br />
Largura<br />
1,60<br />
1,40<br />
1,20<br />
1,00<br />
0,80<br />
0,60<br />
Td<br />
Figura 4.24. – Carpologia: largura de base de glumas de espécies de trigo<br />
Triticum monococcum Triticum dicoccum Triticum spelta<br />
0,83 ± 0,12 (0,75 - 1) 0,86 ± 0,11 (0,75 - 1,05) 1,09 ± 0,17 (0,8 - 1,6)<br />
Quadro 4.16. – Carpologia: síntese de da<strong>do</strong>s biométricos de largura de glumas<br />
Tm<br />
Código<br />
136<br />
Ts<br />
Triticum spelta
No que respeita a T. spelta, é difícil estabelecer comparações entre contextos com<br />
números muito díspares de fragmentos de espiguetas, pelo que nos iremos cingir a V3,<br />
IV20, IV65 e IV66, amostras onde os fragmentos de espiguetas são mais frequentes.<br />
Entre estas amostras salienta-se IV66 por apresentar glumas maioritariamente mais<br />
robustas, as restantes três assemelham-se bastante entre si. As semelhanças entre IV20 e<br />
IV65 deve-se, certamente, ao facto de as amostras recolhidas na primeira U.E.<br />
corresponderem a níveis de definição da segunda.<br />
Por outro la<strong>do</strong>, apesar de as amostras da U.E [3] terem si<strong>do</strong> recolhidas aquan<strong>do</strong> da<br />
definição de [66], o depósito em questão encontra-se disperso por uma área<br />
considerável,<br />
que inclui inclusive a definição da extremidade Noroeste de [65], talvez explican<strong>do</strong> desta<br />
forma as semelhanças com este contexto.<br />
Largura<br />
1,60<br />
1,40<br />
1,20<br />
1,00<br />
0,80<br />
IV20<br />
IV21<br />
IV24<br />
Figura 4.25. – Carpologia: largura de base de glumas de T. spelta em diversos contextos<br />
137<br />
IV65<br />
U.E.<br />
IV66<br />
IV70<br />
V3
2.4. Etnobotânica da Terronha de Pinhovelo<br />
A leitura <strong>do</strong>s quadros <strong>do</strong> Anexo IX permite perceber quais as diversas<br />
utilizações<br />
dadas<br />
pelas comunidades rurais recentes às diferentes espécies encontradas. Os da<strong>do</strong>s em<br />
questão foram adquiri<strong>do</strong>s na bibliografia actualmente disponível e remontam a várias<br />
gerações de conhecimentos acumula<strong>do</strong>s, pelo que remeter esses conhecimentos para<br />
tempos tão antigos é sempre problemático. Efectivamente, trata-se de um<br />
exercício<br />
arrisca<strong>do</strong><br />
e até desnecessário pois acaba por ser impraticável assegurar a sua<br />
demonstração.<br />
Não é conheci<strong>do</strong> com rigor o nível de cognição que as comunidades indígenas de<br />
época romana teriam <strong>do</strong> meio que os envolvia, nomeadamente <strong>do</strong>s recursos vegetais.<br />
Como tal, não é possível saber se estavam conscientes das propriedades das plantas, ou<br />
algumas partes destas, disponíveis na envolvência <strong>do</strong> seu habitat. Deduzimos, porém, que<br />
tal como nas sociedades rurais de tempos mais recentes, a estreita ligação que teriam com<br />
o meio envolvente assim como a sua dependência face a este, deveriam implicar um íntimo<br />
relacionamento com o mesmo e um conhecimento detalha<strong>do</strong> das diferentes propriedades e<br />
características de to<strong>do</strong>s os recursos disponíveis. Desta forma, um estu<strong>do</strong> etnobotânico<br />
apresenta-se com diversas valências para a interpretação <strong>do</strong>s resulta<strong>do</strong>s arqueobotânicos.<br />
No que respeita aos conhecimentos <strong>do</strong> potencial medicinal das plantas detectadas no<br />
estu<strong>do</strong> arqueobotânico, embora não se saiba que uso foi da<strong>do</strong> às espécies estudadas, para<br />
além da sua utilização como combustível, é possível que pelo menos parte das<br />
propriedades das espécies em questão fossem conhecidas. Contu<strong>do</strong>, como foi já<br />
menciona<strong>do</strong>, trata-se de uma possibilidade indemonstrável. O quadro <strong>do</strong> Anexo IX.9.1<br />
pretende evidenciar a existência de um potencial medicinal e veterinário muito significativo<br />
na envolvência <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>. Esse potencial seria certamente mais eleva<strong>do</strong> da<strong>do</strong> certamente<br />
não se encontrarem representa<strong>do</strong>s no registo arqueobotânico a totalidade das espécies<br />
existentes no meio.<br />
Note-se que existem contradições entre as diversas referências bibliográficas<br />
consultadas. Os casos mais notórios são Sambucus ebulus e Hedera helix, ora<br />
considera<strong>do</strong>s venenosos ora medicinais. Na verdade, a fronteira entre estas duas<br />
denominações é ténue e dependente <strong>do</strong> efeito deseja<strong>do</strong> com a aplicação<br />
da planta em<br />
questão. No caso específico da hera, existem até referências <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> clássico que<br />
apontam o carácter psico-activo desta planta que conduziu, inclusive, à sua utilização em<br />
cerimónias ligadas ao culto dionisíaco (Ruck, 1995).<br />
O potencial alimentar de determinadas plantas surge referi<strong>do</strong> no quadro <strong>do</strong> Anexo<br />
IX.9.2 que exclui as espécies inequivocamente cultivadas, como a faveira e os cereais.<br />
138
Distinguem-se, na alimentação humana, o consumo de frutos (consumo directo ou<br />
transforma<strong>do</strong> em aguardentes ou compotas) de árvores ou arbustos, ou de folhas de<br />
herbáceas consumidas em saladas ou sopas. Sen<strong>do</strong> indubitável o potencial alimentar de<br />
determinadas<br />
espécies silvestres, seria provável a sua comum utilização pela população<br />
romana de Terronha de Pinhovelo. Um caso paradigmático da utilização alimentar de<br />
plantas silvestres é a beldroega, da qual existem variantes cultivadas.<br />
No que respeita à alimentação animal há referências<br />
a diversos arbustos, folhas,<br />
pequenos<br />
ramos e até frutos (ver quadro <strong>do</strong> Anexo IX.9.2).<br />
Salienta-se que algumas espécies são referenciadas tanto para alimentação humana<br />
como para forragem para animais. São elas algumas das espécies consumidas em saladas<br />
e sopas pelo Homem, nomeadamente a beldroega,<br />
a azeda e a labaça-obtusa. Acrescentese<br />
ainda a bolota. Esta duplicidade deve-se essencialmente ao facto de nas sociedades<br />
recentes, questionadas nos estu<strong>do</strong>s etnobotânicos, o consumo <strong>do</strong>s referi<strong>do</strong>s alimentos<br />
encontrar-se associa<strong>do</strong> a épocas de carestia nas quais a sua escolha era movida pela<br />
necessidade (Carvalho, Lousada, Rodrigues, 2001; Salgueiro, 2005).<br />
As comunidades rurais actuais demonstram um pleno conhecimento acerca das<br />
propriedades da madeira das diversas espécies existentes na envolvência das suas<br />
habitações. Esse conhecimento traduz-se numa escolha discriminada quan<strong>do</strong> é necessária<br />
matéria-prima para distintos fins. Tal facto foi comprova<strong>do</strong> nas entrevistas que efectuámos<br />
junto a Pinhovelo. O Sr. Amândio, pastor, agricultor e habitante <strong>do</strong> termo de Mace<strong>do</strong> de<br />
Cavaleiros para a Amen<strong>do</strong>eira, menciona claramente a escolha da madeira de freixo ou<br />
castanheiro para os cabos de ferramentas. A madeira de carvalho, não sen<strong>do</strong> considerada<br />
totalmente inapropriada era preterida por rachar mais facilmente.<br />
Nas escavações arqueológicas que decorreram na Terronha de Pinhovelo as madeiras<br />
carbonizadas recolhidas não se encontram associadas a níveis de incêndio de construções<br />
mas sim a estruturas de combustão, pelo que o quadro <strong>do</strong> Anexo IX.9.3 é unicamente<br />
indicativo de características reconhecidas actualmente para o uso das madeiras para<br />
diversos fins. É, assim, um indicativo de disponibilidade.<br />
Um<br />
caso mais problemático e particularmente relevante para o presente estu<strong>do</strong> é a<br />
escolha de combustível (a lenha). Trata-se da única funcionalidade comprovada<br />
para as<br />
espécies silvestres encontradas na Terronha de Pinhovelo.<br />
Os estu<strong>do</strong>s de etnobotânica, <strong>do</strong>s quais salientamos a tese de <strong>do</strong>utoramento de Ana<br />
Carvalho (2005) centrada no Parque Natural de Montesinho, mencionam claramente uma<br />
escolha consciente <strong>do</strong> combustível mediante as suas propriedades e os fins a que se<br />
destinam. A autora em questão salienta, de entre as espécies detectadas em carvões na<br />
139
Terronha de Pinhovelo, o uso preferencial da esteva, giestas, urzes (especialmente Erica<br />
australis, preterin<strong>do</strong> algumas ericaceas), freixo, azinheira e carvalho-negral.<br />
Na aldeia de Pinhovelo, a Sra. Iria Diamantina, habitante local, afirma que no passa<strong>do</strong><br />
a recolha de lenha realizava-se nas imediações da habitação, na encosta da serra de<br />
Pinhovelo. Privilegiava-se a madeira originária da limpeza das árvores, isto é, de práticas<br />
silvícolas, assim como as giestas e o carvalho. A falta de combustível disponível conduzia a<br />
que se cavasse as terras em busca de raízes de carvalhos e carvalhos novos.<br />
O Sr. Amândio, já menciona<strong>do</strong> acima, descreve uma situação semelhante, afirman<strong>do</strong><br />
que chegavam a encher carroças com os carvalhos pequenos e raízes. Estas últimas eram<br />
particularmente<br />
apreciadas. Para o efeito era explorada uma mancha de carvalhal existente<br />
a uma distância significativa (não explicitada) <strong>do</strong> núcleo habitacional. Este informante<br />
menciona a escolha preferencial de freixo e carrasco (azinheira), para além, obviamente, <strong>do</strong><br />
carvalho.<br />
Também o Sr. Orlan<strong>do</strong> Pinheiro, da Amen<strong>do</strong>eira, menciona estas três espécies,<br />
salientan<strong>do</strong> o freixo. Acrescenta ainda as giestas e o produto da limpeza <strong>do</strong>s sobreiros, à<br />
semelhança da informante de Pinhovelo.<br />
Por oposição, entre as espécies pouco apreciadas para lenha salientam-se, na<br />
bibliografia, algumas urzes, o amieiro, a aveleira e o pinheiro-bravo (Carvalho, 2005) .<br />
Salienta-se,<br />
contu<strong>do</strong>, a abundância de carvão de Pinus pinaster entre as amostras<br />
estudadas. Parece que o facto de se tratar de uma madeira que produz demasia<strong>do</strong> fumo<br />
não impediu a sua escolha para os contextos analisa<strong>do</strong>s.<br />
Parece claro, através da leitura <strong>do</strong> quadro <strong>do</strong> Anexo IX.9.4 que existe nas<br />
comunidades rurais uma clara consciência das propriedades e potencialidades de cada<br />
espécie enquanto combustível. Essas propriedades condicionam a sua escolha mediante os<br />
fins a que se destinam: fornos, forjas e lareiras normais. De igual mo<strong>do</strong>, a Sra. Iria<br />
Diamantina menciona a escolha de estevas e carvalho mais miú<strong>do</strong> para cozer o pão, por<br />
arderem lentamente. Para o mesmo fim, o Sr. Amândio, para além das estevas, acrescenta<br />
as giestas,<br />
por ambas fazerem boa brasa.<br />
Ana Carvalho (2005) menciona mesmo que determinadas comunidades no PNM<br />
realizavam uma gestão <strong>do</strong> corte das giestas (Genista florida) de forma a assegurar o<br />
abastecimento de combustível.<br />
Porém, nem sempre se procedia a uma selecção criteriosa da lenha. Um <strong>do</strong>s<br />
informantes, o Sr. Amândio, afirma que em épocas de escassez de lenha não havia<br />
selecção durante a recolha. De qualquer forma, o comportamento<br />
descrito, isto é, a procura<br />
de carvalhos novos e raízes, característicos de fases de escassez, é ainda assim selectivo.<br />
Contu<strong>do</strong>, não se pode caracterizar a priori a disponibilidade de combustível no meio<br />
envolvente da Terronha de Pinhovelo. Assim, mesmo pressupon<strong>do</strong> que os carvões<br />
140
dispersos<br />
nos sedimentos arqueológicos são o produto de escolhas efectuadas ao longo de<br />
perío<strong>do</strong>s de tempo de longa duração, essa escolha terá si<strong>do</strong> condicionada não só pela<br />
disponibilidade no meio mas também por aspectos sócio-económicos.<br />
2.4.1. Cereais: usos e costumes<br />
Na região de Trás-os-Montes o centeio e o trigo são,<br />
claramente, os cereais mais<br />
cultiva<strong>do</strong>s.<br />
Contu<strong>do</strong>, o pre<strong>do</strong>mínio <strong>do</strong> trigo deve ser recente (Pereira, 1996; Júnior, 1977).<br />
Vários autores mencionam que as melhores terras eram usualmente guardadas para o trigo,<br />
considera<strong>do</strong> um cereal mais exigente (Oliveira et al., 1976; Dias, 1953). O centeio, cultura<br />
não representada nas amostras da TP, era cultiva<strong>do</strong> nas encostas mais altas e topos de<br />
elevações.<br />
No conjunto bibliográfico consulta<strong>do</strong> surge referi<strong>do</strong> de forma clara que a cevada é um<br />
cereal secundário na generalidade <strong>do</strong>s contextos alvo de estu<strong>do</strong>s etnográficos.<br />
Secundário<br />
porque pouco cultiva<strong>do</strong> e porque a sua produção na actualidade é destinada essencialmente<br />
à alimentação<br />
<strong>do</strong> ga<strong>do</strong>. Como tal, as referências respeitantes à faina <strong>do</strong>s cereais<br />
usualmente centram-se exclusivamente no trigo e no centeio. Deste mo<strong>do</strong>, não ten<strong>do</strong> si<strong>do</strong><br />
obti<strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s suficientes em relação às particularidades <strong>do</strong> processo de trabalho da<br />
cevada, cingimo-nos ao trigo. Seguem-se as descrições de J. Santos Júnior (1977), E. Veiga<br />
de Oliveira e colabora<strong>do</strong>res (1976), J. Dias (1953), B. Pereira (1996) e L. Peña-Chocarro<br />
(1999).<br />
O cultivo de cereais faz-se usualmente em regime extensivo, com um sistema de<br />
afolhamentos. A terra para lavoura divide-se em duas folhas, uma<br />
em cultura (a folha <strong>do</strong><br />
pão) e a outra em pousio (a contrafolha). Na sua maioria estes são bienais (os solos<br />
descansam um ano) mas podem ser de <strong>do</strong>is ou até cinco anos, dependen<strong>do</strong> das<br />
características <strong>do</strong>s solos e das necessidades a suprir (Oliveira, et al., 1976). Com o<br />
surgimento da batata, esta veio a alternar com os cereais num regime de rotação (Pereira,<br />
1996).<br />
Sementeira<br />
A sementeira realiza-se, normalmente no final de Setembro ou início de Outubro. É<br />
precedida pela lavra e pela estrumação. Esta última pode ocorrer no próprio dia da<br />
sementeira (Pereira, 1996) ou até um mês antes (Peña-Chocarro, 1999). A lavra pode ser<br />
precedida de uma gradagem.<br />
O lançamento da semente deve ser feito de mo<strong>do</strong> a cobrir ampla e homogeneamente<br />
o terreno.<br />
141
A esta actividade sucede-se uma outra lavra que cobre a semente. Invés de uma lavra<br />
pode ser preferida uma gradagem para cobrir a semente e ao mesmo tempo desterroar as<br />
leivas (Peña-Chocarro, 1999).<br />
Até à segada<br />
Entre a sementeira e a segada existem várias actividades indispensáveis a uma boa<br />
colheita. Assim, logo em Janeiro-Março há uma lavra, a decrua ou relvar, que tem de ser<br />
funda (Júnior, 1977).<br />
A lavra seguinte, a vima ou bima, realiza-se em Abril ou Maio e é feita de forma obliqua<br />
face à anterior. É acompanhada de uma gradagem <strong>do</strong> terreno que quebra os torrões.<br />
Ainda no mês de Maio faz-se a monda. Esta actividade consiste na limpeza <strong>do</strong> terreno<br />
e arranque das ervas daninhas. É feita à mão e usualmente por mulheres (Júnior, 1977).<br />
Porém, pode ser antecedida por duas fases de monda à enxada, antes <strong>do</strong> crescimento <strong>do</strong><br />
cereal, a primeira em Fevereiro-Março e a segunda no final de Março-início de Abril (Peña-<br />
Chocarro, 1999).<br />
Segada<br />
Por fim, a segada realiza-se em Junho (Júnior, 1977; Oliveira et al., 1976). Contu<strong>do</strong>,<br />
Peña-Chocarro (1999), no estu<strong>do</strong> <strong>do</strong> cultivo de Triticum dicoccum e T. spelta nas Astúrias,<br />
aponta como datas para a sua ceifa, o final de Agosto e início de Setembro.<br />
A segada na região transmontana era feita tradicionalmente com foice. Trata-se de um<br />
trabalho moroso e particularmente duro. As técnicas inerentes ao mesmo não são aqui<br />
aprofundadas, poden<strong>do</strong> ser consultadas na bibliografia.<br />
O colmo com as espigas era junto em molhos e o seu transporte era feito em carroças,<br />
directamente por burros ou mulas, ou mesmo pelos próprios sega<strong>do</strong>res.<br />
Debulha<br />
Não menos duro era o trabalho que se seguia à ceifa, a debulha. Para a região estão<br />
<strong>do</strong>cumentadas três técnicas principais para a debulha <strong>do</strong>s cereais: a malhada, o trilho e a<br />
debulha a pé de ga<strong>do</strong>, todas realizadas numa eira de terra batida (Júnior, 1977).<br />
A malhada era realizada com recurso ao malho ou mangual, utensílio que consiste<br />
num cabo compri<strong>do</strong> no topo <strong>do</strong> qual uma corda curta, ou couro, prendem uma outra haste<br />
de madeira menor. O malho era eleva<strong>do</strong> e desci<strong>do</strong> ritmicamente, baten<strong>do</strong> com força sobre o<br />
cereal. O cereal tem de ser vira<strong>do</strong><br />
regularmente, o que era normalmente feito por mulheres.<br />
O trilho era um tabuleiro relativamente grande, com proa levantada, puxada por<br />
animais, presos a um tirante. A face inferior <strong>do</strong> trilho era cravejada por lascas de quartzo ou<br />
sílex, ou ainda por lâminas de ferro. Ao passar sobre o cereal vai cortan<strong>do</strong> e trituran<strong>do</strong> a<br />
palha e as espigas (Júnior, 1977).<br />
142
A debulha a pé de ga<strong>do</strong> consistia somente no pisoteio <strong>do</strong>s cereais pelo ga<strong>do</strong>,<br />
normalmente cavalar (Pereira, 1996; Peña-Chocarro, 1999). O cereal tem de ser vira<strong>do</strong><br />
regularmente.<br />
Limpeza <strong>do</strong> trigo<br />
Ainda<br />
na eira com as pás, em dia de vento, o colmo e o cereal eram lança<strong>do</strong>s ao ar<br />
(padejar), de mo<strong>do</strong> a que o vento fizesse<br />
a palha cair afastada <strong>do</strong> grão que, mais pesa<strong>do</strong><br />
caía directamente na eira. Era um trabalho masculino. Os pedaços de espiga ou palha mais<br />
pesa<strong>do</strong>s<br />
que caíam com o grão eram removi<strong>do</strong>s de imediato pelas mulheres. Por vezes<br />
havia que esperar pacientemente pelo dia adequa<strong>do</strong> para o processo.<br />
De seguida, o grão era criva<strong>do</strong> e limpo, fican<strong>do</strong> prepara<strong>do</strong> para o armazenamento<br />
(Júnior, 1977).<br />
O trigo vesti<strong>do</strong><br />
O processamento <strong>do</strong>s trigos vesti<strong>do</strong>s implica, usualmente, outras actividades para<br />
além das acima descritas, após a sua colheita, em especial no que respeita à separação<br />
entre o grão, espiga e espiguetas. Este ponto apresenta-se como sen<strong>do</strong> especialmente<br />
relevante, não só devi<strong>do</strong> ao peso que estas espécies têm no conjunto carpológico da TP,<br />
mas também por descrever actividades que poderão implicar o uso de fogo, e que têm si<strong>do</strong><br />
utilizadas como justificação para o surgimento de macro-restos carboniza<strong>do</strong>s nas jazidas<br />
arqueológicas.<br />
Peña-Chocarro<br />
(1999) problematiza de forma aprofundada esta questão, em especial<br />
para o T. dicoccum e T. spelta, com uma investigação etnográfica realizada nas Astúrias, o<br />
único local ibérico onde estas espécies são ainda cultivadas de forma tradicional. Na<br />
exposição seguinte segue-se de perto este estu<strong>do</strong>.<br />
A autora estuda também T. monococcum, porém, a sua investigação etnográfica<br />
acerca <strong>do</strong> processamento desta espécie não permitiu uma descrição pormenorizada das<br />
suas especificidades por não ser, actualmente, utilizada para consumo humano.<br />
Naturalmente<br />
os processos inerentes a uma planta usada para forragem são mais simples.<br />
Contu<strong>do</strong>, a autora menciona haver ainda memória, na região andaluza, <strong>do</strong> seu consumo<br />
pelo Homem, mas somente em tempos de carestia. Nesse tempo, as espiguetas eram<br />
maceradas e depois crivadas para separar os fragmentos destas.<br />
Os trigos T. dicoccum e T. spelta são normalmente cultiva<strong>do</strong>s juntos, sen<strong>do</strong> também<br />
comuns<br />
os processos inerentes ao seu cultivo e preparação posterior a este.<br />
Por norma<br />
estas duas espécies têm processos de cultivo semelhantes aos descritos<br />
anteriormente, com a excepção de não serem estruma<strong>do</strong>s. Tal deve-se ao facto de<br />
143
crescerem<br />
demasia<strong>do</strong> e terem assim tendência a <strong>do</strong>brar até ao chão, por causa da chuva e<br />
vento primaveris.<br />
Nas Astúrias a sementeira destes cereais é realizada em Novembro, invés de<br />
Setembro. São semea<strong>do</strong>s<br />
com espigueta pois a remoção desta poderá afectar o embrião<br />
inibin<strong>do</strong><br />
a germinação. Estas espiguetas são escolhidas após a ceifa anterior,<br />
seleccionan<strong>do</strong>-se as maiores.<br />
A ceifa destes cereais<br />
nas Astúrias é realizada sem recurso à foice. São utilizadas as<br />
mesorias,<br />
<strong>do</strong>is paus de 50cm, de secção circular, juntos por uma pequena corda ou couro.<br />
O trabalho é realiza<strong>do</strong> por homens que seguram com uma mão cada um <strong>do</strong>s <strong>do</strong>is paus,<br />
abrin<strong>do</strong>-os<br />
sobre um conjunto de pés, fechan<strong>do</strong>-os com força e estenden<strong>do</strong>-os até à base<br />
das espigas, arrancan<strong>do</strong>-as <strong>do</strong> colmo. As mulheres e crianças apanham as espigas que<br />
caem no chão e arrancam as que restam no colmo. Em campos pequenos, as espigas<br />
podem ser arrancadas totalmente à mão. Porém, julgamos que a escolha desta técnica<br />
dever-se-á a uma opção cultural, mais <strong>do</strong> que a uma inerência das espécies em questão.<br />
A palha é depois cortada com uma gadanha.<br />
Nas Astúrias os agricultores queimam as espigas com a intenção de remover as<br />
aristas. A colheita é empilhada, fazen<strong>do</strong>-se uma fogueira perto desta pilha. Com uma<br />
forquilha ou instrumento semelhante pega-se em várias espigas e abanan<strong>do</strong><br />
por cima <strong>do</strong><br />
fogo, deixa-se cair as espigas para serem queimadas. As aristas queimam-se rapidamente e<br />
as glumas ficam parcialmente queimadas. Existem possibilidades de erro neste processo,<br />
porém a perda de grãos é diminuta.<br />
Os agricultores afirmam que este procedimento ajuda ao processo que se realiza de<br />
seguida, a maceração em almofariz ou pios de piar para descorticar e libertar o grão. Em<br />
suma , sujeitar as espigas ao fogo permite que estas, bem como as espiguetas, sejam mais<br />
facilmente<br />
quebradas. Não é, contu<strong>do</strong>, uma actividade indispensável para este efeito. Na<br />
verdade, vários autores (veja-se Nesbitt e Samuel, 1995) demonstraram através de<br />
arqueologia experimental que a passagem pelo fogo não tem grande utilidade<br />
para a<br />
descorticação<br />
<strong>do</strong> grão, bastan<strong>do</strong> para o efeito a maceração em almofariz.<br />
Peña-Chocarro descreve ainda uma prática com algumas semelhanças <strong>do</strong>cumentada<br />
para o século XVII na Escócia. O graddaning consistia em segurar as espigas pelo colmo,<br />
numa mão, e atear-lhes fogo. Logo de seguida batia-se-lhes com um pau, o que libertava os<br />
grãos das espigas e queimava as espiguetas. O grão ficava já seco e parcialmente tosta<strong>do</strong>,<br />
sen<strong>do</strong> depois padeja<strong>do</strong> e moí<strong>do</strong>.<br />
Contu<strong>do</strong>, o contacto <strong>do</strong> grão com o fogo poderá acontecer noutras fases <strong>do</strong> tratamento<br />
<strong>do</strong>s cereais, <strong>do</strong>cumenta<strong>do</strong>s etnograficamente<br />
noutros locais. A secagem <strong>do</strong> grão é outra<br />
dessas actividades sen<strong>do</strong> necessária para a sua farinação. Esta necessidade advém,<br />
forçosamente, <strong>do</strong> seu prévio contacto com a água. Esse contacto poder-se-á dever a<br />
144
práticas<br />
de lavagem por sistema de flutuação, ou mesmo às práticas de maceração<br />
mencionadas acima. A secagem é feita ao sol mas em áreas geográficas húmidas poderá<br />
por vezes ser feita<br />
em fornos ou por contacto directo com o fogo<br />
Também Nesbitt e Samuel (1995) mencionam estas práticas e consideram que seria<br />
nesta fase que se verificaria a perda por carbonização <strong>do</strong>s grãos. A água era adicionada no<br />
almofariz de mo<strong>do</strong> a amolecer as espiguetas e facilitar a descorticação da cariopse.<br />
Por fim, os grãos poderão ter contacto com fogo já em fases de confecção. De facto,<br />
apesar de nas Astúrias estes cereais serem sempre consumi<strong>do</strong>s em forma de farinha, o<br />
mesmo não acontece na Turquia e na Alemanha, onde estas espécies<br />
de cereal vesti<strong>do</strong><br />
também<br />
são consumidas em grão inteiro, seja tosta<strong>do</strong>, no primeiro caso, ou sob a forma de<br />
sopas, no segun<strong>do</strong>.<br />
Na Turquia é consumida também a farinha de grão tosta<strong>do</strong>.<br />
O pão destes cereais é muito aprecia<strong>do</strong> nas Astúrias. Contu<strong>do</strong>, o pão de T. dicoccum é<br />
preteri<strong>do</strong> face ao de T. spelta por crescer menos e ser mais escuro. Já o remanescente da<br />
debulha é utiliza<strong>do</strong> para a alimentação de animais, como combustível e para o enchimento<br />
de colchões.<br />
A cevada<br />
Como foi já referi<strong>do</strong>, actualmente e há já várias décadas, o cultivo da cevada é ti<strong>do</strong><br />
como secundário na região em questão, não existin<strong>do</strong>, por isso, descrições pormenorizadas<br />
<strong>do</strong>s processos de<br />
produção que lhe são inerentes.<br />
Para além <strong>do</strong> seu uso para a produção de bebidas alcoólicas, a utilização de cevada<br />
para a confecção de papas na antiguidade surge <strong>do</strong>cumentada por Plínio (Renfrew, 1973).<br />
A mesma autora menciona o uso da cevada para a produção de pão, embora fosse<br />
preterida face ao trigo. Também a Pollenta é feita à base de cevada, acompanhada por<br />
milho-miú<strong>do</strong><br />
e milho-painço e, segun<strong>do</strong>, R. Buxo (2005), constituiu a base alimentar das<br />
classes mais pobres.<br />
Os milhos<br />
No que respeita ao milho-painço (Setaria italica) e milho-miú<strong>do</strong> ou milho-alvo (Panicum<br />
miliaceum) tratam-se de espécies referidas para a região transmontana,<br />
para tempos mais<br />
antigos (Aguiar, 2001). Santos Júnior (1977) refere o cultivo minoritário de milho burreiro,<br />
denominação<br />
regional para o milho-miú<strong>do</strong> ou painço, tidas pelo autor como a mesma<br />
espécie. Contu<strong>do</strong> as menções ao processamento <strong>do</strong>s mesmos são escassas.<br />
R. Buxo<br />
(1997)<br />
refere que a sementeira realiza-se na Primavera, e exige que as terras estejam<br />
145
lavradas com uma textura fina. Ao mesmo tempo têm o inconveniente de esgotarem<br />
demasia<strong>do</strong> o solo.<br />
Acrescente-se que como o grão é muito frágil, to<strong>do</strong>s os processos que sucedem à<br />
colheita devem ser realiza<strong>do</strong>s com muita cautela (Buxo, 1997). Os <strong>do</strong>is milhos podem ser<br />
cultiva<strong>do</strong>s em conjunto e confecciona<strong>do</strong>s isoladamente ou em mistura com farinha de trigos<br />
(Marinval, 1992).<br />
O uso de milho-miú<strong>do</strong> (Panicum miliaceum) para a confecção de papas surge<br />
<strong>do</strong>cumenta<strong>do</strong> por Plínio, estan<strong>do</strong> testemunhada a perduração deste prática até aos tempos<br />
actuais no leste da Europa (antiga União Soviética). O mesmo autor clássico menciona o<br />
seu uso para fazer levedura para a confecção de bebidas (apud Renfrew, 1973).<br />
É também Plínio quem menciona o uso de milho-painço (Setaria italica) para o fabrico<br />
de pão, assim como de papas (apud Renfrew, 1973).<br />
2.4.2.<br />
As favas<br />
O cultivo das favas exige a presença de água em relativa abundância, sen<strong>do</strong> cultivada,<br />
geralmente, em conjunto com outras espécies hortícolas.<br />
Para além <strong>do</strong> uso da semente inteira em guisa<strong>do</strong>s e sopas, outros tipos de consumos<br />
surgem testemunha<strong>do</strong>s pelos autores clássicos. Deste mo<strong>do</strong>, vários usos são menciona<strong>do</strong>s<br />
por Plínio, para a farinha de fava ( lomentum), obtida por maceração em almofariz (apud<br />
Renfrew,<br />
1973). Essa farinha era acrescentada à farinha de trigo ou milho-painço para<br />
aumentar o peso <strong>do</strong>s pães para venda; era também utilizada para a confecção de papas<br />
utilizadas em sacrifícios aos deuses; e era ainda usada para fazer um puré especial, uma<br />
mistura de farinha de fava com peixe e especiarias.<br />
A produção de pão com farinha de leguminosas, incluin<strong>do</strong> farinha de fava, encontra-se<br />
atestada desde o Norte de África até à Índia.<br />
146
V. DISCUSSÃO<br />
1. Aspectos<br />
de natureza morfo-tipológica<br />
Um estu<strong>do</strong> desta natureza, inseri<strong>do</strong> num projecto académico, deve também ser um<br />
espaço<br />
de reflexão acerca das questões meto<strong>do</strong>lógicas que o tutelaram e condicionaram.<br />
Algumas considerações devem ser feitas acerca da morfologia de determina<strong>do</strong>s tipos<br />
xilotómicos e carpológicos, na esperança de contribuir, assim, para uma maior compreensão<br />
<strong>do</strong> significa<strong>do</strong> e abrangência taxonómica que lhes é atribuí<strong>do</strong> neste trabalho. Salientam-se<br />
as questões referentes à anatomia das madeiras de Quercus spp. e de Erica spp., assim<br />
como às sementes <strong>do</strong> género Triticum.<br />
Anatomia de madeiras<br />
em Quercus spp.<br />
Foram distingui<strong>do</strong>s vários tipos xilotómicos de género Quercus: Q. coccifera, Q. ilex, Q.<br />
faginea, Q. pyrenaica, Q. suber, Q. perenifolia e Quercus subgenus Quercus.<br />
In<strong>do</strong> além das classificações que distinguem apenas <strong>do</strong>is grupos - espécies de folha<br />
caduca e espécies de folha perene, optámos pela definição de tipos morfológicos com base<br />
na distribuição <strong>do</strong>s poros no corte transversal (vide supra,<br />
ponto III.2.2.4). Note-se, no<br />
entanto,<br />
que a correspondência entre tipo morfológico e espécie botânica não é unívoca,<br />
varian<strong>do</strong> o número de espécies incluídas em cada tipo xilomorfológico (mais uma vez vide<br />
supra,<br />
ponto III.2.2.4).<br />
É discutível a utilidade <strong>do</strong> uso destes morfotipos quan<strong>do</strong> estes incluem características<br />
anatómicas de mais que uma espécie <strong>do</strong> mesmo género. Procuramos, porém, cumprir <strong>do</strong>is<br />
propósitos:<br />
- Corresponder a descrições mais detalhadas que permitam ir além da distinção<br />
entre<br />
porosidade em anel e porosidade difusa.<br />
- Restringir o leque de espécies botânicas provavelmente incluídas em cada tipo<br />
xilotómico considera<strong>do</strong>. Este princípio torna-se váli<strong>do</strong> na medida em que se<br />
assume que os padrões de distribuição de poros que caracterizam cada tipo são<br />
característicos, principalmente, da espécie que lhe dá o nome. Este trabalho<br />
segue uma proposta de classificação xilo-morfológica em elaboração por Wim<br />
van Leeuwaarden, à qual se juntou a consulta da bibliografia da especialidade.<br />
Refira-se, no entanto, que a questão da identificação das espécies de Quercus<br />
com base na anatomia da madeira é ainda uma questão em aberto, que terá no<br />
147
futuro de contar com a realização de uma pesquisa mais detalhada sobre a<br />
morfologia da madeira <strong>do</strong> género, onde se defina com rigor qual o valor<br />
diagnosticante de cada carácter morfológico na discriminação das diferentes<br />
espécies.<br />
Os <strong>do</strong>is últimos<br />
tipos morfológicos referi<strong>do</strong>s acima (Q. perenifolia e Quercus subgenus<br />
Quercus)<br />
correspondem a tipos xilotómicos de âmbito mais lato, onde se incluíram os<br />
fragmentos de Quercus menos característicos, que não puderam ser integra<strong>do</strong>s nos tipos<br />
descritos de âmbito taxonómico mais restrito.<br />
De entre as espécies de folha perene é usual, na bibliografia, distinguir o tipo<br />
Q. suber.<br />
No entanto,<br />
este tipo xilotómico é, com alguma frequência, difícil de distinguir de Q.<br />
coccifera pois o carácter semi-difuso <strong>do</strong> lenho de Q. suber e a densidade de raios<br />
multisseria<strong>do</strong>s nem sempre são possíveis de observar em fragmentos de carvão de muito<br />
reduzidas<br />
dimensões. No caso da Terronha de Pinhovelo, a ausência <strong>do</strong> carrasco nas<br />
paisagens actuais de Trás-os-Montes poderá, embora com algumas reservas, sugerir a sua<br />
exclusão <strong>do</strong> conjunto antracológico em questão. Foram, no entanto, classifica<strong>do</strong>s alguns<br />
pequenos<br />
fragmentos de carvão como Q. coccifera, já que as características morfológicas<br />
observadas correspondiam à descrição <strong>do</strong> tipo. Face<br />
às reduzidas dimensões <strong>do</strong>s<br />
fragmentos,<br />
a atenden<strong>do</strong> ao comentário exposto anteriormente, a probabilidade de se tratar<br />
de madeira de sobreiro não é de se excluir, pelo que não fica provada a presença de<br />
carrasco no território de Terronha de Pinhovelo durante a época romana.<br />
A observação na colecção de cortes histológicos <strong>do</strong> Laboratório de Paleoecologia e<br />
Arqueobotânica de vários espécimes de Q. suber e Q. ilex permitiu também perceber a<br />
dificuldade existente na distinção entre estas duas espécies, em especial por poderem<br />
existir zonas semi-difusas em algumas fiadas de poros em Q. ilex, embora não seja<br />
frequente.<br />
De igual forma, a madeira de sobreiro apresenta, por vezes, um maior número de<br />
poros <strong>do</strong> que aqueles que se considera característico<br />
deste tipo xilotómico.<br />
Não obstante a provável inclusão no conjunto de restos identifica<strong>do</strong>s como sobreiro de<br />
fragmentos atípicos de azinheira, é possível afirmar que o tipo xilotómico Q. suber deverá<br />
incluir, principalmente, fragmentos de carvão de madeira de sobreiro. Esta caracteriza-se<br />
por apresentar porosidade difusa a semi-difusa, normalmente com uma pequena zona<br />
desprovida de poros no final da camada de crescimento, e com alguns poros de maior<br />
dimensão no início <strong>do</strong> lenho de Primavera. Estes não existem, de forma tão evidente, na<br />
madeira de azinheira e carrasco. Por outro la<strong>do</strong>, na madeira de azinheira os poros são mais<br />
frequentes (vide supra, ponto III.2.2.4).<br />
No que se refere às espécies de folha caduca e marcescente distinguiram-se <strong>do</strong>is tipos<br />
xilotómicos, Q. pyrenaica e Q. faginea. A existirem exemplares de Q. robur nos conjuntos<br />
148
antracológicos estuda<strong>do</strong>s, estes não se reconheceram morfologicamente e estariam<br />
incluí<strong>do</strong>s em ambos os tipos aqui descritos, apesar de supostamente dever existir uma<br />
diferença significativa entre a dimensão <strong>do</strong>s poros <strong>do</strong> lenho de Primavera <strong>do</strong> carvalho-<br />
cerquinho e os <strong>do</strong> carvalho-alvarinho (Vernet et al.,<br />
2001).<br />
A característica que mais facilmente distingue o tipo Q. pyrenaica é o carácter muito<br />
abrupto<br />
da transição <strong>do</strong> lenho inicial para o lenho tardio, ou seja, nota-se a presença de um<br />
anel com uma fiada (por vezes duas) de poros grandes sem prolongamentos dendríticos de<br />
poros de dimensões intermédias face aos pequenos poros <strong>do</strong> lenho final. Verificam-se<br />
frequentemente poros de dimensões intermédias mas apenas inseri<strong>do</strong>s nas fiadas <strong>do</strong> anel<br />
inicial.<br />
O tipo xilotómico Q. faginea caracteriza-se por apresentar poros iniciais menores <strong>do</strong><br />
que os <strong>do</strong> tipo anteriormente descrito,<br />
e também pela existência de prolongamentos<br />
dendríticos <strong>do</strong>s poros de Primavera. Várias ilustrações de Q. pyrenaica presentes nos atlas<br />
anatómicos (por exemplo Schweingruber, 1990) apresentam estas mesmas características<br />
pelo que se assume a probabilidade <strong>do</strong> tipo<br />
Q. faginea incluir exemplares daquela espécie.<br />
Embora<br />
caracteristicamente os <strong>do</strong>is tipos xilotómicos apresentem claras diferenças ao<br />
nível da distribuição de poros no corte transversal, e a identificação de exemplares típicos<br />
não seja problemática, a constatação de que cada tipo morfológico poderá<br />
incluir<br />
exemplares<br />
de mais <strong>do</strong> que uma espécie só testemunha a grande variabilidade morfológica<br />
que caracteriza as madeiras deste género, tornan<strong>do</strong> muito difícil, quiçá impossível, a<br />
identificação de espécimes menos típicos. Refira-se mais uma vez a importância da<br />
realização de um estu<strong>do</strong> detalha<strong>do</strong> sobre esta questão.<br />
A acentuar esta dificuldade, vários estu<strong>do</strong>s demonstram a existência de variações ao<br />
nível da dimensão e distribuição<br />
de poros provocadas por diferentes factores: o local da<br />
árvore<br />
(tronco, pequenos ramos, raízes) de onde é extraída a madeira (veja-se o exemplo<br />
de Q. robur em Gasson, 1987); e as condições ambientais às quais o indivíduo foi sujeito ao<br />
longo <strong>do</strong> seu tempo de vida (veja-se o caso específico <strong>do</strong> efeito de condições de secura em<br />
exemplares<br />
de Q. ilex em Corcuera et al., 2004, de Q. suber em Leal, et al., 2007 e de Q.<br />
pyrenaica em Corcuera et al., 2006).<br />
Concluin<strong>do</strong>,<br />
a definição de tipos xilotómicos serve como base de dedução da maior<br />
probabilidade<br />
de representação de cada espécie pela identificação de características com<br />
significativo<br />
valor diagnosticante. Não exclui a possibilidade de erro mas permite uma base<br />
de análise mais eficaz.<br />
149
Anatomia de madeira em Erica spp.<br />
A identificação<br />
de espécies <strong>do</strong> género Erica através das características da sua<br />
madeira demonstrou ser também uma tarefa difícil apesar de existir já um estu<strong>do</strong> anatómico<br />
aprofunda<strong>do</strong><br />
(Queiroz e Van der Burgh, 1989). A dificuldade prende-se com o facto de<br />
algumas<br />
características diagnosticantes não serem observáveis em madeiras carbonizadas<br />
e outras só serem verdadeiramente perceptíveis em fragmentos de dimensões<br />
consideráveis.<br />
Assume-se como elemento primordial para<br />
a distinção de espécies deste género a<br />
largura<br />
<strong>do</strong>s raios plurisseria<strong>do</strong>s e a altura <strong>do</strong>s raios unisseria<strong>do</strong>s. Em menor medida, e de<br />
forma complementar, poderá ser utiliza<strong>do</strong> o diâmetro máximo <strong>do</strong>s poros no corte<br />
transversal.<br />
Vários fragmentos estuda<strong>do</strong>s, no entanto, não se enquadram facilmente num <strong>do</strong>s<br />
quatro tipos morfológicos identifica<strong>do</strong>s (Erica umbellata, E. scoparia, E. arborea e E.<br />
australis) apresentan<strong>do</strong> características que somente excluem duas, ou uma das espécies<br />
mencionadas. O resulta<strong>do</strong> é um conjunto pouco operacional de grupos xilotómicos. A<br />
principal causa é a dimensão <strong>do</strong>s fragmentos em questão que, na maioria <strong>do</strong>s casos, não<br />
permite observar de forma fiável os padrões referentes à dimensão <strong>do</strong>s raios no corte<br />
tangencial.<br />
Existe assim alguma fragilidade nos critérios usa<strong>do</strong>s na distinção <strong>do</strong>s tipos xilotómicos.<br />
De facto, a diferença entre E. umbellata e E. scoparia reside principalmente<br />
no facto de a<br />
segunda<br />
apresentar raios com quatro células de largura máxima, enquanto que os raios da<br />
primeira não apresentam mais <strong>do</strong> que três células de largura. Acrescente-se que os raios<br />
unisseria<strong>do</strong>s de ambos possuem alturas distintas e os poros, em corte transversal,<br />
apresentam uma ligeira diferença ao nível <strong>do</strong> seu diâmetro máximo (vide supra, ponto<br />
III.2.2.4). Porém, denota-se, em ambos os casos, um grande nível de sobreposição nas<br />
características avaliadas, tornan<strong>do</strong> difícil a identificação de inúmeros fragmentos<br />
de carvão.<br />
Existem também dificuldades para a distinção entre E. arborea e E. australis. Ambas<br />
as espécies apresentam raios mais largos que as restantes urzes presentes nas amostras<br />
estudadas. A distinção entre si faz-se principalmente pelo facto de os raios bisseria<strong>do</strong>s<br />
serem frequentes em E. arborea e raros em E. australis. O diâmetro máximo <strong>do</strong>s poros é<br />
ligeiramente superior na primeira espécie. No entanto, tal como nos casos anteriores, o grau<br />
de sobreposição das características anatómicas é bastante grande.<br />
Uma proposta para a solução desta questão seria a constituição de <strong>do</strong>is grupos<br />
xilotómicos de maior abrangência taxonómica:<br />
E. umbellata/scoparia e E. arborea/australis.<br />
Esta possibilidade deverá ser testada em futuros estu<strong>do</strong>s, ou na continuação deste,<br />
envolven<strong>do</strong> necessariamente um maior número de fragmentos de carvão.<br />
150
Anatomia carpológica em Triticum spp.<br />
Os da<strong>do</strong>s expostos no capítulo IV.2.3.4. demonstram um pre<strong>do</strong>mínio, entre os trigos<br />
vesti<strong>do</strong>s,<br />
de cariopses de T. dicoccum face a T. spelta e T. monococcum. As características<br />
morfológicas, traduzidas em determina<strong>do</strong>s parâmetros biométricos, foram a base deste<br />
estu<strong>do</strong>. Contu<strong>do</strong>, como foi já referi<strong>do</strong>, a distinção entre as diversas espécies não se fez sem<br />
dificuldades.<br />
O grau de sobreposição biométrica entre as cariopses de T. dicoccum e T. spelta é<br />
assinala<strong>do</strong><br />
por S. Jacomet (2006). A autora salienta que quan<strong>do</strong> as cariopses de T. spelta<br />
são submetidas<br />
ao fogo ainda na espigueta ou na espiga, a sua forma torna-se diferente da<br />
<strong>do</strong>s grãos típicos, aproximan<strong>do</strong>-se muito da morfologia e <strong>do</strong>s parâmetros biométricos de T.<br />
dicoccum.<br />
No caso <strong>do</strong>s macro-fosseis vegetais da Terronha de Pinhovelo, deve-se salientar a<br />
existência de uma forte discrepância entre os da<strong>do</strong>s forneci<strong>do</strong>s pelas cariopses e os <strong>do</strong><br />
estu<strong>do</strong><br />
das espiguetas. Os fragmentos de glumas e bases de espiguetas classifica<strong>do</strong>s como<br />
T. spelta são bastante mais abundantes que os de T. dicoccum. Toman<strong>do</strong> o exemplo <strong>do</strong>s<br />
contextos mais circunscritos, isto é, as áreas de combustão, nos quais a comparação entre<br />
proporções de grãos e espiguetas será mais fiável, esse facto torna-se evidente (ver figuras<br />
4.14. e Anexo II). Há, entre as cariopses, um <strong>do</strong>mínio evidente de T. dicoccum sobre T.<br />
spelta, tanto em IV65 como em IV66, <strong>do</strong>mínio que se inverte ao considerarmos as<br />
espiguetas.<br />
A própria quantidade, muito significativa, de fragmentos de espiguetas, assim como o<br />
registo de grãos ainda no interior das respectivas espiguetas sugere que muitas cariopses<br />
tenham si<strong>do</strong> submetidas a fogo antes da descorticação o que tem, como vimos, fortes<br />
implicações na sua morfologia.<br />
Deste mo<strong>do</strong>, consideramos muito provável que nos resulta<strong>do</strong>s apresenta<strong>do</strong>s haja uma<br />
sobrevalorização da presença de grãos de T. dicoccum face aos de T. spelta, provocada por<br />
uma identificação errónea de cariópses,<br />
baseada em características morfológicas<br />
correspondentes<br />
à franja de sobreposição entre as espécies, especialmente quan<strong>do</strong> em<br />
presença de grãos de morfologia alterada pelo fogo. Essa sobrevalorização poderá<br />
conduzir a conclusões erróneas e só estu<strong>do</strong>s mais aprofunda<strong>do</strong>s acerca da morfologia das<br />
cariopses e os efeitos provoca<strong>do</strong>s pela combustão parcial<br />
destas poderão esclarecer esta<br />
questão.<br />
Uma situação semelhante foi detectada na jazida de Cortaillod/Sur les Rochettes-est,<br />
na<br />
Suiça, onde foi estudada maior quantidade de material (Akeret, 2005). Assim, à<br />
semelhança<br />
<strong>do</strong> que se verificou nessa jazida, e partin<strong>do</strong> <strong>do</strong> pressuposto assumi<strong>do</strong> em<br />
151
diversos estu<strong>do</strong>s carpológicos (Jacomet, 2006; Buxo, 1997) de que os fragmentos de<br />
espiguetas são elementos mais fiáveis para a classificação de cereais, assume-se que T.<br />
spelta<br />
seria, entre os trigos vesti<strong>do</strong>s presentes na Terronha de Pinhovelo, o cereal mais<br />
representa<strong>do</strong>.<br />
Também entre T. dicoccum e T. monococcum estão <strong>do</strong>cumentadas dificuldades de<br />
distinção ao nível das cariopses. A identificação de cariopses de “two-seeded” T.<br />
monococcum similares<br />
a T. dicoccum em jazidas <strong>do</strong> leste da Europa e Próximo-Oriente<br />
(Kroll,<br />
1992) poderá constituir uma base para dúvidas nas classificações. No estu<strong>do</strong> da<br />
jazida Feudvar, nos Balcãs, Helmut Kroll (1992) conseguiu no entanto estabelecer uma<br />
distinção entre as duas espécies não com base em parâmetros métricos, apesar de se<br />
verificar uma diferença significativa na espessura, mas sim noutros aspectos morfológicos.<br />
No caso da Terronha de Pinhovelo, as poucas cariopses de T. monococcum<br />
encontradas enquadram-se nos grãos típicos desta espécie e a escassez de fragmentos de<br />
espiguetas inseri<strong>do</strong>s neste tipo morfológico parece confirmar os da<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s no estu<strong>do</strong><br />
das cariopses.<br />
152
2. Distribuição de macro-restos vegetais no Sector B<br />
Atenden<strong>do</strong><br />
ao facto de as amostras recolhidas não se distribuírem de forma<br />
equiparável<br />
pelas diversas fases de ocupação romana <strong>do</strong> Sector B da Terronha de<br />
Pinhovelo não se poderá de forma apropriada estabelecer uma comparação entre as fases<br />
representadas. Na verdade, como foi já referi<strong>do</strong>, os da<strong>do</strong>s disponíveis só permitem<br />
comparar as diferentes áreas de combustão (ver os pontos 4.2.2. e 4.2.3).<br />
A comparação entre as áreas de combustão serve propósitos eminentemente<br />
etnobotânicos. As áreas de combustão representadas pelos depósitos [65] e [66]<br />
encontram-se la<strong>do</strong>-a-la<strong>do</strong>, separadas por um pequeno murete, e correspondem a estruturas<br />
com algumas semelhanças entre si. Distinguem-se por [66] cobrir um pequeno e irregular<br />
empedra<strong>do</strong> com evidentes marcas de fogo, e [65] cobrir um depósito esbranquiça<strong>do</strong> de<br />
origem<br />
antrópica, circunscrito à zona da estrutura. O depósito [71] salienta-se por cobrir uma<br />
estrutura de combustão diferente, ou apenas melhor conservada que as anteriores: uma<br />
base de argila compacta e fina. Distingue-se também pela diferença de volume face aos<br />
outros <strong>do</strong>is depósitos. Ten<strong>do</strong> a U.E. [71] um volume muito menor que as restantes (ver<br />
Quadro III.3.1). Os três depósitos foram recolhi<strong>do</strong>s integralmente.<br />
Dar-se-á particular atenção à comparação entre estes três contextos, remeten<strong>do</strong>-se<br />
para segun<strong>do</strong> plano a área de combustão U.E. [11], pois esta última, ao contrário das<br />
anteriores, não foi recolhida integralmente, prolongan<strong>do</strong>-se, inclusive, para fora da área de<br />
escavação pelo<br />
que não se encontra ainda plenamente compreendida.<br />
Globalmente as três áreas de combustão não são muito diferentes <strong>do</strong> ponto de vista<br />
<strong>do</strong> seu conteú<strong>do</strong> antracológico e caracterizam-se pela presença pre<strong>do</strong>minante de madeira<br />
de Quercus spp., pinheiro, medronheiro e esteva, e pela ocorrência minoritária ou pontual de<br />
outros tipos xilotómicos, a maioria<br />
<strong>do</strong>s quais presente nas três estruturas (ver Quadro 4.1).<br />
Conforme<br />
foi já referi<strong>do</strong>, a exploração interpretativa das diferenças entre a quantidade de<br />
fragmentos de cada tipo identificada em cada contexto é sempre possível em termos<br />
estatísticos mas apresenta, na maioria das vezes, reduzi<strong>do</strong> valor científico, quer na<br />
reconstituição vegetacional quer etnobotânica, da<strong>do</strong>s os diferentes factores enviesantes já<br />
anteriormente comenta<strong>do</strong>s. Por outro la<strong>do</strong>, e também como já explica<strong>do</strong>, a constatação de<br />
ausências de tipos em determina<strong>do</strong>s contextos se assume como factor de pouco significa<strong>do</strong><br />
interpretativo.<br />
Assim,<br />
e não sen<strong>do</strong> os elencos florísticos muito diferentes entre as estruturas de<br />
combustão<br />
consideradas, a sua comparação será baseada em alguns aspectos, que<br />
passaremos a descrever, cujo significa<strong>do</strong>, no entanto, se assume como de reduzi<strong>do</strong> valor<br />
interpretativo.<br />
153
O quadro 5.1. representa os resulta<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s para as áreas de combustão referidas<br />
no que respeita à presença/ausência de taxa na análise antracológica.<br />
Espécie IV65 IV66 III71<br />
Alnus glutinosa 0 0 0<br />
Arbutus une<strong>do</strong> 1 1 1<br />
Cistus sp. 1 1 1<br />
Corylus avelana 0 0 0<br />
Cytisus/Genista 0 0 0<br />
Erica arborea 0 0 0<br />
Erica arborea/australis/scoparia 1 0 0<br />
Erica australis 0 0 0<br />
Erica scoparia 0 0 0<br />
Erica umbellata 1 1 0<br />
Fraxinus angustifolia 1 0 1<br />
cf. Fraxinus angustifolia 0 1 0<br />
Juglans regia 0 0 0<br />
Pinus pinaster 1 1 1<br />
Quercus cf. coccifera 1 1 0<br />
Quercus ilex 0 0 0<br />
Quercus cf. ilex 0 1 0<br />
Quercus faginea 1 1 0<br />
Quercus cf. faginea 1 1 0<br />
Quercus pyrenaica (tipo) 1 1 1<br />
Quercus perenifolia 1 1 0<br />
Quercus suber 0 1 1<br />
Quercus suber/coccifera 1 1 1<br />
Quercus subgenus Quercus 1 1 1<br />
Sorbus sp. 0 0 0<br />
Ulmus minor 0 0 1<br />
Quadro 5.1. – Antracologia: comparação entre áreas de combustão. Os valores<br />
indica<strong>do</strong>s correspondem a presença (1) ou ausência (0) <strong>do</strong>s tipos referi<strong>do</strong>s,<br />
independentemente <strong>do</strong> número de fragmentos identifica<strong>do</strong>s.<br />
Refira-se em primeiro lugar a ausência, nas áreas de combustão, de várias espécies<br />
(células a cinzento claro no quadro 5.1), das quais de salientam o tipo Cytisus e várias<br />
urzes, algo frequentes noutros contextos (ver Quadros 4.1 e 4.2). A inexistência de espécies<br />
como Alnus glutinosa, Corylus avelana, Juglans regia e Sorbus sp. será porventura menos<br />
significativa visto todas estas terem si<strong>do</strong> recolhidas apenas pontualmente e em escassas<br />
amostras (no máximo duas), em to<strong>do</strong> o estu<strong>do</strong> realiza<strong>do</strong>.<br />
Entre as três áreas de combustão as principais diferenças ( algumas assinaladas no<br />
quadro 5.1 a cinzento escuro) apresentam-se de seguida (ver também os Quadros 4.1 e<br />
4.2):<br />
- IV65: presença maioritária de madeira de Quercus, salientan<strong>do</strong>-se os tipos<br />
decíduo/marcescentes; ausência de fragmentos claramente identifica<strong>do</strong>s como<br />
154
sobreiro, embora nesta amostra ocorra um grande número de fragmentos de<br />
Quercus de tipo específico não determina<strong>do</strong>.<br />
- IV66: maior quantidade de madeira de pinheiro; ausência de fragmentos<br />
claramente identifica<strong>do</strong>s como freixo, embora ocorram fragmentos assim<br />
identifica<strong>do</strong>s com reserva.<br />
- III71: ausência de qualquer espécie de urzes, ausência de carvalhocerquinho;<br />
registo único de Ulmus minor.<br />
Já nos da<strong>do</strong>s carpológicos se denotam divergências mais relevantes entre as duas<br />
estruturas de combustão [65] e [66]. As sementes mais abundantes nos três contextos<br />
pertencem a cereais. Apresentam-se as principais diferenças:<br />
- IV66: tem, no seu total bastantes mais sementes; tem um maior<br />
número de cariopses de trigo em mau esta<strong>do</strong> de conservação, identificadas<br />
apenas ai nível genérico; é o único destes contextos com cariopses de T.<br />
monococcum; conta com poucas cariopses de cevada; não contém unidades<br />
de favas (apenas ocorrem alguns pequenos fragmentos sem hilo); contém<br />
gramíneas silvestres.<br />
- IV65: tem quantidades muito significativas de cevada; apresenta<br />
grandes quantidades de favas; não conta com gramíneas silvestres.<br />
A estrutura de combustão III71, por seu la<strong>do</strong>, é muito diferente, apresentan<strong>do</strong> um<br />
número muito mais reduzi<strong>do</strong> de sementes (Quadro 4.11.). No que diz respeito aos cereais,<br />
as diferenças<br />
mais significativas entre IV66 e IV65 consistem numa maior frequência de<br />
cevada em IV65 e na ocorrência exclusiva de T. monococcum em IV66.<br />
Porém, as diferenças entre as duas áreas de combustão <strong>do</strong> Ambiente I ([65] e [66])<br />
tornam-se mais evidentes no que concerne à presença de favas. De facto, como foi já<br />
menciona<strong>do</strong> antes, quase todas as favas recolhidas neste estu<strong>do</strong> encontram-se associadas<br />
à área de combustão [65]. III71 não continha qualquer exemplar ou fragmento de fava,<br />
enquanto que IV66 forneceu somente alguns fragmentos de fava sem hilo, ou seja, não foi<br />
contabilizada qualquer unidade.<br />
No que respeita às espécies silvestres, IV66 e IV65 contam com a presença de plantas<br />
ruderais, sen<strong>do</strong> IV65 o único destes contextos que apresenta Lolium sp., Por outro la<strong>do</strong>, em<br />
III71 não foram recolhi<strong>do</strong>s restos de infestantes, ten<strong>do</strong> apenas ocorri<strong>do</strong> bolotas, sen<strong>do</strong>,<br />
aliás, a única área de combustão com glandes de Quercus sp.<br />
Deste mo<strong>do</strong>, enquanto que IV66 e IV65 poderão incluir espécies infestantes de<br />
campos agrícolas e ruderais, III71 parece associar-se a meios distintos, traduzin<strong>do</strong>,<br />
155
possivelmente<br />
funcionalidades distintas para esta área de combustão (pelo menos na sua<br />
ultima utilização).<br />
Muitas<br />
outras espécies silvestres ocorrem nas outras amostras e não são encontradas<br />
nas áreas de combustão. Porém, a sua presença é sempre minoritária nos restantes<br />
contextos (usualmente uma só semente num só contexto) pelo que este facto acaba por não<br />
ser muito relevante.<br />
De<br />
resto, os restantes contextos contêm bastante menos espécies cultivadas <strong>do</strong> que<br />
as estruturas de combustão, facto resultante da diferente natureza <strong>do</strong>s mesmos.<br />
156
3. Estratégias<br />
de recolha de combustível<br />
A análise estatística<br />
<strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s antracológicos apesar de não ter si<strong>do</strong> particularmente<br />
esclarece<strong>do</strong>ra<br />
visto os diferentes contextos assemelharem-se bastante ao nível de<br />
composição florística, permitiu ainda assim<br />
compreender alguns aspectos das estratégias de<br />
recolha de combustível,<br />
inerentes a cada contexto.<br />
Num primeiro nível de análise é possível afirmar<br />
que não há padrões que distingam<br />
claramente contextos de derrube, depósitos ou mesmo áreas de combustão.<br />
Alguns contextos arqueológicos evidenciam escolhas distintas de combustível. As U.E.<br />
[9], [24], [50], [63], [66], [82] e [95], já mencionadas anteriormente, assemelham-se pela sua<br />
associação maioritária aos bosques de perenifolias (condiciona<strong>do</strong>s<br />
em especial pela<br />
presença de Quercus<br />
perenifolia e Quercus ilex) e, principalmente, pelo facto de serem os<br />
únicos contextos<br />
sem Fraxinus angustifolia ou qualquer espécie ripícola. Repare-se que<br />
nestes contextos<br />
inclui-se uma área de combustão, a IV66 (apesar de não se mencionar<br />
IV65, como já se fez notar acima, a distinção entre ambas não é muito significativa).<br />
As U.E. [3], [20], [22] e [70] encontram-se associadas principalmente a bosques de<br />
caducifólias (principalmente pela presença de Quercus pyrenaica e Quercus subgenus<br />
Quercus), e por oposição,<br />
apresentam uma correlação negativa com as formações<br />
arbustivas, nomeadamente<br />
com os giestais, estevais e urzais.<br />
É visível que as espécies arbustivas surgem em poucas amostras, sen<strong>do</strong> mais notável<br />
a escassez<br />
de leguminosas e a preferência por estevas e urzes. A espécie presente em<br />
mais amostras é o pinheiro bravo, associan<strong>do</strong>-se a to<strong>do</strong>s os outros tipos xilotómicos<br />
identifica<strong>do</strong>s, sugerin<strong>do</strong> a sua presença nos diversos trajectos de recolha de combustível.<br />
Por fim, refira-se que apesar de as PCA sugerirem a individualização<br />
<strong>do</strong> contexto IV11,<br />
que é também um contexto único <strong>do</strong> ponto de vista estrutural, essa distinção é artificial da<strong>do</strong><br />
a principal discriminação se referir a grupos e tipos xilotómicos dúbios, nomeadamente Erica<br />
spp. e Quercus coccifera).<br />
Contu<strong>do</strong>, a interpretação <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s deve ser feita com as devidas cautelas. Com<br />
algumas excepções, a maioria das U.E. foram alvo de recolhas de sedimento cuja<br />
representatividade<br />
face à totalidade <strong>do</strong> depósito é desconhecida. Ao mesmo tempo, o<br />
significa<strong>do</strong> destes últimos contextos é distinto daqueles que proporcionam carvões<br />
concentra<strong>do</strong>s visto resultarem da repetição de gestos.<br />
As excepções, as U.E. cujo sedimento foi integralmente recolhi<strong>do</strong>, são as áreas de<br />
combustão<br />
e sedimentos próximos (nos quais de incluem [63]). Também a recolha de [22]<br />
foi quase integral.<br />
157
Saben<strong>do</strong> que as comunidades humanas conhecem aprofundadamente os recursos de<br />
que dispõem, as diferenças patenteadas pelos vários contextos poderão representar<br />
diferentes selecções de matéria lenhosa para distintos fins. A escassez de estruturas<br />
escavadas<br />
não permite aprofundar melhor esta possibilidade interpretativa.<br />
Exploran<strong>do</strong> a possibilidade da recolha de combustível encontrar-se associada aos<br />
trajectos percorri<strong>do</strong>s e espaços frequenta<strong>do</strong>s no decorrer das tarefas diárias, em especial os<br />
trabalhos agrícolas, então<br />
a realidade identificada na Terronha de Pinhovelo poderia traduzir<br />
esses<br />
diferentes trajectos. Note-se, no entanto, a relativa escassez em tipos xilomórficos<br />
associa<strong>do</strong>s a espécies arbustivas que provavelmente ocorreriam precisamente nos<br />
espaços<br />
mais antropiza<strong>do</strong>s relaciona<strong>do</strong>s com a actividade agrícola, estan<strong>do</strong> os espectros<br />
antracológicos <strong>do</strong>mina<strong>do</strong>s por espécies arbóreas (carvalho, sobreiro, azinheira, pinheiro,<br />
freixo) que habitavam certamente as parcelas da paisagem de maior estabilidade ecológica,<br />
os territórios remotos e periféricos, mais afastadas das acções quotidianas da comunidade<br />
rural. Parece-nos assim evidente que a recolha de madeira para combustível constituía uma<br />
necessidade que transcendia em muito a recolha de troncos secos “mais à mão” durante os<br />
percursos realiza<strong>do</strong>s para outras tarefas.<br />
Se, como parece provável, a lenha disponível na área frequentada aquan<strong>do</strong> <strong>do</strong>s<br />
trabalhos quotidianos não fosse suficiente, seria necessário recorrer a locais onde esta<br />
fosse mais abundante, o que implicaria um maior afastamento <strong>do</strong> núcleo habitacional. Essa<br />
deslocação propositada para a obtenção de combustível implicaria a recolha e corte<br />
intencional de recursos lenhosos, acentuan<strong>do</strong>-se, assim, a componente de selecção da<br />
actividade visto, como ficou demonstra<strong>do</strong>, existir um claro conhecimento das propriedades<br />
de cada madeira.<br />
O esforço de obtenção de material lenhoso seria tanto mais considerável quanto mais<br />
dura fosse a tarefa. Se as zonas mais florestadas fossem, como até recentemente, os<br />
montes mais eleva<strong>do</strong>s, a selecção seria uma forma de optimizar o esforço despendi<strong>do</strong>.<br />
O recurso às zonas mais elevadas como locais de obtenção de materiais lenhosos<br />
registava-se até recentemente nas aldeias de Travanca e Pinhovelo, nas imediações da<br />
jazida arqueológica. Actualmente esses locais coincidem com as zonas preferenciais <strong>do</strong><br />
pinheiro bravo (sub-espontâneo) e <strong>do</strong> carvalho-negral, espécies presentes na maioria das<br />
amostras estudadas.<br />
Parece-nos que os territórios preferenciais para a obtenção de combustível seriam o<br />
Periférico e o Remoto, visto o material lenhoso certamente escassear nos territórios<br />
Adjacente e Próximo. No século IV d.C. o grau de ocupação e utilização <strong>do</strong> solo seria<br />
bastante eleva<strong>do</strong>, e depressa o território Periférico de uma povoação coincidiria com o<br />
território Periférico ou até Próximo de outra. Francisco Sande Lemos (1993) coloca a<br />
hipótese de estes terrenos de exploração comum serem a principal fonte de conflitos<br />
158
durante a Idade <strong>do</strong> Ferro, até serem ocupa<strong>do</strong>s por unidades uni-familiares e novas<br />
povoações durante a paz romana.<br />
Desta forma, de mo<strong>do</strong> a assegurar o aprovisionamento de material lenhoso é possível<br />
que houvesse uma gestão <strong>do</strong>s locais de obtenção de combustível no território Periférico.<br />
Essa gestão poderia mesmo incidir especialmente sobre determinadas espécies, tal como<br />
foi detecta<strong>do</strong> por A. Carvalho (2005) no Parque Natural de Montesinho, neste caso<br />
verifican<strong>do</strong>-se<br />
a gestão de matos de Genista florida (Carvalho, 2005).<br />
159
4. Estruturas<br />
arqueológicas: possibilidades interpretativas<br />
Foram detectadas várias estruturas com materiais de origem vegetal durante os<br />
trabalhos arqueológicos. Entre elas contam-se uma estrutura de armazenagem,<br />
estruturas<br />
de combustão<br />
de diversas tipologias e ainda compartimentos. Procura-se precisar a<br />
funcionalidade de cada estrutura recorren<strong>do</strong> ao seu conteú<strong>do</strong> de macro-restos vegetais.<br />
A estrutura de armazenagem, o Ambiente IV, forneceu escassos materiais de origem<br />
vegetal. Foram recolhidas amostras da U.E. [82], o primeiro depósito encontra<strong>do</strong> no interior<br />
da estrutura e aquele que mais a preenchia, que continha poucas cariopses de cereais,<br />
entre as quais duas de Panicum miliaceum e alguns carvões que parecem evidenciar um<br />
incêndio. Porém o facto de se tratar de um nível de derrube ou de selagem intencional que<br />
poderá ter si<strong>do</strong> levada a cabo com sedimentos de outra origem, não permite com segurança<br />
afirmar que os materiais carboniza<strong>do</strong>s eram mesmo provenientes da estrutura<br />
O facto de este Ambiente IV se encontrar escava<strong>do</strong> no piso de um compartimento,<br />
apresentan<strong>do</strong> o fun<strong>do</strong> revesti<strong>do</strong> a opus signinum e as paredes de xisto revestidas a argila<br />
demonstra um grande esforço para a conservação<br />
<strong>do</strong> seu conteú<strong>do</strong>. Contu<strong>do</strong>, com os da<strong>do</strong>s<br />
disponíveis<br />
não é possível deduzir o que era armazena<strong>do</strong> na referida estrutura.<br />
A estrutura negativa cheia pelo depósito [11] deverá tratar-se de uma área de<br />
combustão. Foi alvo de amostras tratadas por flutuação que forneceram inúmeros macrorestos<br />
vegetais, em especial carvões. De facto, foram escassas as sementes detectadas<br />
neste depósito, sen<strong>do</strong> as únicas cariopses de cereal provenientes de recolhas manuais.<br />
Não é possível<br />
uma melhor interpretação deste contexto que não foi ainda totalmente<br />
delimita<strong>do</strong><br />
em escavação e que se prolonga para lá da área de intervenção marcada.<br />
Parece pouco provável, porém, o seu relacionamento com o processamento de cereais.<br />
No Ambiente I foram definidas, sem margem para dúvidas, três áreas de combustão<br />
estruturadas.<br />
A primeira delas não tem qualquer depósito com macro-restos vegetais<br />
directamente associa<strong>do</strong>. Trata-se de um empedra<strong>do</strong> de xisto e quartzo (U.E. [25]) de forma<br />
aproximadamente quadrangular, com um murete associa<strong>do</strong>, no limite Este da estrutura (ver<br />
planta <strong>do</strong> Anexo X). Um pequeno depósito de coloração escura, U.E. [63], surgia nas suas<br />
imediações, cobrin<strong>do</strong> parcialmente algumas pedras <strong>do</strong> limite Su<strong>do</strong>este desta estrutura.<br />
Ten<strong>do</strong><br />
si<strong>do</strong> integralmente recolhi<strong>do</strong>, forneceu muito poucos macro-fosseis e nenhuma<br />
cariopse de cereal. Caso se tratasse de um depósito de limpeza da estrutura, testemunharia<br />
uma actividade que ou não se relacionou com o tratamento de cereais ou decorreu sem<br />
conduzir à perda de qualquer grão.<br />
A segunda estrutura de combustão encontrava-se entre <strong>do</strong>is alinhamentos pétreos (um<br />
a Este e outro a Oeste). O depósito que constituía os vestígios da sua utilização foi<br />
160
denomina<strong>do</strong> de U.E. [65] e cobria uma base de terra dura e esbranquiçada, a U.E. [74] (ver<br />
planta <strong>do</strong> Anexo X).<br />
A terceira estrutura era limitada a Este pelo alinhamento de pedras [90], o mesmo que<br />
limita a estrutura anteriormente descrita. Um depósito escuro com abundantes carvões e<br />
sementes, a U.E. [66], cobria um empedra<strong>do</strong> irregular e grosseiro, a U.E. [87].<br />
Foram já estabelecidas comparações entre a composição de cada estrutura no que<br />
respeita a carvões e sementes, verifican<strong>do</strong>-se as diferenças mais relevantes ao nível <strong>do</strong>s<br />
carporestos recolhi<strong>do</strong>s. Parece claro que a função destas áreas de combustão, pelo menos<br />
no que respeita à sua última utilização, centrava-se no processamento de alimentos, em<br />
especial cereais e favas.<br />
Assim, perceber qual a funcionalidade das estruturas em questão implica compreender<br />
as actividades que pressupõem o contacto destes alimentos com o fogo (ver capítulo<br />
IV.2.4.1.).<br />
Embora não se exclua a possibilidade de as referidas estruturas terem si<strong>do</strong> utilizadas<br />
para a confecção de alimentos, a presença frequente de fragmentos de espiguetas parece<br />
apontar noutro senti<strong>do</strong>. Pressupõe-se que, na fase de confecção para alimentação, os grãos<br />
estejam já limpos e, embora seja possível algum erro na descorticação, dificilmente se<br />
encontrariam tantas espiguetas no momento de preparação <strong>do</strong> alimento.<br />
Coloca-se em alternativa a possibilidade de se tratarem de estruturas de apoio às<br />
fases iniciais <strong>do</strong> processamento <strong>do</strong>s cereais, como descritas por Peña-Chocarro (1999).<br />
Chamuscar as espiguetas directamente ao fogo, embora seja considera<strong>do</strong> por vários<br />
autores como uma prática de pouca utilidade para a descorticação <strong>do</strong>s grãos, está<br />
<strong>do</strong>cumentada na Galiza, na actualidade (Peña-Chocarro, 1999). A sua prática, não sen<strong>do</strong><br />
inteiramente explicada por questões funcionais, poderá talvez ser explicada por factores<br />
culturais específicos que, no momento, não nos é possível compreender com mais detalhe.<br />
De igual forma, as estruturas poderiam ter si<strong>do</strong> utilizadas como áreas de secagem de<br />
espiguetas e grãos após serem macera<strong>do</strong>s em almofariz, prática que deveria ser habitual no<br />
processamento de trigos vesti<strong>do</strong>s e que implicaria o uso de fogo. No entanto, esta<br />
explicação não encontra senti<strong>do</strong> no facto de cerca de metade <strong>do</strong>s grãos de trigo<br />
encontra<strong>do</strong>s em cada estrutura pertencerem a T. aestivum e T. compactum, isto é, trigos de<br />
grão nu, para os quais os gestos descritos não fariam muito senti<strong>do</strong>. De igual mo<strong>do</strong>, o facto<br />
de terem si<strong>do</strong> recolhidas abundantes favas (Vicia faba var. minor) numa das estruturas, no<br />
depósito [65], parece de difícil compreensão. No contexto referi<strong>do</strong> a fava é mesmo o macroresto<br />
vegetal mais abundante, pelo que compreender a funcionalidade desta estrutura<br />
implica saber que tipo de actividade poderá ser comum às várias espécies.<br />
As práticas de farinação <strong>do</strong> trigo podem incluir uma prévia e ligeira torrefacção <strong>do</strong><br />
grão. Como foi já menciona<strong>do</strong>, é consumida farinha de grão tosta<strong>do</strong> na Turquia. Por outro<br />
161
la<strong>do</strong>, podemos pressupor ser necessário secar as favas antes da sua trituração para<br />
obtenção de farinha (lomentum), utilizada para o fabrico de pão e sopas. De facto, o eleva<strong>do</strong><br />
grau<br />
de humidade desta leguminosa deveria prejudicar a sua transformação em farinha.<br />
Contu<strong>do</strong>, embora possam ser obtidas papas e até pão de mistura com as duas farinhas,<br />
seria provável que a farinação <strong>do</strong>s grãos de trigo e das favas fosse realizada em separa<strong>do</strong> e<br />
quan<strong>do</strong> os trigos vesti<strong>do</strong>s tivessem já si<strong>do</strong> descortica<strong>do</strong>s.<br />
Deste mo<strong>do</strong>, nenhuma actividade que pressuponha o contacto com o fogo <strong>do</strong> grão e<br />
espiguetas de trigo, assim como das favas, parece explicar com clareza a realidade<br />
detectada nas duas áreas de combustão estudadas no Ambiente I.<br />
Porém, é possível que esta dificuldade interpretativa se deva a um erro de análise<br />
prévio à leitura <strong>do</strong>s conteú<strong>do</strong>s paleobotânicos de cada estrutura. O facto de cada um <strong>do</strong>s<br />
depósitos, U.E. [65] e [66], se encontrar associa<strong>do</strong> a uma estrutura de combustão foi sempre<br />
interpreta<strong>do</strong> como o resulta<strong>do</strong> de uma ultima utilização das mesmas. Colocan<strong>do</strong>-se<br />
a<br />
hipótese<br />
de estarmos perante evidências de mais <strong>do</strong> que uma actividade, qualquer uma <strong>do</strong>s<br />
gestos acima descritos poderá ter-se verifica<strong>do</strong> no local em momentos diferentes.<br />
Salientamos que a estrutura de combustão mais bem construída e delimitada, o<br />
empedra<strong>do</strong> quadrangular [25], não se encontra totalmente coberta por qualquer<br />
depósito,<br />
pressupon<strong>do</strong> que tenha si<strong>do</strong> sucessivamente limpa após as últimas utilizações. Alguns<br />
desses<br />
detritos poderão ter si<strong>do</strong> coloca<strong>do</strong>s sobre as restantes estruturas localizadas nesse<br />
mesmo compartimento, ten<strong>do</strong> o aban<strong>do</strong>no da povoação dita<strong>do</strong> a conservação de uma<br />
imagem conjunta de vários momentos, possivelmente realiza<strong>do</strong>s num curto espaço de<br />
tempo, talvez realiza<strong>do</strong>s com a consciência da proximidade <strong>do</strong> aban<strong>do</strong>no.<br />
Em suma, várias actividades poder-se-ão ter realiza<strong>do</strong> nas estruturas de combustão <strong>do</strong><br />
Ambiente I, das quais salientamos:<br />
- Descorticação <strong>do</strong>s cereais vesti<strong>do</strong>s. A descorticação realizar-se-ía por maceração<br />
em almofariz<br />
e, de mo<strong>do</strong> a facilitar esta actividade, as espiguetas com grão poderiam ser<br />
sujeitas a fogo (originan<strong>do</strong> assim algumas perdas de grão e a carbonização das espiguetas)<br />
ou mergulhadas em água. A secagem de espiguetas e grãos, antes de serem peneira<strong>do</strong>s ou<br />
padeja<strong>do</strong>s, poderia ser feita ao sol ou, quan<strong>do</strong> as condições climatéricas ou a urgência da<br />
necessidade não o permitissem, com recurso ao fogo.<br />
- Secagem ou torragem. É uma actividade que poderá ser comum a grãos de cereal e<br />
às favas. Apesar de considerarmos que a secagem deveria facilitar a farinação da fava, a<br />
torrefacção <strong>do</strong>s grãos de cereal era uma actividade opcional, ainda que actualmente<br />
<strong>do</strong>cumentada para o fabrico de farinha e ainda para consumo directo. Poderia estar<br />
relacionada também com práticas de armazenagem.<br />
162
Assim, as actividades que poderão ter si<strong>do</strong> realizadas no Ambiente I encontram-se<br />
relacionadas, maioritariamente, com o processamento de cereais e favas, possivelmente<br />
numa fase prévia à da sua confecção para alimentação humana.<br />
escava<strong>do</strong> um pequeno depósito, U.E. [71], sobre uma estrutura de combustão<br />
constituída<br />
por<br />
No compartimento que ladeia este Ambiente I, nomeadamente o Ambiente II, foi<br />
uma base de argila sobre um empedra<strong>do</strong> de xisto. Nessa estrutura não foram<br />
encontradas escassas cariopses, pressupon<strong>do</strong> uma funcionalidade distinta, pelo menos na<br />
sua utilização final. Tal é também sugeri<strong>do</strong> pela detecção de bolotas no depósito [22],<br />
contexto relaciona<strong>do</strong> com a mesma estrutura. Contu<strong>do</strong>, a quantidade de macro-restos é<br />
pouco significativa e a listagem de espécies é demasia<strong>do</strong> heterogénea para permitir<br />
considerações<br />
mais aprofundadas.<br />
No que respeita aos fragmentos de bolotas (Quercus sp.), foram recolhi<strong>do</strong>s somente<br />
fragmentos de glandes e nenhum de cúpulas. O facto das duas partes <strong>do</strong> fruto<br />
apresentarem<br />
um comportamento semelhante face à combustão, poderá ser utiliza<strong>do</strong>, à<br />
semelhança <strong>do</strong> que acontece em outros estu<strong>do</strong>s, como uma demonstração da utilização das<br />
bolotas para consumo humano pois o seu uso como forragem não implicaria a remoção<br />
intencional das cúpulas (Ramil-Rego, et al., 1996). A presença das bolotas entre os<br />
carporestos da Terronha de Pinhovelo, pela sua relativa escassez, não pode ser utilizada<br />
como uma evidência clara de práticas silvícolas sen<strong>do</strong> natural que resulte apenas de<br />
práticas de recolecção.<br />
To<strong>do</strong> o Ambiente II, em especial os depósitos [70] e [21] que traduzem a sua ultima<br />
utilização, forneceu quantidades significativas de cariopses de cereal, embora bastante<br />
menos que as estruturas de combustão <strong>do</strong> Ambiente I. Esta diferença é perfeitamente<br />
justificada pela natureza <strong>do</strong>s contextos, ainda que seja discutível considerar as U.E. [21] e<br />
[70] depósitos dispersos visto encontrarem-se circunscritos ao interior de um compartimento,<br />
o Ambiente<br />
II. Este facto poderá explicar inclusive a evidente maior diversidade de espécies<br />
silvestres <strong>do</strong> Ambiente II. Os <strong>do</strong>is compartimentos são indissociáveis visto que, para além<br />
de se ladearem, ambos são abertos para Oeste, isto é, não apresentam qualquer parede<br />
nesse la<strong>do</strong> (ver planta no Anexo X). Deste mo<strong>do</strong>, aparentam, em planta, ser parte de uma<br />
mesma realidade que, no esta<strong>do</strong> actual <strong>do</strong>s trabalhos arqueológicos, não é possível<br />
interpretar de forma mais precisa. Os da<strong>do</strong>s arqueobotânicos não confirmam mas permitem<br />
colocar essa possibilidade, embora haja diferenças consideráveis entre os <strong>do</strong>is contextos.<br />
163
5. As práticas de produção agrícola: uma aproximação<br />
Para<strong>do</strong>xalmente, ainda que as práticas de monocultura se tenham generaliza<strong>do</strong> e<br />
assumi<strong>do</strong> um importante papel para impulsionar a economia agrícola, vários estu<strong>do</strong>s<br />
apontam que uma das principais inovações da agricultura romana foi a diversificação de<br />
cultivos (Buxo, 2005; Prevosti e Guitart, 2005). Contu<strong>do</strong>, nas amostras da Terronha de<br />
Pinhovelo<br />
até agora estudadas as únicas culturas das quais restaram vestígios carpológicos<br />
foram os cereais e as favas (Vicia faba var. minor). Entre os cereais destacam-se Triticum<br />
aestivum, T. spelta, T. compactum, T. dicoccum e Hordeum vulgare.<br />
Em menores<br />
quantidades<br />
detectaram-se T. monococcum, Panicum miliaceum e Setaria italica.<br />
Há que salientar que, sen<strong>do</strong> evidente a presença e importância <strong>do</strong> trigo, faltam <strong>do</strong>is<br />
elementos da tríade mediterrânica característica <strong>do</strong> mun<strong>do</strong> romano e identificada noutras<br />
regiões peninsulares (Prevosti e Guitart, 2005): a vinha e a oliveira. Apesar da<br />
especificidade <strong>do</strong>s contextos da Terronha de Pinhovelo aqui estuda<strong>do</strong>s poderem ter um<br />
papel importante nestes da<strong>do</strong>s, é evidente nos estu<strong>do</strong>s carpológicos <strong>do</strong> NW peninsular<br />
que<br />
estes <strong>do</strong>is elementos não são particularmente abundantes nesta área geográfica (Ramil-<br />
Rego et al., 1996), o que poderá testemunhar não só diferenças culturais significativas como<br />
também diferentes níveis de romanização e integração no império.<br />
O cultivo de diferentes espécies em conjunto nos mesmos terrenos poderia ser uma<br />
prática comum, tal como aparece atestada mais recentemente. Por outro la<strong>do</strong>, práticas de<br />
alternância seriam certamente uma opção estratégica para assegurar a qualidade <strong>do</strong>s solos.<br />
De facto, os diversos trigos vesti<strong>do</strong>s podem ser planta<strong>do</strong>s e até colhi<strong>do</strong>s<br />
em conjunto<br />
pois os processos que se seguem à segada são semelhantes para to<strong>do</strong>s (Peña-Chocarro,<br />
1999). Seguin<strong>do</strong> esta linha de raciocínio,<br />
poderemos pressupor que as variedades vestidas<br />
e nuas<br />
de trigo seriam cultivadas em separa<strong>do</strong>. Acrescente-se ainda que, segun<strong>do</strong> Marinval<br />
(1992), também as duas espécies de milho poderiam ser cultivadas juntas.<br />
Por outro la<strong>do</strong>, o registo das diferentes espécies de cereais e mesmo da fava sugere a<br />
existência de uma alternância de cultivos. Buxo e colabora<strong>do</strong>res (1995) colocam a<br />
possibilidade de ter existi<strong>do</strong> em épocas proto-históricas, na Catalunha, a um sistema de<br />
cultivo trienal, à base de trigo, cevada e leguminosas, que<br />
permitia manter a fertilidade <strong>do</strong>s<br />
solos.<br />
A verificar-se uma situação semelhante em época romana na região da Terronha de<br />
Pinhovelo, a leguminosa que participaria nesta rotatividade deveria ser a fava.<br />
A alternância entre cereais e outras espécies como estratégia de cultivo não constitui<br />
um comportamento estranho na região. Na região de Mace<strong>do</strong> de Cavaleiros, na qual se<br />
164
inclui<br />
a jazida arqueológica aqui em estu<strong>do</strong>, até recentemente a cultura <strong>do</strong>s cereais<br />
alternava com a da batata (Taborda, 1932) 12 .<br />
A recolha de cariopses de milho, apesar de minoritárias no conjunto<br />
carpológico, é um<br />
aspecto<br />
importante para a compreensão das estratégias agrícolas das populações que<br />
habitaram esta povoação durante o século IV. De facto, a importância da presença <strong>do</strong>s<br />
milhos reside no facto de, enquanto cereais de Primavera, o seu cultivo permitir compensar<br />
as más colheitas de Inverno (de trigo). Esta complementaridade entre cultivos é essencial<br />
para as comunidades camponesas e pressupõe a existência de uma grande variabilidade de<br />
cultivos (Fernandez-Posse e Sánchez-Palencia, 1998).<br />
Por fim, devem ser feitas algumas observações acerca da presença de sementes de<br />
Portulaca oleracea. Tratan<strong>do</strong>-se a horta de um espaço muito importante no território<br />
Adjacente,<br />
não se deve excluir a possibilidade de ter existi<strong>do</strong> uma gestão hortícola da<br />
beldroega, espécie ruderal da qual existem variedades cultivadas. Note-se porém que a<br />
beldroega consiste numa planta nitrófila que cresce espontânea e abundantemente nos<br />
espaços ruderaliza<strong>do</strong>s, pelo que, mesmo o seu consumo pela comunidade não implica o<br />
seu cultivo directo, poden<strong>do</strong> corresponder apenas a recolecção. As mesmas considerações<br />
poderão ser feitas acerca das espécies de Polygonum encontradas. As sementes de<br />
Portulaca surgem, para além de outros locais, nas áreas de combustão <strong>do</strong> Ambiente I, no<br />
entanto não é possível perceber se tal se deve a razões de ín<strong>do</strong>le culinária ou meramente à<br />
sua presença como espécie<br />
daninha em campos de cultivo, hortas ou espaços ruderais.<br />
De resto, o registo antracológico forneceu evidências da existência na paisagem de<br />
outras espécies que poderão ter si<strong>do</strong> alvo de uma exploração para fins alimentares,<br />
nomeadamente Arbutus une<strong>do</strong>, Corylus avellana, Prunus spinosa, Sorbus sp. e Juglans<br />
regia (esta última provavelmente cultivada no território explora<strong>do</strong> pela comunidade).<br />
Contu<strong>do</strong>, os vestígios detecta<strong>do</strong>s (a madeira carbonizada) não permitem certificar a recolha<br />
<strong>do</strong>s seus frutos. Seria ingénuo pensar que não existia uma exploração desses recursos em<br />
época romana, pois alguns <strong>do</strong>s frutos em questão apresentam eleva<strong>do</strong> valor proteico e<br />
calórico. É, no entanto, impossível saber se essa exploração implicou uma gestão efectiva<br />
das comunidades vegetais existentes na paisagem ou se se realizaram meras práticas de<br />
recolecção.<br />
12<br />
Esta situação foi confirmada nas inquirições realizadas à população residente nas aldeias próximas<br />
da Terronha de Pinhovelo.<br />
165
6. O território antigo<br />
Como foi menciona<strong>do</strong> nos capítulos introdutórios deste estu<strong>do</strong>, a mais imediata<br />
inferência paleoecológica fornecida pelo estu<strong>do</strong> <strong>do</strong>s macro-restos vegetais é a presença na<br />
envolvência <strong>do</strong> sítio arqueológico <strong>do</strong>s taxa identifica<strong>do</strong>s. Se, a sua maioria é originária de<br />
esforços quotidianos, pressupõe-se que não provêm de pontos muito distantes <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>.<br />
Ainda assim, e apesar de se estabelecer como base de estu<strong>do</strong> um território teórico de 30<br />
minutos, é inegável que a exploração territorial <strong>do</strong>s habitantes da Terronha de Pinhovelo,<br />
seria mais ampla. Ou seja, não é claro que os territórios Próximo e Periférico se limitassem<br />
ao território teórico de 30 minutos, embora acreditemos que pouco extravasasse esta<br />
realidade,<br />
em especial pelas características geomorfológicas <strong>do</strong>s limites Norte e Oeste.<br />
Foram identifica<strong>do</strong>s diversos tipos morfológicos com base no estu<strong>do</strong> <strong>do</strong>s carvões,<br />
sementes e folhas, recolhidas em escavação no Sector B. Os quadros <strong>do</strong>s Anexos VII e VIII<br />
listam esses tipos morfológicos e a sua possível correspondência com as espécies<br />
botânicas. Se para muitos casos essa correspondência é imediata, em outros os macrorestos<br />
só permitiram uma identificação ao nível <strong>do</strong> género, ou até em grupos mais latos (por<br />
exemplo Cytisus/Genista/Ulex). Através da comparação com a realidade identificada por<br />
Carlos Aguiar (2001) no Parque Natural de Montesinho e Serra da Nogueira (PNM-N),<br />
tentou-se<br />
perceber quais as espécies presentes na região e qual a sua ecologia. Embora a<br />
realidade aqui analisada se encontre a Sul da área de estu<strong>do</strong> de C. Aguiar, a sua<br />
dissertação é o único estu<strong>do</strong> aprofunda<strong>do</strong> de toda a metade Norte <strong>do</strong> Nordeste<br />
transmontano.<br />
Como é prática em qualquer estu<strong>do</strong> paleobotânico, analisa-se a realidade <strong>do</strong> passa<strong>do</strong><br />
por comparação com a ecologia que as espécies apresentam na actualidade, pressupon<strong>do</strong>se<br />
que o comportamento dessas espécies, assim como a sua anatomia, permanece<br />
inaltera<strong>do</strong>.<br />
Os referi<strong>do</strong>s quadros permitem, assim, perceber que ecologias presentes nas<br />
imediações <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong> foram exploradas pelas comunidades em época romana,<br />
nomeadamente no século IV d.C., sem, no entanto, ser possível inferir qualquer indicação<br />
da extensão da sua presença no território.<br />
Os carvões estuda<strong>do</strong>s testemunham a presença de bosques ou galerias ripícolas<br />
compostas por Alnus glutinosa, Corylus avelana, Ulmus minor e Fraxinus angustifolia.<br />
Não<br />
se descarta,<br />
obviamente, a possibilidade de outras espécies estarem incluídas nesta<br />
realidade, algumas delas não representadas neste estu<strong>do</strong> e ainda outras detectadas em<br />
carvão ou semente, tais como a Erica arborea, Prunus spinosa, Sorbus sp. e Polygonum sp.<br />
(de aquénio lenticular).<br />
166
Na actualidade, as margens de ribeiras ou baixios húmi<strong>do</strong>s da zona envolvente <strong>do</strong><br />
povoa<strong>do</strong> e de toda a região são claramente <strong>do</strong>minadas pelo freixo. Atenden<strong>do</strong> ao facto de<br />
Fraxinus<br />
angustifolia ser de forma muito evidente a espécie ripícola que surge no maior<br />
número de amostras, ou seja, aquela que mais vezes se encontra representada sincrónica e<br />
diacronicamente na Matriz da jazida, é bastante provável que esta fosse a espécie<br />
<strong>do</strong>minante entre a vegetação ripícola em época romana, mesmo pesan<strong>do</strong> o facto de ser<br />
entendida pelas comunidades rurais actuais como uma madeira de recolha preferencial para<br />
lume.<br />
Embora não seja possível perceber qual o nível de conservação <strong>do</strong>s bosques ripícolas,<br />
parece<br />
pouco plausível que não tenha havi<strong>do</strong> uma exploração intensa <strong>do</strong>s férteis solos que<br />
existem junto às pequenas linhas de água que ladeiam a elevação da Terronha.<br />
A presença recorrente de Quercus pyrenaica, Quercus subgenus Quercus e Q. faginea<br />
poderá indicar a presença de bosques de caducifólias, ou seja, carvalhais <strong>do</strong>mina<strong>do</strong>s pelas<br />
espécies mencionadas. Porém, não é possível afirmar que estes se encontravam bem<br />
conserva<strong>do</strong>s, sen<strong>do</strong> até um pouco descabi<strong>do</strong>, perante os da<strong>do</strong>s paleoecológicos existentes<br />
para o NW peninsular, pressupor a existência de carvalhais extensos nas imediações de um<br />
povoa<strong>do</strong> romano em pleno século IV d.C. É mais plausível que várias manchas de<br />
vegetação se tenham manti<strong>do</strong>, tal como hoje, nos locais não cultiva<strong>do</strong>s e nos limites de<br />
terrenos.<br />
Com um enquadramento semelhante, mas ocupan<strong>do</strong> posições diferentes, se<br />
encontrariam<br />
manchas de sobreirais e azinhais (possivelmente mistos), com medronheiros.<br />
Quercus suber é mesmo um <strong>do</strong>s tipos xilotómicos representa<strong>do</strong> em mais amostras.<br />
A distribuição da vegetação actual permite distinguir duas realidades com algumas<br />
diferenças importantes. No topo das elevações e metade superior das encostas encontramse<br />
Quercus pyrenaica, Q. faginea acompanha<strong>do</strong>s por Pinus pinaster (sub-espontâneo) e Q.<br />
suber, para além da presença minoritária de Q. ilex. Nas encostas mais baixas e nas<br />
posições edafo-xerófilas, <strong>do</strong>minam os sobreiros e azinheiras. Os medronheiros só são<br />
encontra<strong>do</strong>s nas encostas Sul e Su<strong>do</strong>este da própria elevação da Terronha de Pinhovelo.<br />
O facto de, segun<strong>do</strong> modelos actuais, neste local se delimitarem as Terras Frias e as<br />
Terras de Transição<br />
testemunha a convergência de duas realidades bioclimáticas distintas<br />
com disponibilidades de recursos diferentes. No entanto, face ao nível de antropização da<br />
paisagem na actualidade, que parece ter conduzi<strong>do</strong>, por exemplo à sub-representatividade<br />
de Q. pyrenaica, não é possível fazer uma analogia muito directa para tempos passa<strong>do</strong>s. Só<br />
é possível afirmar a presença de formações perenifólias e caducifólias na paisagem<br />
envolvente da Terronha de Pinhovelo no perío<strong>do</strong> romano.<br />
Nas amostras estudadas Pinus pinaster surge associa<strong>do</strong> a todas as espécies e<br />
somente está ausente de uma U.E. Trata-se de um da<strong>do</strong> que sugere a sua presença<br />
167
constante ao longo das fases III e IV da ocupação <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>. Ainda que seja hoje claro<br />
que esta espécie é efectivamente autóctone <strong>do</strong> território português, e era-o certamente em<br />
Terronha<br />
de Pinhovelo no perío<strong>do</strong> romano, não é possível perceber que preponderância<br />
teria na paisagem neste local e nesta época. As pequenas áreas de pinhal actualmente<br />
detectadas na zona são na sua totalidade plantações recentes. De resto, o pinheiro bravo<br />
surge amiúde de forma sub-espontânea na encosta e topo da serra de Pinhovelo, entre<br />
carvalhos-negral e carvalhos-cerquinho.<br />
As formações arbustivas que surgem representadas num maior número de amostras<br />
são os estevais (Cistus sp.) e os urzais (Erica spp.). As giestas (Cytisus/Genista/Ulex)<br />
encontram-se representadas em menor quantidade de amostras. Tal contrasta com a<br />
realidade actual. As urzes não parecem ter um papel muito significativo na caracterização da<br />
paisagem<br />
actual, enquanto que vastas áreas de giestais são encontradas na paisagem<br />
envolvente da Terronha de Pinhovelo. A esteva é abundante no território, frequentemente<br />
acompanhan<strong>do</strong> as giestas, e só raramente forman<strong>do</strong> verdadeiros estevais.<br />
O antagonismo Cistus/Erica poderá de certa forma espelhar a relação Terras de<br />
Transição/Terras Frias na realidade antracológica identificada, isto se tivermos em conta<br />
que mesmo Q. pyrenaica é tida como uma espécie comum às duas regiões.<br />
O pre<strong>do</strong>mínio das espécies cerealíferas, presentes mesmo em depósitos dispersos,<br />
indica-nos o nível de modelação da paisagem que se deveria verificar nesta época. Na<br />
verdade a presença de espécies ruderais, ou mesmo de plantas de contextos nitrofiliza<strong>do</strong>s e<br />
eutrofiza<strong>do</strong>s, assim<br />
como de infestantes de culturas, e as próprias culturas cerealíferas<br />
<strong>do</strong>cumentam<br />
um território Adjacente (horta) e Próximo (campo) profundamente molda<strong>do</strong>s e<br />
adequa<strong>do</strong>s à sua exploração e usufruto quotidiano pelas comunidades humanas.<br />
Em diálogos com os habitantes das aldeias circundantes da Terronha de Pinhovelo foi<br />
fácil perceber<br />
a importância que até há cerca de 40 anos a produção cerealífera, em<br />
especial<br />
<strong>do</strong> trigo, tinha para a economia das populações. De tal forma, que se cultivava<br />
cereal em quase to<strong>do</strong>s os terrenos, inclusive em algumas das encostas mais altas e topo de<br />
elevações, até na sombra <strong>do</strong>s sobreiros que não se cortavam por causa <strong>do</strong> aproveitamento<br />
da cortiça. Assim, um <strong>do</strong>s objectivos das inquirições<br />
à população, que era perceber quais os<br />
terrenos<br />
considera<strong>do</strong>s mais aptos para a plantação de cereal, não foi alcança<strong>do</strong>. Contu<strong>do</strong>,<br />
to<strong>do</strong>s os inquiri<strong>do</strong>s mencionaram que o trigo exigia as melhores terras (embora a<br />
necessidade fizesse com que fosse planta<strong>do</strong> em quase to<strong>do</strong>s os locais), por oposição ao<br />
centeio que poderia ser planta<strong>do</strong> em solos menos profun<strong>do</strong>s e mais pobres.<br />
168
Figura 5.1. – Campo de cereal no termo de Pinhovelo, a NW da Terronha de Pinhovelo<br />
Ainda assim, é evidente que o topo de algumas elevações permaneceu incólume.<br />
Segun<strong>do</strong> habitantes locais, nesses locais recolhia-se alguma lenha, embora também aí<br />
escasseasse. Práticas de recolha de lenha deste tipo poderão ter si<strong>do</strong> uma realidade em<br />
tempos<br />
mais antigos. Na verdade, como foi já aponta<strong>do</strong>, conjugam-se com alguns <strong>do</strong>s<br />
da<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s, nomeadamente a frequência de amostras com Pinus pinaster, Quercus<br />
pyrenaica e Quercus subgenus Quercus. A associação de carvalho-cerquinho, azinheira<br />
e<br />
sobreiro<br />
às espécies acima mencionadas verifica-se hoje em dia nessas mesmas elevações,<br />
nomeadamente a Oeste da Terronha de Pinhovelo na serra de Palas, mas também a Norte,<br />
nas Raposeiras.<br />
Por fim, embora não se pretenda fazer reconstituições paisagísticas com este estu<strong>do</strong>,<br />
deseja-se vincular uma imagética de base etnográfica, na qual sobressaem espaços<br />
construí<strong>do</strong>s e escava<strong>do</strong>s, ou seja molda<strong>do</strong>s; com muros e vedações que delimitam espaços<br />
e propriedades;<br />
com pontes, caminhos e trilhos; com estruturas de apoio aos trabalhos<br />
agrícolas ou ao pasto de animais.<br />
Não se trata de uma imagem que se possa, na maioria <strong>do</strong>s casos, pormenorizar e<br />
atestar, mas não significa por isso que não se possa colocar a hipótese da sua existência<br />
dadas as características tecnológicas e sociais das comunidades em questão.<br />
169
Figura 5.2. – Aldeia de Pinhovelo e campos de cereais aban<strong>do</strong>na<strong>do</strong>s, vistos da<br />
Terronha de Pinhovelo<br />
170
7. A Terronha de Pinhovelo nos estu<strong>do</strong>s regionais de paleobotânica<br />
Os macro-restos vegetais recupera<strong>do</strong>s no Sector B da Terronha de Pinhovelo<br />
testemunham a importância <strong>do</strong> cultivo de cereais para a economia das populações deste<br />
povoa<strong>do</strong> em época romana. Tal encontra paralelos com a realidade identificada nos<br />
contextos arqueológicos escava<strong>do</strong>s mais a Norte, em território galego.<br />
Entre<br />
as espécies de cereais, usualmente aponta-se a existência de um <strong>do</strong>mínio, em<br />
toda a região, de Triticum aestivum e T. compactum entre os cereais hexaploides e de<br />
Triticum dicoccum entre os tetraploides (Ramil-Rego et al., 1996; Rodriguez Lopez, et al.,<br />
1993). Na Terronha de Pinhovelo, as cariopses destes tipos morfológicos também são as<br />
mais frequentes nas amostras analisadas, porém, no caso de T. dicoccum, existem maiores<br />
cautelas na interpretação <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s biométricos e morfológicos que sustentam a sua<br />
distinção face a T. spelta. Este último encontra-se pouco <strong>do</strong>cumenta<strong>do</strong> na região, apesar de<br />
poder encontrar-se erroneamente sub-representa<strong>do</strong> face a T. dicoccum.<br />
Os milhos e a cevada são ti<strong>do</strong>s como cultivos secundários na região o que parece-se<br />
confirmar na Terronha de Pinhovelo. Não obstante, estan<strong>do</strong> os trabalhos de escavação<br />
ainda pouco desenvolvi<strong>do</strong>s, não se exclui a possibilidade de a especificidade <strong>do</strong>s contextos<br />
estuda<strong>do</strong>s poder condicionar esta leitura geral.<br />
O cultivo de favas também está <strong>do</strong>cumenta<strong>do</strong> para a região, sen<strong>do</strong> mesmo a<br />
leguminosa mais representativa (Ramil-Rego et al., 1996) pelo que a sua presença na<br />
Terronha de Pinhovelo, em especial na amostra IV65 <strong>do</strong> Ambiente I <strong>do</strong> Sector B, encontrase<br />
enquadrada cultural e cronologicamente.<br />
De igual mo<strong>do</strong> é conheci<strong>do</strong> o papel das bolotas na alimentação humana das<br />
comunidades proto-históricas NW peninsular, não como alimento primordial mas sim<br />
secundário e complementar<br />
de práticas agro-pastoris. Desta forma, a presença de bolotas<br />
na Terronha<br />
de Pinhovelo, bem como em outras jazidas romanas, deve ser considerada<br />
normal, após a desmistificação <strong>do</strong> eventual atraso tecnológico e cultural que anteriormente<br />
se atribuía ao seu uso para fins alimentares.<br />
No que respeita ao Nordeste<br />
transmontano, o único contexto arqueológico<br />
possivelmente<br />
romano com da<strong>do</strong>s arqueobotânicos publica<strong>do</strong>s é Casinhas de Nª Senhora.<br />
Neste encontrou-se uma semente de T. compactum e carvões de espécies, na sua maioria<br />
também presentes nas amostras da Terronha de Pinhovelo. As únicas excepções<br />
são Pinus<br />
sylvestris e Juniperus sp.<br />
Nos níveis da Idade <strong>do</strong> Ferro de Crasto de Palheiros, salientamos a identificação de<br />
significativas quantidades de Triticum dicoccum, Hordeum vulgare e Panicum miliaceum e<br />
uma ausência de grãos de variedades nuas de trigo. Tal traduz significativas diferenças face<br />
171
à realidade mais recente que foi estudada na Terronha de Pinhovelo. À semelhança <strong>do</strong> sítio<br />
aqui em estu<strong>do</strong>, surgem em Crasto de Palheiros abundantes sementes de Vicia faba var.<br />
minor .<br />
Ao<br />
nível antracológico as semelhanças face às espécies identificadas na Terronha de<br />
Pinhovelo continuam, embora também se encontrem algumas diferenças importantes na<br />
composição florística. Tratam-se, no entanto, de duas regiões bioclimáticas distintas, e de<br />
<strong>do</strong>is perío<strong>do</strong>s cronológicos também diferentes.<br />
172
8. Fronteiras interpretativas <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s paleoetnobotânicos<br />
Não interessa, neste capítulo, debater de forma aprofundada as possibilidades e<br />
limitações intrínsecas aos estu<strong>do</strong>s paleoetnobotânicos pois trata-se de uma tarefa levada a<br />
cabo nos capítulos introdutórios. De seguida expõem-se reflexões decorrentes unicamente<br />
<strong>do</strong> processo inerente ao estu<strong>do</strong> aqui apresenta<strong>do</strong>.<br />
A principal valência de um estu<strong>do</strong> desta natureza prende-se com a possibilidade de<br />
fazer aproximações às actividades económicas, principalmente agrícolas, <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>.<br />
Conhecen<strong>do</strong> as espécies cultivadas e os meios explora<strong>do</strong>s é possível aceder a um conjunto<br />
de gestos inerentes às actividades de exploração das mesmas. Obtém-se, assim, um<br />
vislumbre <strong>do</strong>s ritmos anuais e até quotidianos das comunidades que habitaram a povoação,<br />
o que permite alcançar uma maior humanização <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s arqueológicos.<br />
Dentro <strong>do</strong> quotidiano insere-se a alimentação. A componente carpológica <strong>do</strong> estu<strong>do</strong><br />
paleoetnobotânico aqui apresenta<strong>do</strong> é uma valiosa fonte de informação para a<br />
reconstituição<br />
de determina<strong>do</strong>s aspectos das paleo-dietas.<br />
De igual mo<strong>do</strong>, se torna mais acessível a compreensão da organização espacial <strong>do</strong>s<br />
espaços de vivência das paleo-comunidades transforma<strong>do</strong>s numa jazida arqueológica, pois<br />
é possível através destes estu<strong>do</strong>s colocar hipóteses acerca <strong>do</strong> funcionamento de<br />
determinadas<br />
estruturas e até áreas <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>.<br />
É claro, então, que as aproximações a estas realidades paleo-económicas, alimentares<br />
e organizativas devem constituir-se como estu<strong>do</strong>s marcadamente interdisciplinares. Ainda<br />
assim, estes esbarram com importantes problemas, inerentes a qualquer estu<strong>do</strong><br />
comparativo<br />
com da<strong>do</strong>s de natureza etnográfica:<br />
- Os da<strong>do</strong>s etnográficos frequentemente reportam-se a realidades ecológicas,<br />
ambientais e culturais diferentes daquela que constitui a nosso objecto de<br />
análise, pelo que devem ser questiona<strong>do</strong>s e analisa<strong>do</strong>s com as devidas cautelas.<br />
- Frequentemente os da<strong>do</strong>s arqueológicos e arquebotânicos podem ser<br />
explica<strong>do</strong>s de forma viável por mais<br />
<strong>do</strong> que um exemplo etnográfico, como é o<br />
exemplo da carbonização das espiguetas de trigos vesti<strong>do</strong>s.<br />
Deste mo<strong>do</strong>, assumimos que o princípio básico para qualquer interpretação<br />
arqueológica com base em da<strong>do</strong>s etnográficos é o de que o produto final é a colocação de<br />
hipóteses. Estas devem ser explicadas e bem sustentadas.<br />
Do ponto de vista das<br />
análises paleoecológicas é claro que a principal valência <strong>do</strong><br />
estu<strong>do</strong><br />
aqui apresenta<strong>do</strong> é assinalar a presença de determinadas espécies num espaço<br />
parcamente delimita<strong>do</strong>: a envolvência <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong> romano. A interpretação <strong>do</strong>s da<strong>do</strong>s<br />
arqueobotânicos esbarra com uma limitação importante que é a natureza <strong>do</strong> seu objecto de<br />
173
estu<strong>do</strong>. De facto, os macro-restos vegetais encontra<strong>do</strong>s na Terronha de Pinhovelo são o<br />
produto de uma selecção feita no território que as paleo-comunidades tinham disponível.<br />
Contu<strong>do</strong>, sem uma imagem regional da paleo-vegetação, nunca iremos compreender o<br />
significa<strong>do</strong><br />
da selecção verificada.<br />
Assume-se que a componente selecção é a principal condicionante <strong>do</strong> espectro<br />
antracológico, ainda que a oferta existente no meio condiciona-se fortemente essa selecção.<br />
É fácil imaginar que para determinadas actividades seria dada mais importância à selecção<br />
de lenha, nomeadamente aquelas actividades para as quais as propriedades <strong>do</strong> combustível<br />
seriam mais relevantes de forma de garantir o seu sucesso e aquelas actividades às quais a<br />
comunidade atribuía maior relevância. Por exemplo, é natural pressupor que seria empregue<br />
mais cuida<strong>do</strong> na escolha de combustível para a cozedura de pão <strong>do</strong> que para lareiras<br />
<strong>do</strong>mésticas, ainda que o aquecimento durante o Inverno fosse crucial.<br />
No quadro <strong>do</strong> Anexo IX.9.4 é evidente que no Parque de Montesinho só algumas<br />
espécies foram claramente associadas com os fornos e forjas, pelo que, ainda que muitas<br />
mais fossem utilizadas, aquelas são as que a população considera adequadas e as<br />
preferidas, ou seja são as seleccionadas. Assim, a selecção mais <strong>do</strong> que uma preocupação<br />
premente das sociedades rurais é um comportamento inerente às mesmas.<br />
Embora os estu<strong>do</strong>s arqueobotânicos de ín<strong>do</strong>le paleoecológica se centrem<br />
principalmente em análises de madeiras fosseis, é evidente que não se deve escamotear o<br />
potencial <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s carpológicos para a compreensão das paisagens antigas. Sen<strong>do</strong> claro<br />
que em época romana, em especial num povoa<strong>do</strong> com uma pré-existência proto-histórica,<br />
os territórios Adjacente e Próximo se encontravam fortemente antropiza<strong>do</strong>s, conhecer as<br />
espécies que aí eram cultivadas é uma mais valia para a sua reconstituição imagética. Esta<br />
tarefa, embora possa ter subjacente uma base etnográfica ou iconográfica, só pode ser<br />
realizada com plena consciência da integração cronológica e capacidade tecnológica e<br />
organizativa da sociedade em estu<strong>do</strong>.<br />
Num âmbito arqueológico e pale-económico, uma das principais valência <strong>do</strong>s estu<strong>do</strong>s<br />
paleoetnobotânicos é potenciar estu<strong>do</strong>s regionais e inter-regionais, permitin<strong>do</strong> compreender<br />
melhor a integração <strong>do</strong> contexto em estu<strong>do</strong> na região em que se encontra, e compreender a<br />
integração desta num plano geográfico mais vasto, por exemplo a Península Ibérica ou o<br />
Império Romano. Desta forma, são mais claros as grandes tendências de mudança, os<br />
processos de aculturação e integração económica das sociedades e regiões. Infelizmente,<br />
na Terronha de Pinhovelo, há ainda poucos contextos analisa<strong>do</strong>s pelo que é necessário<br />
assumir as limitações deste estu<strong>do</strong> e apresentar sempre as devidas cautelas.<br />
174
VI. CONCLUSÃO<br />
A Terronha de Pinhovelo foi habitada durante a Idade <strong>do</strong> Ferro e, aparentemente, to<strong>do</strong><br />
o perío<strong>do</strong> romano, até ao século V. Durante os trabalhos arqueológicos aí realiza<strong>do</strong>s foram<br />
recolhi<strong>do</strong>s macro-restos vegetais (carvões, frutos e sementes) para análise<br />
paleoetnobotânica. Esta incidiu unicamente sobre o Sector B, o mais extensamente<br />
escava<strong>do</strong><br />
e, ao mesmo tempo, alvo de um maior esforço de amostragem arqueobotânica.<br />
As amostras analisadas pertencem a Unidades Estratigráficas integradas nas fases III e IV,<br />
cronologicamente enquadradas nos séculos IV-V d.C.<br />
Foram defini<strong>do</strong>s vários objectivos visan<strong>do</strong> em especial a compreensão das estratégias<br />
territoriais e económicas, assim como das vivências <strong>do</strong> quotidiano das populações que<br />
habitaram esta povoação, tanto <strong>do</strong> ponto de vista <strong>do</strong>s trabalhos agrícolas,<br />
como da<br />
alimentação<br />
e ainda da gestão e vivência <strong>do</strong> espaço e <strong>do</strong> território regional. Alcançar estes<br />
objectivos passava, essencialmente, por compreender melhor determina<strong>do</strong>s contextos<br />
escava<strong>do</strong>s, colocan<strong>do</strong> hipóteses explicativas da sua funcionalidade<br />
a partir das suas<br />
características<br />
e <strong>do</strong> seu conteú<strong>do</strong> em macro-fosseis vegetais.<br />
Foi possível perceber que os trigos Triticum aestivum/durum, T. compactum e T.<br />
spelta, assim como a cevada (Hordeum vulgare), foram os cereais mais consumi<strong>do</strong>s,<br />
segui<strong>do</strong>s de T. dicoccum e, em quantidade reduzida,<br />
T. monococcum, Panicum miliaceum e<br />
Setaria<br />
italica. Entre as espécies cultivadas salienta-se ainda a fava (Vicia faba var. minor),<br />
a única leguminosa da qual se detectaram sementes. Estas evidências poderão indicar<br />
práticas de alternância de cultivos entre cereais e leguminosas.<br />
A partir da análise antracológica podemos inferir a exploração de diferentes áreas<br />
ecológicas na<br />
estratégia de recolha de combustível por parte da população romana de<br />
Terronha de Pinhovelo. São explora<strong>do</strong>s os azinhais, os sobreirais e outros bosques e<br />
matagais de<br />
perenifólias (representa<strong>do</strong>s principalmente por Quercus ilex, Q. suber e Arbutus<br />
une<strong>do</strong>), as matas<br />
de caducifólias (com Q. pyrenaica e Q. faginea), os pinhais (com Pinus<br />
pinaster representa<strong>do</strong><br />
em quase todas as amostras, com uma única excepção); e os<br />
bosques higrófilos ribeirinhos (representa<strong>do</strong>s principalmente por Fraxinus<br />
angustifolia, e por<br />
ocorrências<br />
pontuais de Alnus glutinosa, Corylus avellana e Ulmus minor). Com menor<br />
frequência<br />
está também <strong>do</strong>cumentada a utilização de lenha proveniente de formações<br />
arbustivas, de maior grau de eco-artefactualidade, possivelmente corresponden<strong>do</strong> a lenha<br />
recolhida em áreas mais próximas <strong>do</strong> povoa<strong>do</strong>, eventualmente<br />
nos percursos realiza<strong>do</strong>s<br />
pelos habitantes para outras actividades, nomeadamente para o cultivo, a pastorícia ou o<br />
maneio <strong>do</strong>s campos. Assim, os urzais e giestais estão representa<strong>do</strong>s por madeira de várias<br />
espécies de Erica e lenho de Cytisus/Genista/Ulex, enquanto que os matos rasteiros e<br />
charnecas reflectem-se na presença de madeira de Cistus.<br />
175
Tornou-se claro que o potencial paleoecológico das análises antracológicas reside<br />
essencialmente na indicação da presença de determinadas espécies na envolvência <strong>do</strong><br />
povoa<strong>do</strong> romano sem indicações da sua importância relativa na caracterização da paisagem<br />
regional.<br />
No que respeita à interpretação das estruturas arqueológicas, em especial as áreas de<br />
combustão <strong>do</strong> Ambiente I, avançaram-se com algumas possibilidades interpretativas que<br />
apontam para a sua utilização nas fases de processamento de alimentos, prévias à sua<br />
confecção, ou o seu uso como locais de despejo de detritos decorrentes dessas tarefas.<br />
Não se exclui a possibilidade de as mesmas estruturas terem si<strong>do</strong> utilizadas para outros<br />
fins, limitan<strong>do</strong>-nos a interpretar os vestígios <strong>do</strong> que aparenta ser a sua última utilização.<br />
Ainda assim, existem diferenças significativas entre a composição das duas estruturas pois<br />
somente numa delas, [65], foram detectadas favas, ao mesmo tempo que apresentava<br />
quantidades<br />
mais significativas de cevada <strong>do</strong> que o depósito da outra, [66].<br />
Já a estrutura de combustão <strong>do</strong> Ambiente II, representada pelo depósito [71], forneceu<br />
quantidades mais reduzidas de macro-restos vegetais. Neste Ambiente II detectaram-se<br />
também restos de bolotas, testemunhan<strong>do</strong> o seu uso para alimentação humana. Este<br />
compartimento apresenta importantes diferenças estruturais face ao Ambiente<br />
I conten<strong>do</strong><br />
uma única área de combustão estruturada cuja construção data da fase III de ocupação da<br />
jazida. O Ambiente I data da fase seguinte, ten<strong>do</strong> a sua construção inutiliza<strong>do</strong> parte da<br />
estrutura de combustão <strong>do</strong> Ambiente II. Porém, não é claro qual a fase em que se integra a<br />
U.E. [71] pois é possível que a estrutura de combustão que cobria tenha si<strong>do</strong> utilizada na<br />
fase IV.<br />
O estu<strong>do</strong> efectua<strong>do</strong> a partir das escavações da Terronha de Pinhovelo demonstrou<br />
existir um eleva<strong>do</strong> potencial paleoetnobotânico nos estu<strong>do</strong>s de macro-restos vegetais, em<br />
especial quan<strong>do</strong> estes são marcadamente<br />
multidisciplinares, sen<strong>do</strong> evidente a sua utilidade<br />
para a compreensão das próprias jazidas arqueológicas e das paleo-comunidades que nelas<br />
habitaram.<br />
176
VII. BIBLIOGRAFIA<br />
AGROCONSULTORES<br />
E COBA (1991). Carta <strong>do</strong>s solos, carta <strong>do</strong> uso actual da terra e<br />
carta da aptidão da terra <strong>do</strong> nordeste de Portugal. Memórias. <strong>Universidade</strong> de Trás-os-<br />
Montes e Alto Douro.<br />
AGUIAR, C. (2001). Flora e vegetação da Serra da Nogueira e <strong>do</strong> Parque Natural de<br />
Montesinho. Lisboa: <strong>Universidade</strong> Técnica de Lisboa. ISA.<br />
AKERET,<br />
Ö. (2005). Plant remains from a Bell Beaker site in Switzerland, and the<br />
beginnings of Triticum spelta (spelt) cultivation in Europe. Vegetation History and<br />
Archaeobotany. 14, p. 279-286.<br />
ALARCÃO, J. (1988). O <strong>do</strong>mínio romano em Portugal. 3ª edição. Publicações Europa-<br />
América.<br />
ALARCÃO,<br />
J. (2003). A organização social <strong>do</strong>s povos <strong>do</strong> Noroeste e Norte da Península<br />
Ibérica nas épocas pré-romana e romana. Conimbriga. 42, p.5-115.<br />
ALLUÉ Martí, E. (2002) - Dinámica de la vegetación y explotación del combustible leñoso<br />
durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno del Noreste de la Península Ibérica a partir del<br />
análisis antracológico. <strong>Tese</strong> de <strong>do</strong>utoramento apresentada à Universitat<br />
Rovira i Virgili.<br />
ALVES, F. (1934). Memórias archaeológico-históricas <strong>do</strong> Districto de Bragança. <strong>Porto</strong>: Typ.<br />
Empreza Guedes.<br />
BADAL, E.; CARRIÓN, Y.; RIVERA, D.; UZQUIANO, P. (2003). La Arqueobotânica en<br />
cuevas y abrigos: objectivos y méto<strong>do</strong>s de muestreo. In Buxó, R. e Piqué, R., dir., La<br />
recogida de muestras en arqueobotánica: objectivos y propuestas meto<strong>do</strong>lógicas. La gestión<br />
de los recursos vegetales y la transformación del paleopaisaje en el Mediterráneo<br />
occidental. Barcelona: Museo d’Arqueologia de Catalunya, p.19-29.<br />
BARRANHÃO, H.; TERESO, J. (2006). (2006) - A Terronha de Pinhovelo na ciuitas<br />
zoelarum: primeira síntese. Cadernos “Terras Quentes” 3. Associação Terras<br />
Quentes/Câmara Municipal de Mace<strong>do</strong> de Cavaleiros, p. 7-26.<br />
177
BERGGREN,<br />
G. (1981). Atlas of seeds and small fruits of Northwest-European plant species<br />
with morphological descriptions. Vol. 3. Salicaceae-Cruciferae. Swedish Museum of Natural<br />
History.<br />
BUXÓ,<br />
R. (1990). Meto<strong>do</strong>logía y técnicas para la recuperación de restos vegetales (en<br />
especial referencia a semillas y frutos) en yacimientos arqueológicos. (Cahier Noir, 5),<br />
Ajuntamento de Girona.<br />
BUXÓ, R. (1997). Arqueologia de las plantas. Barcelona: Crítica.<br />
BUXÓ, R. (2005). L’agricultura d’època romana: estudis arqueobotànics i evolució dels<br />
cultius a Catalunya. Cota Zero, 20, 108-120.<br />
CARVALHO,<br />
A. (1954-55). Madeiras de folhosas. Contribuição para o seu estu<strong>do</strong> e<br />
identificação. Separata de Boletim da Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais, Vol. 5, 2ª<br />
série (Vol. XX), Fasc. II. Lisboa.<br />
CARVALHO, A. (2005). Etnobotánica del Parque Natural de Montesinho. Plantas, tradición y<br />
saber popular en un territorio del Nordeste de Portugal. Tesis <strong>do</strong>ctoral. Madrid: Universidad<br />
Autónoma de Madrid.<br />
CARVALHO,<br />
A.; LOUSADA, J.; RODRIGUES, A. (2001). Etnobotânica da Moimenta da<br />
Raia. A importância das Plantas numa Aldeia Transmontana. 1º Congresso de Estu<strong>do</strong>s<br />
Rurais.<br />
Ambiente e usos <strong>do</strong> território. <strong>Universidade</strong> de Trás-os-Montes e Alto Douro.<br />
http://home.utad.pt/~des/cer/CER/DOWNLOAD/2014.PDF<br />
CARVALHO, P. (2006). Cova da Beira. Ocupação e exploração <strong>do</strong> território na época<br />
romana. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da <strong>Universidade</strong><br />
de<br />
Coimbra.<br />
CARVALHO, P.; FRANCISCO, J.; GOMES, F.; BOTELHO, I. (1997). Assentamento romano<br />
fortifica<strong>do</strong> da Terronha (Mace<strong>do</strong> de Cavaleiros). Em Busca <strong>do</strong> Passa<strong>do</strong> 1994/1997. Lisboa:<br />
Junta Autónoma de Estradas.<br />
CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; BENEDÍ, C.; LAÍNZ, M.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO<br />
FELINER, G.; PAIVA, J., eds. (1997). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península<br />
178
Ibérica e Islas Baleares. Vol. 8, Haloragaceae-Euphorbiaceae. Madrid: Real Jardín Botánico,<br />
C.S.I.C.<br />
CASTROVIEJO, S.; AEDO, C.; CIRUJANO, S.; LAÍNZ, M.; MONTSERRAT, P.; MORALES,<br />
R.; MUÑOZ GARMENDIA,<br />
F.; NAVARRO, C.; PAIVA J.; SORIANO C., eds. (1993). Flora<br />
iberica.<br />
Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. 3, Plumbaginaceae<br />
(partim)-Capparaceae. Madrid: Real Jardín Botánico, C.S.I.C.<br />
CASTROVIEJO,<br />
S.; AEDO, C.; GÓMEZ CAMPO, C.; LAÍNZ, M.; MONTSERRAT, P.;<br />
MORALES, R.; MUÑOZ GARMENDIA, F.; NIETO FELINER, G.; RICO. E.; TALAVERA, S.;<br />
VILLAR, L.; eds. (1993). Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas<br />
Baleares. Vol. 4, Cruciferae-Monotropaceae.<br />
Madrid: Real Jardín Botánico, C.S.I.C.<br />
CASTROVIEJO, S.; LAÍNZ, M.; LÓPEZ GONZÁLEZ, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ<br />
GARMENDIA,<br />
F.; PAIVA, J.; VILLAR, L.,eds. (1986). Flora iberica. Plantas vasculares de la<br />
Península<br />
Ibérica e Islas Baleares. Vol. 1 (Lycopodiaceae-Papaveraceae). Madrid, Real<br />
Jardín Botánico, C.S.I.C.<br />
CASTROVIEJO,<br />
S.; LAÍNZ, M.; LÓPEZ GONZÁLEZ, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ<br />
GARMENDIA, F.; PAIVA, J.; VILLAR, L., eds.(1990). Flora Iberica. Plantas vasculares de la<br />
Península Ibérica e Islas Baleares. Vol 2, Platanaceae-Plumbaginaceae (partim). Madrid:<br />
Real Jardín Botánico, C.S.I.C.<br />
CHABAL, L.; FABRE, L.; TERRAL, J.-F.; THÉRY-PARISOT, I., (1999). L’anthracologie. In<br />
Bourquin-Mignot C.,<br />
Brochier J.-E., Chabal L., Crozat S., Fabre L., Guibal F., Marinval P.,<br />
Richard<br />
H., Terral J.-F., Théry-Parisot I., La botanique. Paris: Editions Errance, p. 43-104.<br />
COMMITTEE ON NOMENCLATURE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOOD<br />
ANATOMISTS (1964). Multilingual glossary of terms used in wood anatomy. Verlagsanstalt<br />
Buchdruckerei Konkordia Winterthur.<br />
CORCUERA,<br />
L.; CAMARERO, J.; GIL-PELEGRÍN, E. (2004). Effects of severe drought on<br />
Quercus ilex radial growth and xylem anatomy. Trees. 18, p. 83-92.<br />
CORCUERA, L.; CAMARERO, J.; SISÓ, S.; GIL-PELEGRÍN, E. (2006). Radial-growth and<br />
Word-anatomical<br />
changes in overaged Quercus pyrenaica coppice stands: functional<br />
responses in a new Mediterranean landscape. Tress. 20, p. 91-98.<br />
179
CORREIA, H. (2005). Cicouro. In Frazão-Moreira, A e Fernandes, M, org, Plantas e<br />
Saberes. No limiar da Etnobotânica em Portugal. Lisboa: Edições Colibri/IELT, p. 79-81.<br />
COSTA, M.; MONTE, T. (2005). Aldeia Nova. In Frazão-Moreira, A e Fernandes, M, org,<br />
Plantas e Saberes. No limiar da Etnobotânica em Portugal. Lisboa: Edições Colibri/IELT, p.<br />
73-77.<br />
COUTINHO, A. (1939). Flora de Portugal (Plantas vasculares). 2ª edição, Lisboa.<br />
DAVIDSON, I.; BAILEY, G. (1984). Los yacimientos, sus territórios de explotacion y la<br />
topografia. Boletín del Museo Arqueológico Nacional,<br />
2. Madrid, p. 25-46.<br />
DESPRAT, S.; SANCHEZ GOÑI, M.; LOUTRE, M. (2003). Revealing climatic variability of<br />
the last three millennia in northwestern Iberia using pollen influx data. Earth and Planetary<br />
Science Letters. 213, p.63-78.<br />
DIAS, J. (1953). Rio de Onor. Comunitarismo agro-pastoril. <strong>Porto</strong>: Instituto de Alta Cultura.<br />
EDLIN,H. (1994[1969]). What wood is that? A Manual of Wood Identification. Stobart Davies<br />
Ltd.<br />
ESPINO, D. (2004) - La gestión del paisaje vegetal en la Prehistoria Reciente y Protohistoria<br />
en la Cuenca Media del Guadiana a partir de la Antracología. <strong>Tese</strong> de <strong>do</strong>utoramento<br />
apresenta<strong>do</strong> à Universidad de Extremadura.<br />
FABIÃO, C. (1992). A II Idade <strong>do</strong> Ferro. In Mattoso, J., dir., História de Portugal. 1. Circulo<br />
de Leitores, p.167-201.<br />
FERNANDES,<br />
J.; MARQUES, S.; SANTOS, C. (2001). Plantas aromáticas e medicinais -<br />
utilizações locais no Parque Natural <strong>do</strong> Douro Internacional (PNDI). 1º Congresso de<br />
Estu<strong>do</strong>s Rurais. Ambiente e usos <strong>do</strong> território. <strong>Universidade</strong> de Trás-os-Montes e Alto<br />
Douro.<br />
http://home.utad.pt/~des/cer/CER/DOWNLOAD/2015.PDF<br />
FERNÁNDEZ MARTINEZ, V.; RUIZ ZAPATERO, G. (1984). El análisis de territórios<br />
arqueológicos: una introducción crítica. Arqueología Espacial. 1. Teruel, p. 55-71.<br />
180
FERNÁNDEZ-POSSE, M.; SÁNCHEZ-PALENCIA, F. (1998). Las comunidades campesinas<br />
en<br />
la cultura castreña. Trabajos de Prehistoria. 55 (2), p.127-150.<br />
FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, C. (2003). Ganadería, caza y animals de compañía en la<br />
Galicia romana: estudio arqueozoológico. Brigantium. 15. Museo Arqueológico e Histórico.<br />
Castelo de San Antón. A Coruña.<br />
FERREIRINHA, M. (1958). Glossário Internacional <strong>do</strong>s termos usa<strong>do</strong>s em anatomia de<br />
madeiras. (Estu<strong>do</strong>s, Ensaios e Documentos, 46). Lisboa: Ministério <strong>do</strong> Ultramar.<br />
FERRIOA, J.; Alonsob, N.; Voltasa, J.; Araus, J. (2004) - Estimating grain weight<br />
in<br />
archaeological<br />
cereal crops: a quantitative approach for comparison with current conditions.<br />
Journal of Archaeological Science. 31, p.1635-1642.<br />
FIGUEIRAL, I. (1994). A Antracologia em Portugal: progressos e perspectivas. Trabalhos de<br />
Antropologia e Etnologia. 34 (3-4) (Actas <strong>do</strong> 1º Congresso de Arqueologia Peninsular. 4),<br />
<strong>Porto</strong>,<br />
p.427-448.<br />
FIGUEIRAL, I.; MOSBRUGGER, V. (2000). A review of charcoal analysis as a tool for<br />
assessing Quaternary and Tertiary environments: achievements and limits.<br />
Palaeogeography, Palaeoclimatology,<br />
Palaeoecology. 164, p.397-407.<br />
FIGUEIRAL,<br />
I.; SANCHES, M.J. (1998-1999). A contribuição da antracologia no estu<strong>do</strong> <strong>do</strong>s<br />
recursos florestais de Trás-os-Montes e Alto Douro durante a Pré-história recente.<br />
Portugália, Nova Série, 19-20, p. 71-101.<br />
FIGUEIRAL,<br />
I.; SANCHES, M. J. (2003). Eastern Trás-os-Montes (NE Portugal) from the late<br />
Prehistory to the Iron age: the land and the people. In Fouache, E., ed., The Mediterranean<br />
World Environment and History. Elsevier, p. 315-329.<br />
FONT<br />
QUER, P. (1985). Diccionario de Botánica. Editorial Labor, S.A..<br />
FRANCO, J. (1984). Nova flora de Portugal (Continente e Açores).<br />
2. Clethraceae-<br />
Compositae.<br />
Lisboa.<br />
FRAZÃO-MOREIRA, A; FERNANDES, M, org, (2005). Plantas e Saberes. No limiar da<br />
Etnobotânica em Portugal. Lisboa: Edições Colibri/IELT.<br />
181
GARCÍA Y BELLIDO, A. (1993). España y los españoles hace <strong>do</strong>s mil años según la<br />
Geografía de Strábon. 10ª edição. Colección Austral.<br />
GASSON, P. (1987). Some implications of anatomical variations in the wood of Pedunculate<br />
Oak (Quercus robur L.), including comparisons with common Beech (Fagus sylvatica L.).<br />
IAWA Bulletin, 8 (2), p. 149-166.<br />
GUERRA, A. (1995). Plínio-o-Velho e a Lusitânia. Lisboa: Faculdade de<br />
<strong>Universidade</strong><br />
de Lisboa/Edições Colibri.<br />
Letras da<br />
HARRIS, E. (1991). Príncipios de estratigrafia arqueológica. Barcelona: Editorial<br />
Crítica.<br />
HARRIS, J.; HARRIS, M. (2004). Plant identification terminology. An Illustrated Glossary. 2 nd<br />
edition, Utah: Spring Lake Publishing.<br />
HURTADO<br />
AGUÑA, J. (2001). La economía del Área carpetana en la época republicana y<br />
alto imperial. Iberia: Revista de la Antigüedad, 4, p.71-86.<br />
JACOMET, S. and collaborators (2006). Identification of cereal remains from archaeological<br />
nd<br />
sites. 2 edition.<br />
http://pages.unibas.ch/arch/archbot/pdf/index.html<br />
JUSCAFRESA, B. (1995). Guia de la Flora Medicinal, Toxica, Aromatica y Condimenticia.<br />
Editorial Ae<strong>do</strong>s.<br />
JÚNIOR, J. (1977). A cultura <strong>do</strong>s cereais no leste transmontano. Trabalhos de Antropologia<br />
e Etnologia. 23 (1). <strong>Porto</strong>, p.41-159.<br />
KROLL, H. (1992). Einkorn from Feudvar, Vojvodina, II. What is the difference between<br />
emmer-like two-seeded einkorn and emmer? Review of Palaeobotany and Palynology. 73,<br />
p.181-185.<br />
LEAL, S.; SOUSA, V.; PEREIRA, H. (2007). Radial variation<br />
of vessel size and distribution in<br />
cork<br />
oak wood (Quercus suber L.). Wood Science and Technology. 41 (4), p.339-350.<br />
182
LEMOS, F. (1993). O povoamento romano em Trás-os-montes Oriental. <strong>Tese</strong> de<br />
Doutoramento em Pré-História e História da Antiguidade. Braga: <strong>Universidade</strong> <strong>do</strong> Minho.<br />
MARINVAL,<br />
P. (1992). Archaeobotanical data on millets (Panicum miliaceum and Setaria<br />
italica) in France. Review of Palaeobotany and Palynology. 73, p. 259-270.<br />
MARINVAL, P. (1999) – Les graines<br />
et les fruits: la carpologie. In : Bourquin-Mignot C.,<br />
Brochier<br />
J.-E., Chabal L., Crozat S., Fabre L., Guibal F., Marinval P., Richard H., Terral J.-F.,<br />
Théry-Parisot I. La botanique. Paris: Editions Errance, p. 105-137.<br />
MARTÍNEZ,<br />
N.; JUAN-TRESSERRAS, J.; RODRÍGUEZ-ARIZA, M.; BUENDÍA, N. (2003).<br />
Muestreo arqueobotánico de yacimientos al aire libre y en medio seco. In Buxó, R. e Piqué,<br />
R., dir., La recogida de muestras en arqueobotánica: objectivos y propuestas meto<strong>do</strong>lógicas.<br />
La gestión de los recursos vegetales y la transformación<br />
del paleopaisaje en el Mediterráneo<br />
occidental.<br />
Barcelona: Museo d’Arqueologia de Catalunya, p. 31-48.<br />
MATEUS, J. (1990) – A teoria da zonação <strong>do</strong> ecossistema territorial. In Gamito, T., ed.,<br />
Arqueologia Hoje I.<br />
Etno-Arqueologia. Faro: <strong>Universidade</strong> <strong>do</strong> Algarve, p.196-219.<br />
MATEUS, J. (1996) – Arqueologia da Paisagem e Paleoecologia. Al-madan. IIª Série, 5, p.<br />
96-108.<br />
MATEUS, J. (2004). Território Antigo. Património. Estu<strong>do</strong>s. 7. Lisboa: Instituto Português <strong>do</strong><br />
Património Arquitectónico, p.36-44.<br />
MATEUS,<br />
J.; QUEIROZ, P. (1993). Os estu<strong>do</strong>s de vegetação quaternária em Portugal;<br />
contexto, balanço de resulta<strong>do</strong>s, perspectivas. O Quaternário em Portugal. Balanço e<br />
perspectivas. Lisboa: Edições Colibri, p. 105-131.<br />
MATEUS,<br />
J.; QUEIROZ, P.; VAN LEEUWAARDEN, W. (2003). O Laboratório de<br />
Paleoecologia e Arqueobotânica – uma visita guiada aos seus programas,<br />
linhas de trabalho<br />
e perspectivas. In MATEUS, J.; MORENO-GARCÍA, M., eds., Paleoecologia Humana e<br />
Arqueociências. Um programa multidisciplinar para a arqueologia sob a tutela da Cultura<br />
(Trabalhos de Arqueologia.<br />
29). Lisboa: IPA, p.106-188.<br />
MENDES, C. (Coord.) (2005). Carta Arqueolológica <strong>do</strong> Concelho de Mace<strong>do</strong> de Cavaleiros.<br />
Campanha 1/2004.Cadernos “Terras Quentes”. 2. Edições<br />
ATQ/CMMC, p. 5-49.<br />
183
MUÑOS SOBRINO, C.; RAMIL-REGO, P.; GOMEZ-ORELLANA, L. (2004). Vegetation of the<br />
Lago de Sanabria area (NW Iberia) since the end of<br />
the Pleistocene: a palaeoecological<br />
reconstruction<br />
on the basis of two new pollen sequences. Vegetation History and<br />
Archaeobotany. 13, p. 1-22.<br />
MUÑOZ SOBRINO, C.; RAMIL-REGO,<br />
P.; GÓMEZ-ORELLANA, L.; DÍAZ VARELA, A.<br />
(2005).<br />
Palynological data on major Holocene climatic events in NW Iberia. Boreas. 34,<br />
p.381-400.<br />
MUÑOZ<br />
SOBRINO, C.; RAMIL-REGO, P.; RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.(1997). Upland<br />
vegetation in the north-west Iberian peninsula after the last glaciation: forest history and<br />
deforestation<br />
dynamics. Vegetation History and Archaeobotany. 6, p.215-233.<br />
MUÑOS SOBRINO, C.; RAMIL-REGO,<br />
P.; RODRÍGUEZ GUITIÁN, M. (2001). Vegetation in<br />
the<br />
mountains of northwest Iberia during the last glacial-interglacial transition. Vegetation<br />
History and Archaeobotany, 10, p. 7-21.<br />
MURPHY,<br />
P. (1989). Carbonised neolithic plant remains from the Stumble, an intertidal site<br />
in the Blackwater Estuary, Essex, England. Circaea. 6 (1), p.21-38.<br />
NESBITT, M.; SAMUEL, D. (1995). From staple<br />
crop to extinction? The archaeology and<br />
history<br />
of the hulled wheats. In Padulosi, S; Hammer, K. e Heller, J., eds. Hulled Wheat.<br />
Proceedings of the First International Workshop on the Hulled Wheats.<br />
http://www.getcited.org/pub/103378711<br />
NIETO FELINER, G.; HERRERO, A.; JURY, S., eds. (2003). Flora iberica. Plantas<br />
vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. 10, Araliaceae-Umbelliferae.<br />
Madrid:<br />
Real Jardín Botánico, C.S.I.C.<br />
OLIVEIRA, F.; QUEIROGA, F.; DINIS, A. (1991). O pão de bolota na cultura castreja. In<br />
Queiroga, F e Dinis A., eds, Paleoecologia e Arqueologia. 2. Vila Nova de Famalicão, p. 251-<br />
268.<br />
OLIVEIRA, E.; GALHANO, F.; PEREIRA, B. (1976). Alfaia Agrícola Portuguesa. Lisboa:<br />
Instituto<br />
de Alta Cultura.<br />
184
PREVOSTI I MONCLÚS, M.; GUITART I DURAN, J. (2005). Els estudis del món agrari romà<br />
a Catalunya: un estat de la quesito. Cota Zero. 20, p.41-52.<br />
PEREIRA, B. (1996). Alfaias agrícolas. In O voo <strong>do</strong> Ara<strong>do</strong>. Lisboa: Museu Nacional de<br />
Etnologia, p. 161-199.<br />
PEÑA-CHOCARRO, L. (1999). Prehistoric Agriculture in Southern Spain during the Neolithic<br />
and the Bronze Age. The application of ethnographic models. (BAR International Series<br />
818).<br />
PIQUÉ i Huerta, R. (1999). Producción y uso del combustible vegetal: una evaluación<br />
arqueologica. (Treballs d’Etnoarqueologia. 3).<br />
PIQUÉ i Huerta, R. (2006). Los carbones y las maderas de contextos arqueológicos y el<br />
paleoambiente. Ecosistemas. 2006/1.<br />
http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=407&Id_Categoria=2&tipo=portada<br />
QUADRADO, R.; MATOS ALVES, C.; MACEDO, J.; CRAMEZ, C.; RIBEIRO, A. (1964).<br />
Notas<br />
prévias sobre a Geologia de Trás-os-Montes Oriental. 5 – Sobre a Geologia da região<br />
de Mace<strong>do</strong> de Cavaleiros. Boletim da Sociedade Geológica de Portugal. 15 (3). Lisboa.<br />
QUEIROZ,<br />
P.; MATEUS, J.; PEREIRA, T.; MENDES, P. (2006). Santa Clara-a-Velha: o<br />
quotidiano para além da ruína : primeiros resulta<strong>do</strong>s da investigação paleoecológica e<br />
arqueobotânica [Texto policopia<strong>do</strong>]. Trabalhos <strong>do</strong> CIPA. 97. Lisboa.<br />
QUEIROZ, P.; VAN DER BURGH (1989). Wood Anatomy of Iberian Ericales. Revista de<br />
Biologia. 14. Lisboa, p. 95-134.<br />
RAMIL-REGO, P. (1993). Paleoethnobotánica de<br />
Galicia<br />
(N.O. Cantábrico). Munibe. 45, p. 165-174.<br />
yacimientos arqueológicos holocenos de<br />
RAMIL-REGO, P.; DOPAZO MARTINEZ, A.; FERNÁNDEZ ROGRIGUEZ, C. (1996).<br />
Cambios en las estrategias de explotación de los recursos vegetales en el Norte de la<br />
Península Ibérica. Férvedes. 3, p.169-187.<br />
REDENDOR,<br />
A. (2002). Epigrafia romana da região de Bragança. (Trabalhos de<br />
Arqueologia, 24). Lisboa: Instituto Português de Arqueologia.<br />
185
REIS, T. (2005). Constantim. In Frazão-Moreira, A e Fernandes, M, org, Plantas e Saberes.<br />
No limiar da Etnobotânica em Portugal. Lisboa: Edições Colibri/IELT, p. 83-85.<br />
RENFREW, J.M. (1973). Palaeoethnobotany. The prehistoric food plants of the Near East<br />
and Europe. New York: Columbia<br />
University Press.<br />
RIBEIRO, J.A. (2003). Património florístico duriense. Plantas bravias comestíveis ou<br />
condimentares e fruteiras silvestres. Douro. 16, p.71-105.<br />
RIBEIRO,<br />
J. A. (2005). Plantas bravias comestíveis e plantas condimentares. In Frazão-<br />
Moreira, A e Fernandes, M, org, Plantas e Saberes. No limiar da Etnobotânica em Portugal.<br />
Lisboa: Edições Colibri/IELT, p. 33-43.<br />
RIBEIRO,<br />
J. A.; MONTEIRO, A.; SILVA, M. (2000). Etnobotânica. Plantas Bravias,<br />
Comestíveis, Condimentares e Medicinais. 2ª Edição. Mirandela: João Azeve<strong>do</strong> Editor.<br />
RIBEIRO, M. (1991). Contribuição para o conhecimento estratigráfico e petrológico da região<br />
a SW de Mace<strong>do</strong> de Cavaleiros (Trás-os-Montes Oriental). (Memórias <strong>do</strong>s Serviços<br />
Geológicos de Portugal, 30). Lisboa.<br />
RODRIGUEZ<br />
LOPEZ, C.; FERNANDEZ RODRIGUEZ, C.; RAMIL REGO, P. (1993). El<br />
aprovechamiento del Medio Natural en la cultura castreña del Noroeste Peninsular.<br />
Trabalhos de Antropología e Etnologia. 33 (1-2). <strong>Porto</strong>, p.285-305.<br />
RUCK, C. (1995). Gods and Plants in<br />
the Classical World. In Schultes, R., Siri von Reis,<br />
eds.,<br />
Ethnobotany. Evolution of a discipline. Chapman & Hall, p.131-143.<br />
SALGUEIRO, J. (2005). Ervas, Usos e Saberes. Plantas Medicinais no Alentejo e outros<br />
Produtos Naturais. Edições Colibri/Marca-ADL.<br />
SCHWEINGRUBER, F.H (1990) – Anatomy of European woods. Paul Haupt and Stuttgart<br />
Publishers<br />
SCHWEINGRUBER,<br />
F.H (1990b). Microscopic Wood Anatomy. Swiss Federal Institute for<br />
Forest, Snow and Landscape Research.<br />
SENNA-MARTINEZ,<br />
J. ; VENTURA, J.; CARVALHO, H. (2005). A Fraga <strong>do</strong>s Corvos<br />
(Mace<strong>do</strong> de Cavaleiros): um sítio de habitat <strong>do</strong> “mun<strong>do</strong> Carrapatas” da primeira Idade <strong>do</strong><br />
186
Bronze em Trás-os-Montes Oriental. Cadernos “Terras Quentes”. 2. Edições ATQ/CMMC,<br />
p.61-81.<br />
SENNA-MARTINEZ, J.; VENTURA, J.; CARVALHO, H.; FIGUEIREDO, E. (2006). A Fraga<br />
<strong>do</strong>s Corvos (Mace<strong>do</strong> de Cavaleiros): Um sítio de Habitat da Primeira Idade <strong>do</strong> Bronze em<br />
Trás-os-Montes<br />
Oriental. A campanha 3 (2005). Cadernos Terras Quentes. Edições<br />
ATG/CMMC, p.61-85<br />
SILVA,<br />
A. (2007). A Terra Sigillata Hispânica Tardia de Terronha de Pinhovelo: o comércio e<br />
o povoamento. Cadernos Terras Quentes, 4. Associação Terras Quentes, p.6-50.<br />
SILVA, Pinto da (1988). A paleoetnobotânica na<br />
Arqueologia portuguesa. Resulta<strong>do</strong>s desde<br />
1931<br />
a 1987. In Queiroga, F. e Sousa, I., eds., Actas <strong>do</strong> Encontro “Paleoecologia e<br />
Arqueologia”. Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, p. 5-36.<br />
STRECHT, A.; LOPEZ, M.; BOTELHO, M; BOGAS, T. (2005). Pruôba (Póvoa). In Frazão<br />
Moreira,<br />
A.; Fernandes, M., org., Plantas e Saberes. No Limiar da Etnobotânica em Portugal.<br />
Lisboa: Edições Colibri. IELT, p. 99-101.<br />
TABORDA, V. (1932). Alto Trás-os-Montes. Estu<strong>do</strong> Geográfico. Coimbra: Imprensa<br />
<strong>Universidade</strong>.<br />
TÉLLEZ, R.; CIFERRI, F. (1954). Trigos arqueológicos de España. Madrid: Ministerio de<br />
Agricultura, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.<br />
TER BRAAK, C,; SMILAUER, P. (2001). Canoco 4.52 for Win<strong>do</strong>ws. Wageningen,<br />
Netherlands.<br />
TUTIN, T.; HEYWOOD, V.; BURGES, N.; MOORE, D.; VALENTINE, D.; WALTERS, S.;<br />
WEBB, D. (1976). Flora europaea. Vol. 4. Plataginaceae<br />
to Compositae (and Rubiaceae).<br />
Cambridge<br />
University Press.<br />
UZQUIANO, P. (1997). Antracología y méto<strong>do</strong>s: implicaciones en la economía prehistórica,<br />
etnoarqueología y paleoecología. Trabajos de<br />
Prehistoria, 54, nº 1, p.145-154.<br />
VAN DER VEEN, M (1987). The plant remains. In Heslop, D., The Excavation of an Iron Age<br />
Settlement at Thorpe Thewles, Cleveland, 1980-1982. (CBA Research<br />
Report, 65). Lon<strong>do</strong>n,<br />
p.93-99.<br />
187<br />
da<br />
The
VAN LEEUWAARDEN, W. (in prep.). Some remarks on the identification of recent and fossil<br />
wood<br />
of endemic Portuguese species of the genus Quercus.<br />
VASCONCELLOS, J. de Carvalho e (1949). Plantas<br />
medicinais e aromáticas. Direcção<br />
Geral<br />
<strong>do</strong>s Serviços Agrícolas. Lisboa.<br />
VERNET, J-L (1999). Reconstructing vegetation and landscapes<br />
in the Mediterranean: the<br />
contribution<br />
of Anthracology. In Leveau, P.; Triment, F.; Walsh, K.; Barker, G., eds.,<br />
Environmental Reconstruction in Mediterranean Landscape Archaeology. (The Archaeology<br />
of Mediterranean Landscapes, 2). Oxbow books, p. 25-36.<br />
VERNET,<br />
J-L; OGEREAU, P.; FIGUEIRAL, I.; MACHADO YANES, C.; UZQUIANO, P.<br />
(2001). Guide d’identification des charbons de bois préhistoriques et récents. Sud-Ouest de<br />
l’Europe: France, Péninsule ibérique et îles Canaries. Paris: CNRS Editions.<br />
VILAÇA, R. (1995). Aspectos <strong>do</strong> povoamento da Beira Interior (Centro e Sul) nos finais da<br />
Idade <strong>do</strong> Bronze. 1. (Trabalhos de Arqueologia, 9). IPPAR.<br />
ZOHARY,<br />
D.; HOPF, M. (2000). Domestication of Plants in the Old World. The origin and<br />
spread of cultivated plants in West Asia, Europe and the Nile Valley. 3 rd Edition. Oxford<br />
University Press.<br />
188