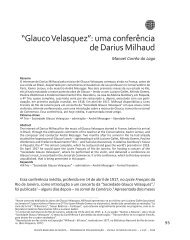Versão Digital - UFRJ
Versão Digital - UFRJ
Versão Digital - UFRJ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
12<br />
teatros que abrem diariamente as suas portas ao público ao longo de todo o ano e onde<br />
as diferentes produções do seu respectivo repertório, sempre em permanente renovação,<br />
vão se alternando em cartaz. Pelo contrário, em Portugal, a ópera cinge-se agora apenas<br />
a escassos espetáculos, sobretudo no Teatro de São Carlos, e continua a basear-se na<br />
importação de know how do exterior (mormente, na área do canto lírico). 1<br />
O programa da burguesia esclarecida germânica, baseado na função educativa<br />
atribuída às artes e, nesse caso, à ópera, em contraposição à função de prestígio e<br />
divertimento, traduziu-se numa rede de interações que importa ter em conta. A ideia de<br />
que cada cidade de certa dimensão devia ter ópera em língua alemã (para “promoção da<br />
humanidade” – Christoph Martin Wieland, 1775) favoreceu o aparecimento de múltiplos<br />
centros de produção, estimulando o emprego artístico local em larga escala. A distribuição<br />
regional desses centros associada à ideia de que a ópera não era um “luxo” da corte ou de<br />
uma elite política, financeira e cultural restrita, antes devia ser colocada ao alcance de<br />
todos, foi historicamente determinante para o alargamento a novos públicos. A<br />
necessidade de responder às solicitações das companhias e dos públicos locais levou à<br />
expansão e diversificação do repertório em língua alemã (quer em originais, quer em<br />
traduções) bem como suscitou o aparecimento de uma cultura autóctone de produção<br />
músico-teatral (libretistas, compositores, intérpretes, especialistas em artes cênicas etc.).<br />
Daí a necessidade de escolas, academias e outros estabelecimentos de formação artística,<br />
que foram desenvolvendo o ensino e a investigação nesses diferentes domínios e em<br />
áreas de saber afins (desde a filosofia às tecnologias de palco). A massa crítica técnicoprofissional<br />
gerada e a densidade da esfera pública burguesa contribuíram, por sua vez,<br />
desde cedo, para a constituição de um campo ou sistema artístico forte, com capacidade<br />
de autorreferência e autorregulação, que subtraiu as artes e, neste caso, a ópera, à sua<br />
dependência imediata da função de representação do poder ou de mero divertimento.<br />
As transformações na teoria e praxis decorrentes da rede de interações assim constituídas<br />
conferiram à ópera alemã um dinamismo e uma capacidade de inovação que a tornaram<br />
extremamente influente além-fronteiras.<br />
A rede de atividades ligadas à ópera atuou, por sua vez, como fator de desenvolvimento<br />
socioeconômico. Com efeito, o investimento público que apóia o funcionamento<br />
das várias dezenas de teatros de ópera na Alemanha não reverte somente para a finalidade<br />
cultural, reflete-se também na dinâmica econômica, quer pelo emprego que gera diretamente<br />
(artístico, técnico, administrativo etc.), quer pela repercussão indireta no tecido<br />
das atividades econômicas (fornecedores de materiais para espetáculos, empresas de<br />
produção de conteúdos culturais em suportes audiovisuais, turismo, hotelaria etc.), quer<br />
ainda pelo peso que tem nas exportações, seja de know how artístico, seja no campo da<br />
chamada “indústria cultural”. Quando o já referido Christoph Martin Wieland escrevia,<br />
em 1775, que a ópera não tinha de ser um “luxo”, que antes podia estar ao alcance de<br />
todos e que teria uma função educativa, não podia prever todo esse imenso potencial<br />
que ela viria a adquirir: potencial de emancipação e valorização de forças produtivas na-<br />
...........................................................................<br />
1 Sobre os sistemas sociocomunicativos da ópera em Portugal, do século XVIII ao XX, ver análise detalhada em<br />
“Trevas e Luzes na Ópera de Portugal Setecentista” in M. Vieira de Carvalho, Razão e sentimento na comunicação<br />
musical. Estudos sobre a Dialéctica do Iluminismo, Lisboa, Relógio d’Agua, p. 141-157. Esse estudo<br />
corresponde a uma versão atualizada de parte do primeiro capítulo da monografia que aborda a ópera em<br />
Portugal dos séculos XVIII a XX: ‘Pensar é morrer’ ou O Teatro de São Carlos na mudança de sistemas sóciocomunicativos,<br />
Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1993 (o original alemão, de 1984, tese policopiada,<br />
foi publicado em versão remodelada e acompanhada de iconografia, com o título ‘Denken ist Sterben’.<br />
Sozialgeschichte des Opernhauses Lissabon, Kassel, Bärenreiter, 1999). A relação com as transformações da<br />
esfera pública na Europa é abordada em “A ópera, a esfera pública e a mudança de sistemas sociocomunicativos”,<br />
in M. Vieira de Carvalho, Por lo impossible andamos – A ópera como teatro de Gil Vicente a Stockhausen, Porto,<br />
Âmbar, 2005, p. 37-60. Ver também, neste volume, o meu artigo “A República e as mudanças na cultura musical<br />
e músico-teatral”.<br />
Atualidade da Ópera - Série Simpósio Internacional de Musicologia da <strong>UFRJ</strong>