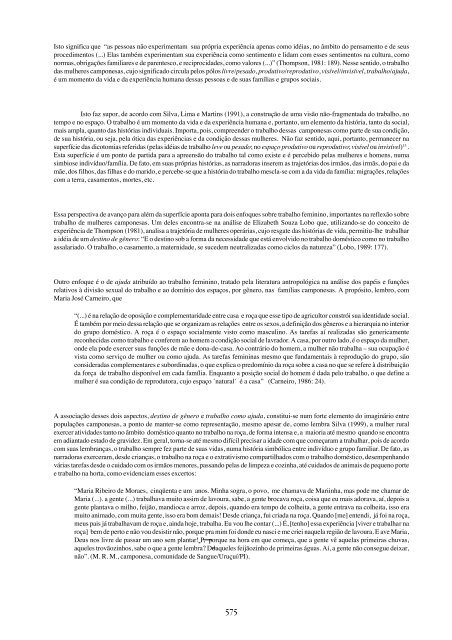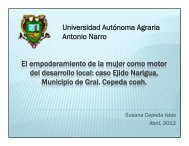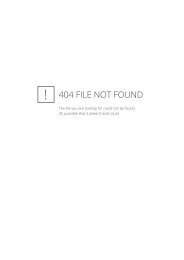livro - ALASRU - VI CONGRESSO_PARTE 3
livro - ALASRU - VI CONGRESSO_PARTE 3
livro - ALASRU - VI CONGRESSO_PARTE 3
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Isto significa que “as pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como idéias, no âmbito do pensamento e de seus<br />
procedimentos (...) Elas também experimentam sua experiência como sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, como<br />
normas, obrigações familiares e de parentesco, e reciprocidades, como valores (...)” (Thompson, 1981: 189). Nesse sentido, o trabalho<br />
das mulheres camponesas, cujo significado circula pelos pólos livre/pesado, produtivo/reprodutivo, visível/invisível, trabalho/ajuda,<br />
é um momento da vida e da experiência humana dessas pessoas e de suas famílias e grupos sociais.<br />
Isto faz supor, de acordo com Silva, Lima e Martins (1991), a construção de uma visão não-fragmentada do trabalho, no<br />
tempo e no espaço. O trabalho é um momento da vida e da experiência humana e, portanto, um elemento da história, tanto da social,<br />
mais ampla, quanto das histórias individuais. Importa, pois, compreender o trabalho dessas camponesas como parte de sua condição,<br />
de sua história, ou seja, pela ótica das experiências e da condição dessas mulheres. Não faz sentido, aqui, portanto, permanecer na<br />
superfície das dicotomias referidas (pelas idéias de trabalho leve ou pesado; no espaço produtivo ou reprodutivo; visível ou invisível) 13 .<br />
Esta superfície é um ponto de partida para a apreensão do trabalho tal como existe e é percebido pelas mulheres e homens, numa<br />
simbiose indivíduo/família. De fato, em suas próprias histórias, as narradoras inserem as trajetórias dos irmãos, das irmãs, do pai e da<br />
mãe, dos filhos, das filhas e do marido, e percebe-se que a história do trabalho mescla-se com a da vida da família: migrações, relações<br />
com a terra, casamentos, mortes, etc.<br />
Essa perspectiva de avanço para além da superfície aponta para dois enfoques sobre trabalho feminino, importantes na reflexão sobre<br />
trabalho de mulheres camponesas. Um deles encontra-se na análise de Elizabeth Souza Lobo que, utilizando-se do conceito de<br />
experiência de Thompson (1981), analisa a trajetória de mulheres operárias, cujo resgate das histórias de vida, permitiu-lhe trabalhar<br />
a idéia de um destino de gênero: “E o destino sob a forma da necessidade que está envolvido no trabalho doméstico como no trabalho<br />
assalariado. O trabalho, o casamento, a maternidade, se sucedem neutralizadas como ciclos da natureza” (Lobo, 1989: 177).<br />
Outro enfoque é o de ajuda atribuído ao trabalho feminino, tratado pela literatura antropológica na análise dos papéis e funções<br />
relativos à divisão sexual do trabalho e ao domínio dos espaços, por gênero, nas famílias camponesas. A propósito, lembro, com<br />
Maria José Carneiro, que<br />
“(...) é na relação de oposição e complementaridade entre casa e roça que esse tipo de agricultor constrói sua identidade social.<br />
É também por meio dessa relação que se organizam as relações entre os sexos, a definição dos gêneros e a hierarquia no interior<br />
do grupo doméstico. A roça é o espaço socialmente visto como masculino. As tarefas aí realizadas são genericamente<br />
reconhecidas como trabalho e conferem ao homem a condição social de lavrador. A casa, por outro lado, é o espaço da mulher,<br />
onde ela pode exercer suas funções de mãe e dona-de-casa. Ao contrário do homem, a mulher não trabalha – sua ocupação é<br />
vista como serviço de mulher ou como ajuda. As tarefas femininas mesmo que fundamentais à reprodução do grupo, são<br />
consideradas complementares e subordinadas, o que explica o predomínio da roça sobre a casa no que se refere à distribuição<br />
da força de trabalho disponível em cada família. Enquanto a posição social do homem é dada pelo trabalho, o que define a<br />
mulher é sua condição de reprodutora, cujo espaço ´natural´ é a casa” (Carneiro, 1986: 24).<br />
A associação desses dois aspectos, destino de gênero e trabalho como ajuda, constitui-se num forte elemento do imaginário entre<br />
populações camponesas, a ponto de manter-se como representação, mesmo apesar de, como lembra Silva (1999), a mulher rural<br />
exercer atividades tanto no âmbito doméstico quanto no trabalho na roça, de forma intensa e, a maioria até mesmo quando se encontra<br />
em adiantado estado de gravidez. Em geral, torna-se até mesmo difícil precisar a idade com que começaram a trabalhar, pois de acordo<br />
com suas lembranças, o trabalho sempre fez parte de suas vidas, numa história simbólica entre indivíduo e grupo familiar. De fato, as<br />
narradoras exerceram, desde crianças, o trabalho na roça e o extrativismo compartilhados com o trabalho doméstico, desempenhando<br />
várias tarefas desde o cuidado com os irmãos menores, passando pelas de limpeza e cozinha, até cuidados de animais de pequeno porte<br />
e trabalho na horta, como evidenciam esses excertos:<br />
“Maria Ribeiro de Moraes, cinqüenta e um anos. Minha sogra, o povo, me chamava de Mariinha, mas pode me chamar de<br />
Maria (...). a gente (...) trabalhava muito assim de lavoura, sabe, a gente brocava roça, coisa que eu mais adorava, aí, depois a<br />
gente plantava o milho, feijão, mandioca e arroz, depois, quando era tempo de colheita, a gente entrava na colheita, isso era<br />
muito animado, com muita gente, isso era bom demais! Desde criança, fui criada na roça. Quando [me] entendi, já foi na roça,<br />
meus pais já trabalhavam de roça e, ainda hoje, trabalha. Eu vou lhe contar (...) É, [tenho] essa experiência [viver e trabalhar na<br />
roça] bem de perto e não vou desistir não, porque pra mim foi donde eu nasci e me criei naquela região de lavoura. E ave Maria,<br />
Deus nos livre de passar um ano sem plantar! P, porque na hora em que começa, que a gente vê aquelas primeiras chuvas,<br />
aqueles trovãozinhos, sabe o que a gente lembra? Ddaqueles feijãozinho de primeiras águas. Aí, a gente não consegue deixar,<br />
não”. (M. R. M., camponesa, comunidade de Sangue/Uruçuí/PI).<br />
575