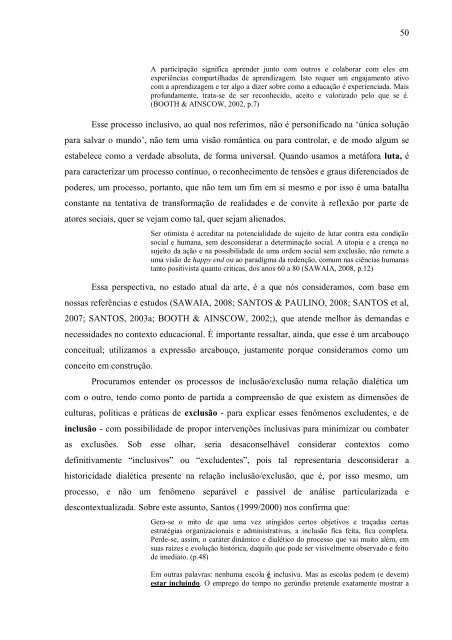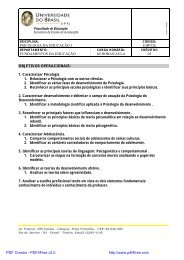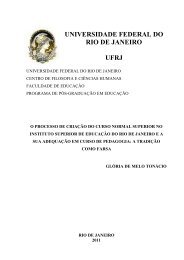MICHELE PEREIRA DE SOUZA DA FONSECA INCLUSÃO
MICHELE PEREIRA DE SOUZA DA FONSECA INCLUSÃO
MICHELE PEREIRA DE SOUZA DA FONSECA INCLUSÃO
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A participação significa aprender junto com outros e colaborar com eles em<br />
experiências compartilhadas de aprendizagem. Isto requer um engajamento ativo<br />
com a aprendizagem e ter algo a dizer sobre como a educação é experienciada. Mais<br />
profundamente, trata-se de ser reconhecido, aceito e valorizado pelo que se é.<br />
(BOOTH & AINSCOW, 2002, p.7)<br />
Esse processo inclusivo, ao qual nos referimos, não é personificado na ‗única solução<br />
para salvar o mundo‘, não tem uma visão romântica ou para controlar, e de modo algum se<br />
estabelece como a verdade absoluta, de forma universal. Quando usamos a metáfora luta, é<br />
para caracterizar um processo contínuo, o reconhecimento de tensões e graus diferenciados de<br />
poderes, um processo, portanto, que não tem um fim em si mesmo e por isso é uma batalha<br />
constante na tentativa de transformação de realidades e de convite à reflexão por parte de<br />
atores sociais, quer se vejam como tal, quer sejam alienados.<br />
Ser otimista é acreditar na potencialidade do sujeito de lutar contra esta condição<br />
social e humana, sem desconsiderar a determinação social. A utopia e a crença no<br />
sujeito da ação e na possibilidade de uma ordem social sem exclusão, não remete a<br />
uma visão de happy end ou ao paradigma da redenção, comum nas ciências humanas<br />
tanto positivista quanto criticas, dos anos 60 a 80 (SAWAIA, 2008, p.12)<br />
Essa perspectiva, no estado atual da arte, é a que nós consideramos, com base em<br />
nossas referências e estudos (SAWAIA, 2008; SANTOS & PAULINO, 2008; SANTOS et al,<br />
2007; SANTOS, 2003a; BOOTH & AINSCOW, 2002;), que atende melhor às demandas e<br />
necessidades no contexto educacional. É importante ressaltar, ainda, que esse é um arcabouço<br />
conceitual; utilizamos a expressão arcabouço, justamente porque consideramos como um<br />
conceito em construção.<br />
Procuramos entender os processos de inclusão/exclusão numa relação dialética um<br />
com o outro, tendo como ponto de partida a compreensão de que existem as dimensões de<br />
culturas, políticas e práticas de exclusão - para explicar esses fenômenos excludentes, e de<br />
inclusão - com possibilidade de propor intervenções inclusivas para minimizar ou combater<br />
as exclusões. Sob esse olhar, seria desaconselhável considerar contextos como<br />
definitivamente ―inclusivos‖ ou ―excludentes‖, pois tal representaria desconsiderar a<br />
historicidade dialética presente na relação inclusão/exclusão, que é, por isso mesmo, um<br />
processo, e não um fenômeno separável e passível de análise particularizada e<br />
descontextualizada. Sobre este assunto, Santos (1999/2000) nos confirma que:<br />
Gera-se o mito de que uma vez atingidos certos objetivos e traçadas certas<br />
estratégias organizacionais e administrativas, a inclusão fica feita, fica completa.<br />
Perde-se, assim, o caráter dinâmico e dialético do processo que vai muito além, em<br />
suas raízes e evolução histórica, daquilo que pode ser visivelmente observado e feito<br />
de imediato. (p.48)<br />
Em outras palavras: nenhuma escola é inclusiva. Mas as escolas podem (e devem)<br />
estar incluindo. O emprego do tempo no gerúndio pretende exatamente mostrar a<br />
50