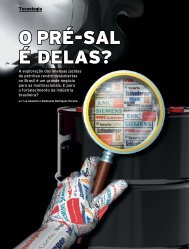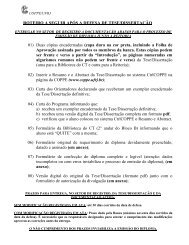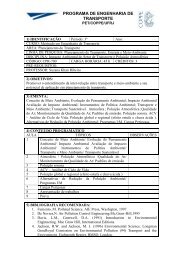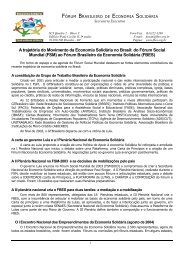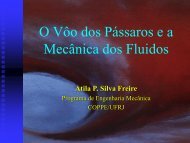estação intermodal como gerador de centralidades metropolitanas
estação intermodal como gerador de centralidades metropolitanas
estação intermodal como gerador de centralidades metropolitanas
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1º Concurso <strong>de</strong> Monografia CBTU 2005 – A Cida<strong>de</strong> nos Trilhos<br />
suburbanas <strong>de</strong> trem, inverte seu papel e passa, com os ônibus, a buscar os núcleos que rapidamente<br />
se urbanizavam <strong>de</strong> maneira legal ou clan<strong>de</strong>stina.<br />
Na franja periférica, os ‘subúrbios-estação’ conheceram gran<strong>de</strong> crescimento. Muito embora a<br />
ferrovia já não tivesse o mesmo papel <strong>de</strong> induzir ocupação, sua influência era direta no provimento<br />
<strong>de</strong> transporte para o Centro, consolidando o papel <strong>de</strong> ‘subúrbio-dormitório’. A importância da<br />
ferrovia é salientada por Langenbuch (1971:335) <strong>como</strong> elemento importante <strong>de</strong> estruturação<br />
metropolitana: “a estrutura viária (sobretudo as ferrovias, repita-se) constituiu o fator principal do<br />
arranjo espacial e configuração da Gran<strong>de</strong> São Paulo”. A partir dos anos 50, com uma política<br />
agressiva <strong>de</strong> implantação <strong>de</strong> rodovias, os trens <strong>de</strong> longo percurso ce<strong>de</strong>m ainda mais espaço aos <strong>de</strong><br />
subúrbio. Um dos poucos impactos que se pu<strong>de</strong>ram sentir na zona central da Cida<strong>de</strong> foi a<br />
transformação do complexo Júlio Prestes–Luz em gran<strong>de</strong> terminal metropolitano para transporte<br />
suburbano, cuja característica popular causou a perda <strong>de</strong>finitiva da atrativida<strong>de</strong> imobiliária do bairro<br />
e afastou o comércio e a habitação qualificados.<br />
A partir do final dos anos 1950, restrições quanto à verticalização dão força ao espalhamento<br />
urbano. A criação <strong>de</strong> novas centralida<strong>de</strong>s comerciais se dá <strong>de</strong> forma discreta, porém irreversível<br />
frente ao crescimento <strong>de</strong>sagregador, à <strong>de</strong>sarticulação do sistema <strong>de</strong> transporte público, à dissociação<br />
entre emprego e residência e à saturação espacial do Centro. Este continua a ser o maior pólo <strong>de</strong><br />
empregos e negócios, mas a ocupação comercial principalmente na região da avenida Paulista<br />
sugere um vetor sudoeste <strong>de</strong> crescimento, baseado exclusivamente no transporte rodoviário.<br />
O COLAPSO: reestruturação produtiva sem transporte <strong>de</strong> massa (1964-2005)<br />
Foi característica do governo militar, a partir do golpe <strong>de</strong> 1964, o gran<strong>de</strong> investimento em infraestrutura<br />
<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> porte. Essa postura fez-se sentir em diferentes campos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a construção <strong>de</strong><br />
hidrelétricas até o crescimento da malha rodoviária nacional vinculada ao fomento da indústria<br />
automobilística. Adicionalmente, o governo militar investiu direta e indiretamente em diversas<br />
regiões do país, <strong>de</strong>terminando retomada do crescimento industrial nacional na segunda meta<strong>de</strong> da<br />
década <strong>de</strong> 1960. Com a perda da polarização industrial da Gran<strong>de</strong> São Paulo, abriu-se maior espaço<br />
para o <strong>de</strong>senvolvimento do incipiente setor terciário que viria a caracterizar essa metrópole nas<br />
décadas seguintes.<br />
A partir <strong>de</strong> 1967, a mística do planejamento técnico e integrado resultaram, na escala local, na<br />
valorização do planejamento urbano e <strong>de</strong> planos estratégicos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nação urbana. Em São Paulo,<br />
são <strong>de</strong>sta época o Plano Urbanístico Básico (PUB 1968), o Plano Metropolitano <strong>de</strong><br />
Desenvolvimento Integrado (PMDI 1970) e o Plano Diretor <strong>de</strong> Desenvolvimento Integrado (PDDI<br />
1971). A gestão <strong>de</strong> Faria Lima (1965-1969) investiu sobretudo no planejamento do anel viário e na<br />
urbanização do vale do rio Tietê, embasado nas gran<strong>de</strong>s transformações viárias previstas no PUB. O<br />
ponto central da proposta era uma malha <strong>de</strong> vias expressas <strong>como</strong> elemento fundamental do futuro<br />
sistema <strong>de</strong> transportes, endossando a postura histórica <strong>de</strong> promover ocupação <strong>de</strong> baixa <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong>.<br />
Ao ignorar as <strong>de</strong>ficiências da infra-estrutura das periferias, o plano agravou a expulsão da<br />
população <strong>de</strong> baixa renda para a periferia, ao mesmo tempo em que sua postura focada na<br />
macroacessibilida<strong>de</strong> piorou a ligação das vias locais às gran<strong>de</strong>s estruturas viárias. De forma<br />
secundária aos 800Km <strong>de</strong> vias previstas no plano, o PUB propunha também a instalação tardia do<br />
Metrô <strong>de</strong> 400Km <strong>como</strong> equipamento <strong>de</strong> acesso ao centro consolidado.<br />
A administração <strong>de</strong> Paulo Maluf (1969-1971) <strong>de</strong>u continuida<strong>de</strong> ao plano, seguindo a estratégia<br />
fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> estimular a indústria automobilística através <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s obras viárias. A restrição ao tema<br />
da macroacessibilida<strong>de</strong> metropolitana impediu que os bairros cortados por essas vias fossem por<br />
elas beneficiados.<br />
17