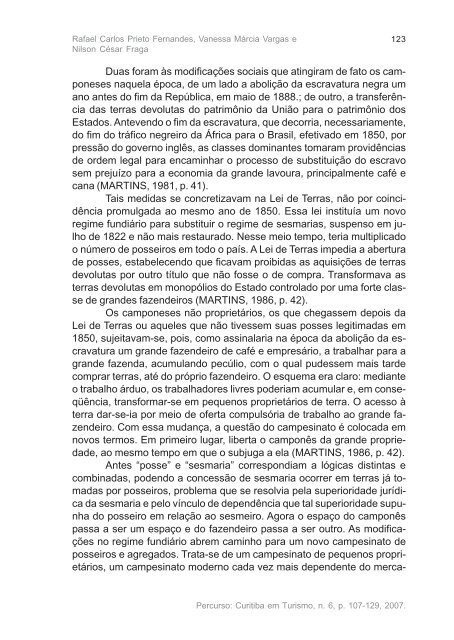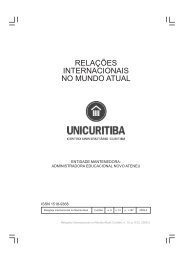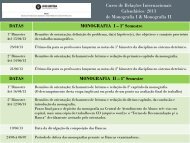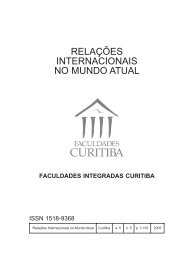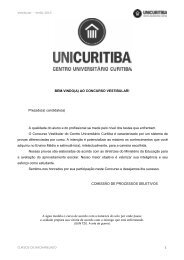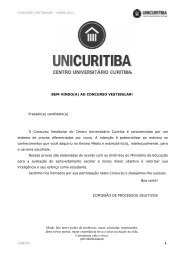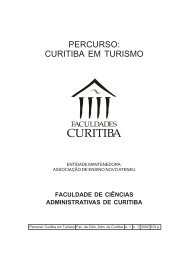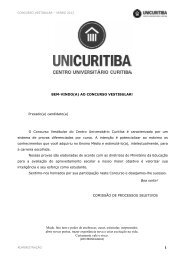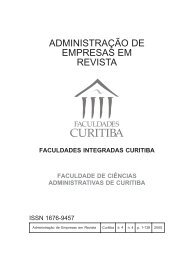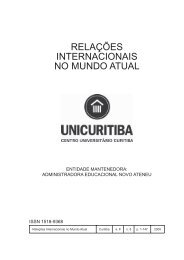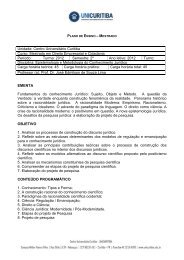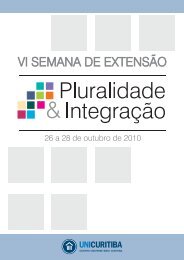R I 5 - Unicuritiba
R I 5 - Unicuritiba
R I 5 - Unicuritiba
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Rafael Carlos Prieto Fernandes, Vanessa Márcia Vargas e<br />
Nilson César Fraga<br />
123<br />
Duas foram às modificações sociais que atingiram de fato os camponeses<br />
naquela época, de um lado a abolição da escravatura negra um<br />
ano antes do fim da República, em maio de 1888.; de outro, a transferência<br />
das terras devolutas do patrimônio da União para o patrimônio dos<br />
Estados. Antevendo o fim da escravatura, que decorria, necessariamente,<br />
do fim do tráfico negreiro da África para o Brasil, efetivado em 1850, por<br />
pressão do governo inglês, as classes dominantes tomaram providências<br />
de ordem legal para encaminhar o processo de substituição do escravo<br />
sem prejuízo para a economia da grande lavoura, principalmente café e<br />
cana (MARTINS, 1981, p. 41).<br />
Tais medidas se concretizavam na Lei de Terras, não por coincidência<br />
promulgada ao mesmo ano de 1850. Essa lei instituía um novo<br />
regime fundiário para substituir o regime de sesmarias, suspenso em julho<br />
de 1822 e não mais restaurado. Nesse meio tempo, teria multiplicado<br />
o número de posseiros em todo o país. A Lei de Terras impedia a abertura<br />
de posses, estabelecendo que ficavam proibidas as aquisições de terras<br />
devolutas por outro título que não fosse o de compra. Transformava as<br />
terras devolutas em monopólios do Estado controlado por uma forte classe<br />
de grandes fazendeiros (MARTINS, 1986, p. 42).<br />
Os camponeses não proprietários, os que chegassem depois da<br />
Lei de Terras ou aqueles que não tivessem suas posses legitimadas em<br />
1850, sujeitavam-se, pois, como assinalaria na época da abolição da escravatura<br />
um grande fazendeiro de café e empresário, a trabalhar para a<br />
grande fazenda, acumulando pecúlio, com o qual pudessem mais tarde<br />
comprar terras, até do próprio fazendeiro. O esquema era claro: mediante<br />
o trabalho árduo, os trabalhadores livres poderiam acumular e, em conseqüência,<br />
transformar-se em pequenos proprietários de terra. O acesso à<br />
terra dar-se-ia por meio de oferta compulsória de trabalho ao grande fazendeiro.<br />
Com essa mudança, a questão do campesinato é colocada em<br />
novos termos. Em primeiro lugar, liberta o camponês da grande propriedade,<br />
ao mesmo tempo em que o subjuga a ela (MARTINS, 1986, p. 42).<br />
Antes “posse” e “sesmaria” correspondiam a lógicas distintas e<br />
combinadas, podendo a concessão de sesmaria ocorrer em terras já tomadas<br />
por posseiros, problema que se resolvia pela superioridade jurídica<br />
da sesmaria e pelo vínculo de dependência que tal superioridade supunha<br />
do posseiro em relação ao sesmeiro. Agora o espaço do camponês<br />
passa a ser um espaço e do fazendeiro passa a ser outro. As modificações<br />
no regime fundiário abrem caminho para um novo campesinato de<br />
posseiros e agregados. Trata-se de um campesinato de pequenos proprietários,<br />
um campesinato moderno cada vez mais dependente do merca-<br />
Percurso: Curitiba em Turismo, n. 6, p. 107-129, 2007.