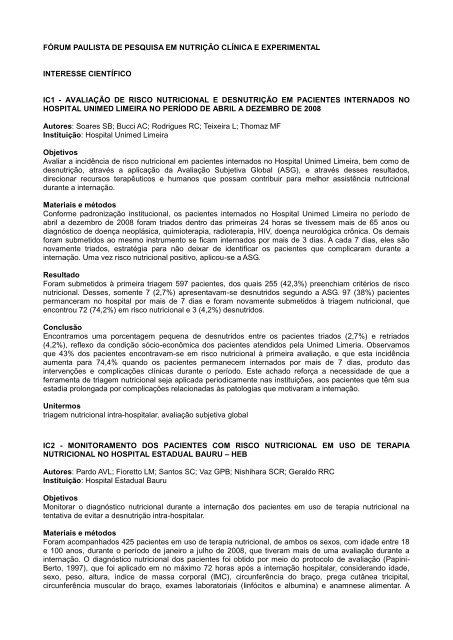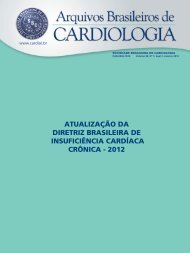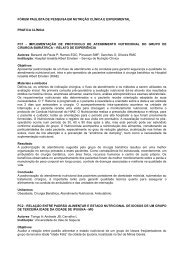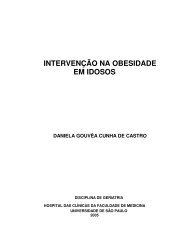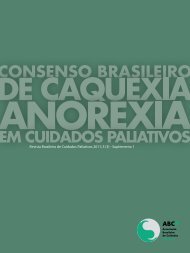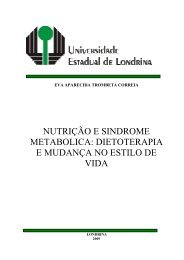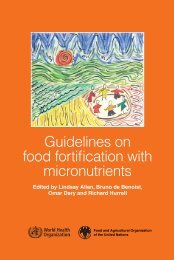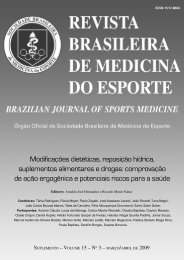IC1 - Avaliação de Risco Nutricional e Desnutrição em ... - Nutritotal
IC1 - Avaliação de Risco Nutricional e Desnutrição em ... - Nutritotal
IC1 - Avaliação de Risco Nutricional e Desnutrição em ... - Nutritotal
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FÓRUM PAULISTA DE PESQUISA EM NUTRIÇÃO CLÍNICA E EXPERIMENTAL<br />
INTERESSE CIENTÍFICO<br />
<strong>IC1</strong> - AVALIAÇÃO DE RISCO NUTRICIONAL E DESNUTRIÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS NO<br />
HOSPITAL UNIMED LIMEIRA NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2008<br />
Autores: Soares SB; Bucci AC; Rodrigues RC; Teixeira L; Thomaz MF<br />
Instituição: Hospital Unimed Limeira<br />
Objetivos<br />
Avaliar a incidência <strong>de</strong> risco nutricional <strong>em</strong> pacientes internados no Hospital Unimed Limeira, b<strong>em</strong> como <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>snutrição, através a aplicação da <strong>Avaliação</strong> Subjetiva Global (ASG), e através <strong>de</strong>sses resultados,<br />
direcionar recursos terapêuticos e humanos que possam contribuir para melhor assistência nutricional<br />
durante a internação.<br />
Materiais e métodos<br />
Conforme padronização institucional, os pacientes internados no Hospital Unimed Limeira no período <strong>de</strong><br />
abril a <strong>de</strong>z<strong>em</strong>bro <strong>de</strong> 2008 foram triados <strong>de</strong>ntro das primeiras 24 horas se tivess<strong>em</strong> mais <strong>de</strong> 65 anos ou<br />
diagnóstico <strong>de</strong> doença neoplásica, quimioterapia, radioterapia, HIV, doença neurológica crônica. Os <strong>de</strong>mais<br />
foram submetidos ao mesmo instrumento se ficam internados por mais <strong>de</strong> 3 dias. A cada 7 dias, eles são<br />
novamente triados, estratégia para não <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar os pacientes que complicaram durante a<br />
internação. Uma vez risco nutricional positivo, aplicou-se a ASG.<br />
Resultado<br />
Foram submetidos à primeira triag<strong>em</strong> 597 pacientes, dos quais 255 (42,3%) preenchiam critérios <strong>de</strong> risco<br />
nutricional. Desses, somente 7 (2,7%) apresentavam-se <strong>de</strong>snutridos segundo a ASG. 97 (38%) pacientes<br />
permanceram no hospital por mais <strong>de</strong> 7 dias e foram novamente submetidos à triag<strong>em</strong> nutricional, que<br />
encontrou 72 (74,2%) <strong>em</strong> risco nutricional e 3 (4,2%) <strong>de</strong>snutridos.<br />
Conclusão<br />
Encontramos uma porcentag<strong>em</strong> pequena <strong>de</strong> <strong>de</strong>snutridos entre os pacientes triados (2,7%) e retriados<br />
(4,2%), reflexo da condição sócio-econômica dos pacientes atendidos pela Unimed Limeria. Observamos<br />
que 43% dos pacientes encontravam-se <strong>em</strong> risco nutricional à primeira avaliação, e que esta incidência<br />
aumenta para 74,4% quando os pacientes permanec<strong>em</strong> internados por mais <strong>de</strong> 7 dias, produto das<br />
intervenções e complicações clínicas durante o período. Este achado reforça a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> que a<br />
ferramenta <strong>de</strong> triag<strong>em</strong> nutricional seja aplicada periodicamente nas instituições, aos pacientes que têm sua<br />
estadia prolongada por complicações relacionadas às patologias que motivaram a internação.<br />
Unitermos<br />
triag<strong>em</strong> nutricional intra-hospitalar, avaliação subjetiva global<br />
IC2 - MONITORAMENTO DOS PACIENTES COM RISCO NUTRICIONAL EM USO DE TERAPIA<br />
NUTRICIONAL NO HOSPITAL ESTADUAL BAURU – HEB<br />
Autores: Pardo AVL; Fioretto LM; Santos SC; Vaz GPB; Nishihara SCR; Geraldo RRC<br />
Instituição: Hospital Estadual Bauru<br />
Objetivos<br />
Monitorar o diagnóstico nutricional durante a internação dos pacientes <strong>em</strong> uso <strong>de</strong> terapia nutricional na<br />
tentativa <strong>de</strong> evitar a <strong>de</strong>snutrição intra-hospitalar.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram acompanhados 425 pacientes <strong>em</strong> uso <strong>de</strong> terapia nutricional, <strong>de</strong> ambos os sexos, com ida<strong>de</strong> entre 18<br />
e 100 anos, durante o período <strong>de</strong> janeiro a julho <strong>de</strong> 2008, que tiveram mais <strong>de</strong> uma avaliação durante a<br />
internação. O diagnóstico nutricional dos pacientes foi obtido por meio do protocolo <strong>de</strong> avaliação (Papini-<br />
Berto, 1997), que foi aplicado <strong>em</strong> no máximo 72 horas após a internação hospitalar, consi<strong>de</strong>rando ida<strong>de</strong>,<br />
sexo, peso, altura, índice <strong>de</strong> massa corporal (lMC), circunferência do braço, prega cutânea tricipital,<br />
circunferência muscular do braço, exames laboratoriais (linfócitos e albumina) e anamnese alimentar. A
instituição da terapia nutricional variou conforme as condições e necessida<strong>de</strong>s individuais do paciente e da<br />
patologia, com média <strong>de</strong> três dias a partir da avaliação nutricional.<br />
Resultado<br />
Foram i<strong>de</strong>ntificados na internação 209 (49%) pacientes com diagnóstico nutricional <strong>de</strong> <strong>de</strong>snutrição e 216<br />
(51%) com risco nutricional. Na alta hospitalar foi verificado que dos 216 pacientes com risco nutricional, 35<br />
(16%) evoluíram com <strong>de</strong>snutrição intra-hospitalar.<br />
Conclusão<br />
Foi concluído neste estudo que mesmo monitorando os pacientes com risco nutricional e instituindo a<br />
terapia nutricional precoc<strong>em</strong>ente, o quadro clínico e as iatrogenias durante o período <strong>de</strong> hospitalização<br />
levam a <strong>de</strong>snutrição intra-hospitalar.<br />
Unitermos<br />
<strong>Desnutrição</strong>, terapia nutricional, avaliação nutricional<br />
IC3 - INTERVENÇÃO NUTRICIONAL IMEDIATA (INTERNUTI) EM CIRURGIA: AUDITORIA REALIZADA<br />
NUM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO<br />
Autores: Pexe P; Bragagnolo R; Dock-Nascimento DB; Perrone F; Mascarenhas N; Aguilar-Nascimento JE<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Mato Grosso<br />
Objetivos<br />
No protocolo ACERTO, a intervenção nutricional imediata (INTERNUTI) é um ponto fundamental na terapia<br />
multimodal. A aplicação da INTERNUTI <strong>de</strong>ve ser para pacientes <strong>de</strong>snutridos ou <strong>em</strong> risco nutricional<br />
candidatos a operações <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> porte. O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho foi auditar a aplicação da INTERNUTI na<br />
enfermaria <strong>de</strong> clínica cirúrgica do Hospital Universitário Julio Muller (HUJM).<br />
Materiais e métodos<br />
Trata-se <strong>de</strong> um estudo clínico prospectivo, realizado entre fevereiro e março <strong>de</strong> 2009 no HUJM da<br />
Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Mato Grosso <strong>em</strong> Cuiabá-MT envolvendo 106 pacientes com ida<strong>de</strong> mediana <strong>de</strong> 52<br />
anos, sendo 44 (41,5%) do sexo masculino e 62 (58,5%) do f<strong>em</strong>inino. Destes, 91 foram operados sendo 55<br />
(60,4%) submetidos à operações <strong>de</strong> médio porte e 36 (39,6%) <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> porte. Do total da amostra, 15,4 %<br />
eram portadores <strong>de</strong> neoplasia maligna. Os dados foram coletados pela equipe multidisciplinar <strong>de</strong> terapia<br />
nutricional. O estado nutricional foi <strong>de</strong>terminado pela avaliação subjetiva global e consi<strong>de</strong>rou-se como<br />
INTERNUTI a terapia prescrita nas primeiras 48 horas após a internação. As variáveis <strong>de</strong> resultado principal<br />
foram: número <strong>de</strong> pacientes <strong>de</strong>snutridos ou não que receberam INTERNUTI categorizados <strong>em</strong> operações<br />
<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> porte e/ou do aparelho digestivo. Outras variáveis foram diagnóstico nutricional, percentual <strong>de</strong><br />
perda <strong>de</strong> peso, tipo <strong>de</strong> terapia nutricional instituída, uso <strong>de</strong> imunonutrientes, t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> internação total e<br />
mortalida<strong>de</strong>.<br />
Resultado<br />
Dos 91 pacientes operados, 31 (34,1%) encontravam-se <strong>de</strong>snutridos sendo 12 (13,2%), grav<strong>em</strong>ente. A<br />
mortalida<strong>de</strong> foi <strong>de</strong> 3,3% (n=3) e ocorreu apenas entre <strong>de</strong>snutridos (p=0,03). O t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> internação foi 3<br />
vezes maior entre <strong>de</strong>snutridos (13,5±13 vs. 4,4±2,9 dias; p=0,001). No total, 12 casos (13,2%) receberam<br />
INTERNUTI (6 com supl<strong>em</strong>entação oral, 4 com TNE e 3 com TNP). Imunonutrientes foram utilizados <strong>em</strong><br />
33,3% dos casos. A aplicação da INTERNUTI foi significant<strong>em</strong>ente maior <strong>em</strong> operações <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> porte<br />
(22,2% vs. 7,3%; p=0.04) e <strong>em</strong> pacientes com câncer (50% vs. 10,1%; p
IC4 - NUTRITION DAY – PROGAMA SUPPORT DE TRIAGEM NUTRICIONAL: RESULTADOS DO<br />
HOSPITAL GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS<br />
Autores: Britto RPA; Borges E; Albuquerque KM<br />
Instituição: Hospital Geral do Estado – HGE<br />
Objetivos<br />
Avaliar o perfil clínico-nutricional <strong>de</strong> pacientes adultos internos no Hospital Geral do Estado <strong>de</strong> Alagoas<br />
(HGE), localizado na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Maceió.<br />
Materiais e métodos<br />
Vinte avaliadores (nutricionistas e estudantes <strong>de</strong> nutrição) foram treinados quanto a aplicação <strong>de</strong> um<br />
formulário próprio previamente testado, fornecido pelo projeto “Nutrition Day – Programa Support <strong>de</strong><br />
Triag<strong>em</strong> <strong>Nutricional</strong>”. Foram avaliados no período <strong>de</strong> um dia, todos os pacientes adultos internos no HGE.<br />
Verificou-se: ida<strong>de</strong>, sexo, diagnóstico e doenças associadas, avaliação subjetiva global (ASG), alterações<br />
do trato gastrintestinal (TGI), presença <strong>de</strong> úlceras por pressão (UP), <strong>de</strong>iscências <strong>de</strong> ferida operatória (FO) ,<br />
t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> internação e uso <strong>de</strong> supl<strong>em</strong>entação. O risco nutricional foi <strong>de</strong>finido por: mudanças no apetite,<br />
perda pon<strong>de</strong>ral, dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>glutição/mastigação (D/M), ida<strong>de</strong> >60 anos, albumina
assinatura <strong>de</strong> um termo <strong>de</strong> livre consentimento. Peso e altura foram coletados, calculado Índice <strong>de</strong> Massa<br />
Corpórea (IMC) e classificados <strong>de</strong> acordo com os pontos <strong>de</strong> corte propostos pela OMS, 1998 para adultos e<br />
Lipschtz, 1994 para idosos. A triag<strong>em</strong> nutricional foi realizada por meio da ASG (adultos) e MNA (idosos). Os<br />
dados analisados incluíram os <strong>de</strong>mográficos ida<strong>de</strong> e sexo e os clínicos obtidos <strong>em</strong> prontuário médico:<br />
motivo da internação, diagnóstico médico, t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> internação, dieta prescrita, registro <strong>em</strong> prontuário sobre<br />
alteração <strong>de</strong> peso e/ou apetite. Para análise da triag<strong>em</strong> foi consi<strong>de</strong>rada a classificação e a pontuação da<br />
ASG e MNA.<br />
Resultado<br />
Participaram da pesquisa 102 pacientes, dos quais 50,98% do sexo f<strong>em</strong>inino e 49,01% do sexo masculino,<br />
além disso, 42,15% (n=43) da amostra eram <strong>de</strong> adultos e 57,84% (n=59) <strong>de</strong> idosos. No total da amostra a<br />
classificação do IMC apontou que 49,01% (n=50) eram eutróficos e 50,98% <strong>de</strong>snutridos (n=52). De acordo<br />
com a MNA, 22% (n=13) apresentavam eutrofia, 55,93% (n=33) risco <strong>de</strong> <strong>de</strong>snutrição e 22,03% (n=13)<br />
<strong>de</strong>snutrição. A triag<strong>em</strong> nutricional <strong>de</strong> adultos <strong>de</strong>monstrou que 86,04% (n=37) dos pacientes eram b<strong>em</strong><br />
nutridos e 13,94% (n=6) apresentavam algum grau <strong>de</strong> <strong>de</strong>snutrição. Os idosos com risco nutricional e<br />
<strong>de</strong>snutrição ficaram <strong>em</strong> média maior t<strong>em</strong>po internados, duas s<strong>em</strong>anas, enquanto os eutróficos<br />
permaneceram uma s<strong>em</strong>ana. Entre os pacientes com risco nutricional e <strong>de</strong>snutrição não havia prescrição <strong>de</strong><br />
terapia nutricional oral ou enteral, exceto um paciente classificado <strong>em</strong> risco que recebia alimentação via<br />
sonda, a<strong>de</strong>mais não havia registro <strong>em</strong> prontuário da evolução <strong>de</strong> peso ou alteração <strong>de</strong> apetite. As patologias<br />
mais comuns associada à <strong>de</strong>snutrição foram as neoplasias (pulmão e tubo digestório), cirurgias do sist<strong>em</strong>a<br />
digestório e probl<strong>em</strong>as cardiovasculares.<br />
Conclusão<br />
A triag<strong>em</strong> nutricional <strong>de</strong>monstrou que o risco nutricional e a <strong>de</strong>snutrição eram mais prevalentes entre os<br />
pacientes idosos e que eles permaneciam por mais t<strong>em</strong>po internado do que os eutróficos. A prescrição <strong>de</strong><br />
terapia nutricional oral ou enteral só foi observada <strong>em</strong> um paciente com risco nutricional, além disso, nos<br />
prontuários não havia registro da evolução <strong>de</strong> peso ou <strong>de</strong> alteração <strong>de</strong> apetite. As doenças mais comuns<br />
associadas à <strong>de</strong>snutrição foram as neoplasias, cirurgia do tubo digestório e doenças cardíacas. A partir do<br />
exposto é possível elaborar conduta nutricional preventiva ou curativa baseada <strong>em</strong> métodos <strong>de</strong> baixo custo,<br />
simples e rápidos para triag<strong>em</strong> nutricional <strong>de</strong> adultos e idosos.<br />
Unitermos<br />
triag<strong>em</strong> nutricional, MNA, ASG.<br />
IC6 - DIFICULDADES DA IMPLANTAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE TRIAGEM NUTRICIONAL PARA<br />
AVALIAÇÃO DO RISCO DE DESNUTRIÇÃO HOSPITALAR<br />
Autores: Santos REM; Abraão V; Rosa APO; Oliveira ACC; Reis LMG<br />
Instituição: Hospital Badim<br />
Objetivos<br />
O objetivo do estudo foi <strong>de</strong>monstrar as dificulda<strong>de</strong>s da implantação <strong>de</strong> um instrumento <strong>de</strong> triag<strong>em</strong> <strong>de</strong> risco<br />
nutricional (NRS-2002) e i<strong>de</strong>ntificar o perfil dos pacientes internados <strong>em</strong> um hospital particular do RJ.<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo transversal realizado durante o período <strong>de</strong> outubro 2008 a fevereiro 2009, <strong>em</strong> 214 pacientes da<br />
clinica médica, cirúrgica e unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> terapia intensiva. Dados como índice <strong>de</strong> massa corporal (IMC), perda<br />
<strong>de</strong> peso (%), redução na ingesta alimentar, foram obtidos subjetivamente; severida<strong>de</strong> da doença e ida<strong>de</strong>,<br />
através <strong>de</strong> análise <strong>de</strong> prontuários para realização da NRS-2002. Pacientes com pontuação >3 na NRS-2002<br />
foram incluídos na intervenção nutricional.<br />
Resultado<br />
A amostra foi composta por 1.842 pacientes internados, <strong>de</strong>sses 12% apresentavam risco nutricional. O<br />
t<strong>em</strong>po médio <strong>de</strong> internação foi <strong>de</strong> 17,6 dias. O t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> início da supl<strong>em</strong>entação variou foi <strong>de</strong> 1 a 15 dias,<br />
sendo a média <strong>de</strong> 5 dias. Em relação ao <strong>de</strong>sfecho dos pacientes <strong>em</strong> risco, 142 (66,3%) <strong>de</strong> pacientes obteve<br />
boa a<strong>de</strong>são à intervenção nutricional e recebeu alta. 23 (10,7%) dos pacientes migraram para terapia<br />
nutricional enteral (TNE) e a mortalida<strong>de</strong> foi <strong>de</strong> 12 (5,6%) dos pacientes.<br />
Conclusão<br />
Diante <strong>de</strong>sses resultados, recomenda-se padronizar técnicas <strong>de</strong> rastreamento nutricional e sist<strong>em</strong>atizar sua<br />
aplicação, com maior a<strong>de</strong>são da equipe. A triag<strong>em</strong> <strong>de</strong> risco nutricional po<strong>de</strong> ser aplicada a todos os
pacientes internados, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt<strong>em</strong>ente da doença que apresent<strong>em</strong> ou da ida<strong>de</strong>, s<strong>em</strong> custo adicional ao<br />
serviço e po<strong>de</strong> ser efetuada por diferentes profissionais. Quando realizada <strong>de</strong> forma precisa é fundamental<br />
para o monitoramento da qualida<strong>de</strong> do serviço <strong>de</strong> nutrição hospitalar, para <strong>de</strong>finição das ações nutricionais<br />
assistenciais, na otimização <strong>de</strong> recursos materiais e humanos, e na geração <strong>de</strong> informações para o<br />
acompanhamento da efetivida<strong>de</strong> da nutrição aplicada ao paciente internado.<br />
Unitermos<br />
risco nutricional, triag<strong>em</strong> risco nutricional (NRS-2002), <strong>de</strong>snutrição, estado nutricional<br />
IC7 - APLICAÇÃO DO NUTRITIONAL RISK SCREENING (NRS-2002) EM PACIENTES DA CLÍNICA<br />
CIRÚRGICA DO APARELHO DIGESTIVO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO PAULO<br />
Autores: Araujo MS; Abreu MP; Pucci ND; Evazian D; Salimon CC; Gil IT<br />
Instituição: Divisão <strong>de</strong> Nutrição e Dietética do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP <strong>de</strong> São<br />
Paulo<br />
Objetivos<br />
I<strong>de</strong>ntificar a prevalência do risco nutricional na admissão <strong>de</strong> pacientes na Clínica Cirúrgica do Aparelho<br />
Digestivo <strong>em</strong> um hospital universitário na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo, aplicando-se um instrumento <strong>de</strong> triag<strong>em</strong><br />
nutricional.<br />
Materiais e métodos<br />
Realizou-se um estudo transversal, com 59 pacientes, no período <strong>de</strong> 20 <strong>de</strong> janeiro a 16 <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong><br />
2009. Foi aplicada triag<strong>em</strong> nutricional <strong>de</strong>nominada Nutritional Risk Screening (NRS-2002) <strong>em</strong> até 48 horas<br />
da internação, sendo que na pontuação final, um escore ≥ 3 indica que o paciente está <strong>em</strong> risco nutricional.<br />
Foi realizada avaliação do estado nutricional através do Índice <strong>de</strong> Massa Corpórea (IMC), on<strong>de</strong> os dados <strong>de</strong><br />
peso e altura foram coletados do prontuário do paciente. Para classificação do estado nutricional os<br />
resultados foram categorizados conforme a classificação da OMS (1998) para os pacientes adultos e<br />
SABE/OPAS (2002) para os pacientes idosos.<br />
Resultado<br />
Verificou-se que 32 (54,3%) eram mulheres e 27 (45,7%) homens. Foram i<strong>de</strong>ntificados 23 (39%) pacientes<br />
<strong>em</strong> risco nutricional, sendo que 13 (56,5%) apresentaram escore 3, 6 (26,1%) escore 4 e 4 (17,4%) escore<br />
5.<br />
Conclusão<br />
A i<strong>de</strong>ntificação da prevalência do risco nutricional, com a aplicação da NRS-2002, permite a intervenção<br />
nutricional precoce nestes pacientes que t<strong>em</strong> requerimento nutricional aumentado pela doença <strong>em</strong> si, pelo<br />
tratamento ou pela combinação <strong>de</strong> situações que impe<strong>de</strong>m a alimentação e aumentam o estresse<br />
metabólico.<br />
Unitermos<br />
<strong>Risco</strong> <strong>Nutricional</strong>. Triag<strong>em</strong> <strong>Nutricional</strong>. <strong>Desnutrição</strong>.<br />
IC8 - TRIAGEM NUTRICIONAL NA ADMISSÃO HOSPITALAR. VALE A PENA?<br />
Autores: Celano RMG; Candido GM; Mangialardo APC; Neto JE<br />
Instituição: Hospital São Lucas <strong>de</strong> Taubaté<br />
Objetivos<br />
Avaliar a incidência <strong>de</strong> triag<strong>em</strong> nutricional aplicada no Hospital São Lucas <strong>de</strong> Taubaté<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo prospectivo e observacional. Foram incluídos 4060 pacientes, adultos, <strong>de</strong> ambos os sexos, com<br />
ida<strong>de</strong> variando entre 14 e 100 anos, no período <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 2008 à fevereiro <strong>de</strong> 2009, internados no Hospital<br />
São Lucas <strong>de</strong> Taubaté, para tratamento clínico e cirúrgico. A triag<strong>em</strong> nutricional escolhida foi a <strong>Avaliação</strong><br />
Subjetiva Global (ASG) modificada e aplicada até 48h da internação hospitalar, pela Enfermag<strong>em</strong>. Foram<br />
excluídos os pacientes do Pronto Atendimento e da Maternida<strong>de</strong>. A Equipe <strong>de</strong> Enfermag<strong>em</strong> foi treinada pela<br />
Equipe Multidisciplinar <strong>de</strong> Terapia <strong>Nutricional</strong> (EMTN) por um período <strong>de</strong> 2 meses.
Resultado<br />
Da amostra estudada houve a realização da TN <strong>em</strong> 87,70% (n= 3561) dos pacientes internados e 12,30 %<br />
(n= 499) não foram avaliados por falta <strong>de</strong> a<strong>de</strong>são da Equipe <strong>de</strong> Enfermag<strong>em</strong>. Destes, 46,58% (n=1891)<br />
eram do sexo masculino e 53,42% (n=2169) do f<strong>em</strong>inino. A média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> foi <strong>de</strong> 58 ± 30. Dos pacientes<br />
triados, 5,33% (n=190) fizeram uso <strong>de</strong> alimentação enteral e 1,12% (n=40) supl<strong>em</strong>entação oral.<br />
Conclusão<br />
Há diversos métodos <strong>de</strong> TN na literatura internacional e no Brasil sobre qual é a melhor ferramenta a ser<br />
usada, entretanto, sabe-se que todas têm suas qualida<strong>de</strong>s, limitações, vantagens e <strong>de</strong>svantagens. Cabe à<br />
EMTN padronizar, treinar a equipe <strong>de</strong> saú<strong>de</strong> e, sobretudo <strong>de</strong>monstrar a importância dos benefícios <strong>de</strong>sta<br />
intervenção por meio <strong>de</strong> indicadores.<br />
Unitermos<br />
triag<strong>em</strong> nutricional, <strong>de</strong>snutrição, estado nutricional<br />
IC9 - APLICAÇÃO DE MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE RISCO NUTRICIONAL EM PACIENTES CRÍTICOS<br />
DE UTI DE PRONTO SOCORRO DE HOSPITAL PÚBLICO<br />
Autores: Silva AC; Brejion N; Pucci ND; Evazian D; Gil I<br />
Instituição: Divisão <strong>de</strong> Nutrição e Dietética do Instituto Central do Hospital das Clínicas - FMUSP<br />
Objetivos<br />
Avaliar a aplicação do instrumento “<strong>Avaliação</strong> <strong>de</strong> <strong>Risco</strong> <strong>Nutricional</strong> <strong>em</strong> Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Terapia Intensiva (UTI)”,<br />
comparada com albumina sérica e dados antropométricos.<br />
Materiais e métodos<br />
Realizada pesquisa <strong>de</strong>scritiva, do tipo transversal. A amostra foi constituída por 30 pacientes, com ida<strong>de</strong><br />
média <strong>de</strong> 53 anos (23- 85anos), internados nas UTIs <strong>de</strong> Emergências Médicas e Cirúrgicas do Pronto<br />
Socorro <strong>de</strong> um Hospital Escola Público, no mês <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2009. Foi aplicado o formulário adaptado para<br />
<strong>Avaliação</strong> <strong>de</strong> <strong>Risco</strong> <strong>Nutricional</strong> <strong>em</strong> UTI, coleta <strong>de</strong> dados sobre diagnóstico e dosag<strong>em</strong> da albumina sérica no<br />
prontuário, realizada estimativa <strong>de</strong> peso e altura através das medidas <strong>de</strong> altura do joelho e circunferência do<br />
braço e calculado o IMC.<br />
Resultado<br />
60% eram do sexo f<strong>em</strong>inino, 97% dos pacientes avaliados (23-60anos) apresentaram risco nutricional e<br />
100% dos idosos (>60anos) avaliados <strong>em</strong> risco; 75% dos pacientes com risco apresentaram albumina<br />
sérica abaixo dos valores <strong>de</strong> referência; pela classificação do IMC: 42,1% encontravam-se eutróficos, 31,6%<br />
<strong>em</strong> magreza grau I e II e 26,3% obesida<strong>de</strong>. O t<strong>em</strong>po médio para aplicação da avaliação foi <strong>de</strong> 15 minutos.<br />
Conclusão<br />
A avaliação é <strong>de</strong> fácil aplicação, i<strong>de</strong>ntificando precoc<strong>em</strong>ente os pacientes que encontram-se <strong>em</strong> risco<br />
nutricional, <strong>em</strong> comparação com antropometria e a dosag<strong>em</strong> <strong>de</strong> albumina sérica.<br />
Unitermos<br />
Método <strong>de</strong> avaliação. <strong>Risco</strong> nutricional. Paciente crítico.<br />
<strong>IC1</strong>0 - TAXA METABÓLICA BASAL: QUAL A MELHOR FÓRMULA?<br />
Autores: Garbugio TLS; Garbugio Filho V; Longo GZ; Yamada AN<br />
Instituição: CESUMAR - Centro Universitário <strong>de</strong> Maringá<br />
Objetivos<br />
A taxa metabólica basal (TMB) é o maior componente do gasto energético total diário, correspon<strong>de</strong>ndo à<br />
aproximadamente 60 a 70% do gasto energético total <strong>de</strong> um indivíduo. Várias fórmulas para estimar a TMB<br />
já foram propostas, sendo a <strong>de</strong> Harris & B<strong>em</strong>edict (1919) a mais antiga e mais conhecida. Outras fórmulas<br />
como a <strong>de</strong> Schofield (1985), FAO/WHO/UNU (1985) e Henry & Rees (1991), são amplamente referenciadas<br />
como padrão para o calculo das necessida<strong>de</strong>s energéticas basal. O propósito <strong>de</strong>ste estudo foi comparar a<br />
TMB <strong>de</strong> mulheres <strong>de</strong> 20 a 30 anos medidos por calorimetria indireta com as fórmulas proposta por Harris &<br />
Benedict (HB), FAO/WHO/UNU (FAO), Henry & Rees (HR) e Schofield.
Materiais e métodos<br />
A amostra compreen<strong>de</strong>u mulheres <strong>de</strong> 20 a 30 anos saudáveis, não gestantes ou lactantes, atendidas <strong>em</strong><br />
clinica particular <strong>de</strong> nutrição da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Maringá-Pr. Foram aferidos peso e altura e calculado o Índice <strong>de</strong><br />
Massa Corporal (IMC), sendo classificadas <strong>em</strong> eutrofia (IMC entre 14,5 e 24,9), sobrepeso (IMC entre 25 e<br />
29,9) e obesida<strong>de</strong> (IMC acima <strong>de</strong> 30). A calorimetria indireta foi mensurada <strong>em</strong> ambiente silencioso, no<br />
período da manhã (das 7 às 9 horas), <strong>em</strong> jejum <strong>de</strong> 12 horas, com t<strong>em</strong>peratura e pressão atmosférica<br />
calibrada, <strong>em</strong> aparelho Fitmate Pro (COSMED, 2006). Uma máscara <strong>de</strong>scartável foi fixada na região nasooral<br />
das mulheres estudas e conectado à calorimetria indireta, estando estas <strong>em</strong> <strong>de</strong>cúbito dorsal e repouso<br />
<strong>de</strong> 20 minutos. O volume <strong>de</strong> oxigênio foi medido durante 15 minutos com as pacientes <strong>de</strong>itadas, s<strong>em</strong><br />
movimentar-se, s<strong>em</strong> falar e s<strong>em</strong> dormir. O resultando da CI foi comparada com os das formulas <strong>de</strong> HB, da<br />
FAO, HR e Schofield e feito os percentuais <strong>de</strong> diferença entre os valores aferidos pela calorimetria e pelas<br />
equações preditivas, calculadas pela [(TMB estimada – TMB calorimetria)/TMB calorimetria] x 100. O<br />
tratamento estatístico foi feito pelo software Epi-Info, v. 6.04.<br />
Resultado<br />
O universo amostral foi <strong>de</strong> 30 mulheres com ida<strong>de</strong> média <strong>de</strong> 25,13 anos ±3,37 anos e IMC <strong>de</strong> 26,56 kg/m2<br />
±4,79kg/m2. A TMB medida por calorimetria indireta foi 1515,93 kcal/dia ±249,66 kcal/dia, enquanto que<br />
pelas fórmulas <strong>de</strong> HB, Schofield, FAO/WHO/UNU e Henry e Rees foram <strong>em</strong> média 1531,01 kcal/dia ±112,59<br />
kcal/dia; 1555,95 kcal/dia ±176,29 kcal/dia; 1557,85 kcal/dia ±174,50 kcl/dia; 1439,93 kcal/dia ±137,41<br />
kcal/dia, respectivamente. Pelo teste t <strong>de</strong> Stu<strong>de</strong>nt, comparando o método <strong>de</strong> calorimetria indireta com as<br />
fórmulas preditivas, nenhum dos métodos mostrou diferença estatística (p
um fator <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ante <strong>de</strong> diversas patologias, principalmente, cardiovasculares o que gera importância a<br />
este tipo <strong>de</strong> mensuração uma vez que, com o tratamento a<strong>de</strong>quado pós diagnóstico <strong>de</strong> sobrepeso/<br />
obesida<strong>de</strong> com dieta e perda pon<strong>de</strong>ral, consegue-se resultados positivos e até reversão <strong>de</strong>stes (Han et al,<br />
1995; Navarro et al ,2001; Souza et al, 2003; Pitanga & Lessa, 2005; Rosa et al, 2005; Carvalho Filho et al,<br />
2007; Jardim et al, 2007). Observou-se <strong>em</strong> conformida<strong>de</strong> com revisão <strong>de</strong> outros estudos que as mulheres<br />
também se beneficiam com o diagnóstico pelas circunferências uma vez que, ao contrário dos homens,<br />
ten<strong>de</strong>m ao maior acúmulo <strong>de</strong> gordura subcutânea até antes da menopausa (Pitanga & Lessa, 2005; Rosa et<br />
al, 2005; Hermsdorff & Monteiro, 2004).<br />
Conclusão<br />
Por ser<strong>em</strong> medidas s<strong>em</strong>elhantes, é necessário enten<strong>de</strong>r efetivamente as causas e conseqüências da<br />
obesida<strong>de</strong> central, a incidência <strong>em</strong> cada sexo e faixa etária e, optar por um <strong>de</strong>stas duas circunferências a<br />
fim <strong>de</strong> se evitar redundâncias e falsos resultados positivos/ negativos.<br />
Unitermos<br />
Obesida<strong>de</strong> central, circunferência, diagnóstico nutricional<br />
<strong>IC1</strong>2 - COMPARAÇÃO DA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA EM PACIENTES INTERNADOS POR<br />
INTERMÉDIO DE MÉTODOS ESTIMATIVOS E DIRETOS<br />
Autores: Yugue SF; I<strong>de</strong> HW; Tiengo A<br />
Instituição: Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Medicina <strong>de</strong> Itajubá<br />
Objetivos<br />
Validar a aplicação das fórmulas estimativas <strong>de</strong> peso e altura <strong>de</strong> pacientes acamados <strong>de</strong> acordo com sexo,<br />
faixa etária e estado nutricional, fazendo uma comparação das medidas estimadas com as reais, a fim <strong>de</strong><br />
colaborar para o aperfeiçoamento <strong>de</strong>sta prática pelos nutricionistas clínicos.<br />
Materiais e métodos<br />
O estudo foi realizado com 93 pacientes, sendo 15 crianças (6 a 18 anos), 52 adultos (19 a 60 anos) e 26<br />
idosos (60 anos ou mais), os quais foram submetidos à avaliação do peso e altura real através <strong>de</strong> uma<br />
balança com antropômetro e peso e altura estimados através <strong>de</strong> medidas obtidas com fita métrica. Para a<br />
estimativa da altura utilizou-se a fórmula <strong>de</strong> Chumlea et al (1994) através da altura do joelho, sendo<br />
utilizadas as medidas <strong>de</strong> circunferência do braço, circunferência da panturilha, dobra cutânea subescapular<br />
e altura do joelho através da fórmula <strong>de</strong> Chumlea et al (1988) para a estimativa do peso. Para a análise<br />
estatística utilizou-se o Teste t <strong>de</strong> Stu<strong>de</strong>nt com nível <strong>de</strong> significância <strong>de</strong> 5% (p < 0,05).<br />
Resultado<br />
O presente estudo revelou que quando comparadas as medidas reais <strong>de</strong> altura com as estimadas <strong>em</strong><br />
relação à faixa etária, houve diferença significativa <strong>em</strong> crianças (p = 0,02), sendo a altura subestimada <strong>em</strong><br />
1,6% <strong>em</strong> relação à altura real. Em relação a sexo observaram-se diferenças estatísticas significativas para<br />
crianças do sexo masculino (p=0,04), com a altura sendo subestimada <strong>em</strong> 1,5%. Em relação ao estado<br />
nutricional observaram-se diferenças significativas para crianças eutróficas (p=0,04), sendo a altura<br />
subestimada <strong>em</strong> 1,8% e para idosos eutróficos, tendo a altura superestimada <strong>em</strong> 2,2% (p=0,01). Notou-se<br />
ainda, gran<strong>de</strong> subestimativa da altura <strong>em</strong> crianças (3,6%) e adultos <strong>de</strong>snutridos (2,3%), porém s<strong>em</strong><br />
diferença estatística significativa (p=0,5 e p=0,25 respectivamente). Quando comparadas as medidas <strong>de</strong><br />
pesos reais com as estimadas <strong>em</strong> relação à faixa etária, houve diferenças estatísticas significativas para<br />
todas as faixas etárias com p variando entre 0,005 e 0,01, sendo o mesmo subestimado <strong>em</strong> 3,0% nos<br />
adultos e <strong>em</strong> 4,2% nos idosos. Em relação ao sexo observaram-se diferenças significativas <strong>em</strong> crianças do<br />
sexo f<strong>em</strong>inino, sendo o peso superestimado <strong>em</strong> 8,4% (p=0,01). Para adultos e idosos houve uma<br />
subestimativa do peso <strong>em</strong> ambos os sexos (p=0,05). Em relação ao estado nutricional houve diferença<br />
significativa para crianças obesas (p=0,04), sendo o peso superestimado <strong>em</strong> 12,9%. Em adultos e idosos<br />
obesos, o peso foi subestimado <strong>em</strong> 3,4% (p=0,01) e 7,5% (p=0,004) respectivamente. Essas diferenças são<br />
justificadas pela alteração na composição corporal nas diferentes faixas etárias e estado nutricional.<br />
Conclusão<br />
Com este estudo conclui-se que as equações para estimativa <strong>de</strong> peso e altura são confiáveis. Entretanto,<br />
<strong>de</strong>ve-se consi<strong>de</strong>rar a composição corporal, pois a mesma po<strong>de</strong> influenciar as medidas utilizadas nas<br />
fórmulas para estimativa <strong>de</strong> peso e altura, po<strong>de</strong>ndo alterar os cálculos <strong>de</strong> necessida<strong>de</strong>s nutricionais do<br />
paciente.
Unitermos<br />
antropometria, Chumlea, pacientes hospitalizados<br />
<strong>IC1</strong>3 - INGESTÃO DE CÁLCIO E SEUS LIMITANTES DE ABSORÇÃO ENTRE ADOLESCENTES DE<br />
UMA ESCOLA PÚBLICA<br />
Autores: da Silva AA; Tozzo C; Melo T<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> do Sul <strong>de</strong> Santa Catarina<br />
Objetivos<br />
Quantificar a ingestão <strong>de</strong> cálcio e seus limitantes <strong>de</strong> absorção entre adolescentes e <strong>de</strong>linear o perfil<br />
nutricional e associar com a ingestão <strong>de</strong> cálcio.<br />
Materiais e métodos<br />
Fizeram parte da amostra alunos matriculados <strong>em</strong> uma escola pública do município <strong>de</strong> Palhoça/SC, na faixa<br />
etária <strong>de</strong> 14 a 17 anos, <strong>de</strong> ambos os sexos. Coletou-se dados sócio-<strong>de</strong>mográficos por meio <strong>de</strong> um<br />
questionário estruturado, foi avaliada maturação sexual e classificada <strong>de</strong> acordo com os critérios <strong>de</strong> Tanner<br />
(1962) <strong>em</strong> pré-púbere, púbere e pós-púbere. A avaliação antropométrica foi realizada a partir da aferição <strong>de</strong><br />
peso e altura e cálculo do Índice <strong>de</strong> Massa Corpórea (IMC). A classificação do IMC foi realizada <strong>de</strong> acordo<br />
com os percentis e pontos <strong>de</strong> corte propostos pela Organização Mundial <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> (1995). O consumo<br />
alimentar e freqüência <strong>de</strong> consumo <strong>de</strong> cálcio e seus limitantes <strong>de</strong> absorção foi avaliado por meio <strong>de</strong><br />
recordatório <strong>de</strong> 24 horas e questionário <strong>de</strong> freqüência.<br />
Resultado<br />
Participaram da pesquisa 49 adolescentes, dos quais 69,39% apresentaram eutrofia, 26,53% baixo peso e<br />
4,08% sobrepeso. Todos os participantes foram classificados <strong>em</strong> pós-púberes. Entre os alunos participantes<br />
38,77% tinham renda per capita menor que um salário mínimo, 53,06% renda entre 1 e 2 salários e 8,16%<br />
entre 2 e 3 salários. A análise do recordatório <strong>de</strong> 24 horas e da freqüência <strong>de</strong> consumo permitiu i<strong>de</strong>ntificar<br />
que a média <strong>de</strong> ingestão calórica era <strong>de</strong> 2.838 kcal/dia, com baixo consumo e pouca variabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
produtos lácteos, sendo o leite integral a fonte <strong>de</strong> cálcio mais consumida. Entre os entrevistados 40%<br />
ingeriam um copo <strong>de</strong> 200ml aproximadamente duas vezes ao dia, enquanto outros 19% relataram consumir<br />
ao menos uma vez ao dia. A análise dos dados <strong>de</strong>monstrou que 83,67% dos alunos ingeriram alimentos que<br />
continham limitantes <strong>de</strong> absorção <strong>de</strong> cálcio, como chocolate, café e refrigerantes, s<strong>em</strong>pre associados a<br />
fontes <strong>de</strong> cálcio. A ingestão média do mineral entre os adolescentes estudados foi <strong>de</strong> 973,03 mg/dia, valor<br />
abaixo do recomendado (1.300mg/dia - DRI, 2002). Apenas 18,37% dos estudantes apresentavam consumo<br />
a<strong>de</strong>quado, dos quais 44,44% apresentaram eutrofia e 55,55 % baixo peso, vale ressaltar que não houve<br />
diagnóstico <strong>de</strong> excesso <strong>de</strong> peso nesse grupo. Já os adolescentes com sobrepeso ingeriram <strong>em</strong> média 280,<br />
70 mg/dia <strong>de</strong> cálcio. Os adolescentes que pertenciam a famílias com renda per capita entre um a dois<br />
salários mínimos apresentaram um consumo médio <strong>de</strong> cálcio <strong>de</strong> 919,10mg/dia, resultado menor quando<br />
comparado com as famílias com maior renda.<br />
Conclusão<br />
O distúrbio nutricional <strong>de</strong> maior prevalência foi o baixo peso seguido do sobrepeso. Verificou-se ingestão<br />
insuficiente <strong>de</strong> cálcio e alta <strong>de</strong> limitantes <strong>de</strong> absorção do mineral, vale ressaltar que os limitantes <strong>de</strong><br />
absorção estavam s<strong>em</strong>pre associados a alimentos fonte <strong>de</strong> cálcio. A média <strong>de</strong> ingestão <strong>de</strong> cálcio foi menor<br />
nos adolescentes com excesso <strong>de</strong> peso, tendência já <strong>de</strong>monstrada <strong>em</strong> trabalhos nacionais e internacionais.<br />
Unitermos<br />
adolescentes, obesida<strong>de</strong>, cálcio, limitantes <strong>de</strong> absorção <strong>de</strong> cálcio<br />
<strong>IC1</strong>4 - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA PACIENTES DA PEDIATRIA E ACOMPANHANTES DE<br />
PACIENTES INTERNADOS EM HOSPITAL PÚBLICO DE CARDIOLOGIA EM RECIFE-PE<br />
Autores: Lins RAG; Damásio A<br />
Instituição: PROCAPE<br />
Objetivos<br />
Conscientizar através da educação nutricional para a importância <strong>de</strong> uma alimentação saudável,<br />
estimulando o consumo <strong>de</strong> frutas e verduras pelas crianças e acompanhantes. Aproveitar o período <strong>de</strong><br />
internação hospitalar para transmitir conhecimentos e estimular hábitos saudáveis.
Materiais e métodos<br />
A importância da alimentação saudável é primordial para a promoção, manutenção e recuperação da saú<strong>de</strong><br />
e para a prevenção e controle <strong>de</strong> doenças crônicas não transmissíveis.A educação nutricional t<strong>em</strong> um papel<br />
importante <strong>em</strong> relação à promoção <strong>de</strong> hábitos alimentares saudáveis <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a infância. Foi utilizada a forma<br />
<strong>de</strong> representação com arte-educação teatral como técnica <strong>de</strong> abordag<strong>em</strong> para pacientes da pediatria e os<br />
acompanhantes dos pacientes hospitalizados. A peça foi apresentada na área <strong>de</strong> recreação da pediatria e<br />
no refeitório no horário do almoço dos acompanhantes.Foi utilizado fantoche sobre a importância das frutas<br />
e verduras como fontes <strong>de</strong> vitaminas e minerais para a saú<strong>de</strong>. Após a representação teatral, proce<strong>de</strong>u-se<br />
com um pequeno <strong>de</strong>bate com as crianças e a distribuição <strong>de</strong> um lanche saudável. Houve boa interação,<br />
com respostas positivas <strong>em</strong> que consolidavam a proposta do trabalho e solidificavam a aprendizag<strong>em</strong> pelas<br />
crianças e acompanhantes.<br />
Resultado<br />
Após a encenação teatral realizou-se <strong>de</strong>bate com perguntas e respostas que <strong>de</strong>monstravam o envolvimento<br />
das crianças no processo <strong>de</strong> aprendizag<strong>em</strong>. Ao ser oferecido lanche saudável, escolhiam frutas e alimentos<br />
que trariam benefícios para a saú<strong>de</strong>. Respondiam também que alimento era fonte <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminada vitamina.<br />
Conclusão<br />
Diante do exposto, concluímos que a educação nutricional po<strong>de</strong> e <strong>de</strong>ve ser feita s<strong>em</strong>pre que<br />
possível.Aproveitar o momento <strong>de</strong> internação hospitalar para transmitir conceitos saudáveis é uma das<br />
técnicas multiplicadoras <strong>de</strong> hábitos saudáveis. Não há momento n<strong>em</strong> local certo para educar. A<br />
oportunida<strong>de</strong> é impar e não <strong>de</strong>v<strong>em</strong>os <strong>de</strong>sperdiça-la. Aproveitar crianças internadas e acompanhantes para<br />
transmitir conhecimentos é uma forma dinâmica, criativa e <strong>de</strong>scontraída <strong>de</strong> levar a comunida<strong>de</strong> a participar<br />
efetivamente do processo <strong>de</strong> saú<strong>de</strong> doença transformando-os <strong>em</strong> agentes multiplicadores <strong>de</strong> informação.<br />
Unitermos<br />
Educação nutricional para crianças internadas, através do uso <strong>de</strong> peça teatral(fantoche).<br />
<strong>IC1</strong>5 - FATORES QUE CAUSAM A HIPERCOLESTEROLEMIA EM CRIANÇAS<br />
Autores: Marquêz CM; Rodrigues CMA; Oliveira LRPN; Denicoli LM<br />
Instituição: Centro Universitário do Espirito Santo-UNESC<br />
Objetivos<br />
Devido à hipercolesterol<strong>em</strong>ia ser um gran<strong>de</strong> probl<strong>em</strong>a <strong>de</strong> saú<strong>de</strong> publica, o estudo teve como meta geral<br />
verificar alguns fatores que po<strong>de</strong>m influenciar o aparecimento da hipercolesterol<strong>em</strong>ia <strong>em</strong> crianças<br />
Materiais e métodos<br />
Para alcançar o objetivo traçado, foi realizada uma pesquisa com crianças, com ida<strong>de</strong> entre 5 a 12 anos,<br />
que foram atendidas <strong>em</strong> consulta nutricional. No primeiro momento da pesquisa, foi realizada avaliação<br />
antropométrica, utilizando-se para classificação do estado nutricional a tabela do NCHS. Também foram<br />
observados os exames laboratoriais apresentados pelas crianças nas consultas, para verificação do perfil<br />
lipídico, e por fim foi aplicado um questionário para conhecer seus hábitos alimentares e seus estilos <strong>de</strong><br />
vida.<br />
Resultado<br />
Após o termino da pesquisa, constatou-se que 89% das crianças eram obesas e a maior parte <strong>de</strong> seus<br />
familiares apresentavam a taxa <strong>de</strong> colesterol elevada. Os hábitos alimentares da maior parte da amostra<br />
eram ina<strong>de</strong>quados, com gran<strong>de</strong> consumo <strong>de</strong> alimentos industrializados, rico <strong>em</strong> gordura trans. O azeite<br />
extra virg<strong>em</strong> não era utilizado para preparações das refeições. A prática <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> física foi relatada por<br />
55% da amostra, realizada na maioria das vezes na aula <strong>de</strong> educação física feita na escola. Todas as<br />
crianças foram amamentadas no seio materno, porém 88,9% tiveram um <strong>de</strong>smame precoce. A alimentação<br />
compl<strong>em</strong>entar foi iniciada antes dos seis meses <strong>de</strong> vida pela maior parte das crianças <strong>em</strong> estudo.<br />
Conclusão<br />
Analisados <strong>em</strong> conjunto os dados obtidos, percebeu-se a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma intervenção nutricional e<br />
prevenção pediátrica, para evitar futuras doenças e também a gran<strong>de</strong> importância da nutrição na prevenção<br />
e no tratamento da hipercolesterol<strong>em</strong>ia, uma vez que a alimentação é uma das principais causas da<br />
elevação do LDL-C. Bons hábitos alimentares <strong>de</strong>v<strong>em</strong> iniciar na infância e ser mantidos por toda a vida, eles<br />
traz<strong>em</strong> benefícios à saú<strong>de</strong>, prevenindo e tratando as doenças.
Unitermos<br />
hipercolesterol<strong>em</strong>ia, obesida<strong>de</strong> infantil, LDL-Colesterol, doenças cardiovasculares<br />
<strong>IC1</strong>6 - CONCENTRAÇÕES PLASMÁTICAS DE VITAMINAS A E E EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES<br />
OBESOS<br />
Autores: Bacan APA; Sarni ROS; Souza FIS; Fonseca FLA; Miranda RB; Hix S<br />
Instituição: Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Medicina do ABC<br />
Objetivos<br />
Avaliar, <strong>em</strong> crianças e adolescentes obesos, as concentrações plasmáticas <strong>de</strong> vitamina A (retinol, betacaroteno<br />
e licopeno), vitamina E e relacioná-las com o perfil lipídico, resistência insulínica, glic<strong>em</strong>ia,<br />
proteína-C-reativa, vasodilatação endotélio-induzida e espessura do complexo-médio-intimal.<br />
Materiais e métodos<br />
Por meio <strong>de</strong> estudo transversal avaliou-se 33 crianças e adolescentes com obesida<strong>de</strong> exógena (percentil do<br />
índice <strong>de</strong> massa corporal, CDC 2000 > 95). Destes foram obtidos: níveis plasmáticos <strong>de</strong> vitaminas A e E<br />
(HPLC); perfil lipídico (LDL-c, HDL-c e triglicerídios); teste <strong>de</strong> tolerância oral à glicose (TTOG), glic<strong>em</strong>ia <strong>de</strong><br />
jejum, proteína-C-reativa ultrasensível, ultrassonografia doppler para avaliação da vasodilatação endotélio<br />
induzida (30, 60 e 90 segundos) e espessamento médio-intimal das carótidas. Análise estatística: testes do<br />
qui-quadrado e Mann-Whitney.<br />
Resultado<br />
A mediana <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> dos pacientes avaliados foi <strong>de</strong> 11 anos (5;15); 17/33 (51,5%) do sexo masculino e 13/33<br />
(39,4%) pré-púberes. Nenhuma criança tinha TTOG alterado. Não foram observados valores ina<strong>de</strong>quados<br />
<strong>em</strong> relação ao retinol. Em relação ao beta-caroteno, licopeno e alfa-tocoferol encontrou-se 27,3%; 15,2% e<br />
42,4% <strong>de</strong> ina<strong>de</strong>quação, respectivamente. Não se encontrou associação entre níveis ina<strong>de</strong>quados <strong>de</strong> betacaroteno,<br />
licopeno e alfa-tocoferol com alterações do perfil lipídico, proteína-C-reativa, vasodilatação<br />
endotélio-induzida (30, 60 e 90s) e espessura do complexo médio-intimal. Glic<strong>em</strong>ia <strong>de</strong> jejum < 100 mg/dL<br />
associou-se com níveis a<strong>de</strong>quados <strong>de</strong> beta-caroteno (<strong>Risco</strong> relativo = 0,11; IC 95% 0,02 – 0,73; p = 0,005).<br />
Conclusão<br />
Encontramos elevado percentual <strong>de</strong> ina<strong>de</strong>quação <strong>de</strong> vitamina E na população estudada que não se<br />
associou com alterações no perfil lipídico, inflamação e lesão endotelial. Níveis a<strong>de</strong>quados <strong>de</strong> beta-caroteno<br />
po<strong>de</strong>m estar associados a proteção contra alterações glicêmicas.<br />
Unitermos<br />
Crianças, Obesida<strong>de</strong>, Vitaminas A e E<br />
<strong>IC1</strong>7 - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO DE<br />
PEDIATRIA DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DO RECIFE-PE<br />
Autores: Lima CR; Silva CS; Ferreira ALL; Ponzi FKAX; Ferreira VM; Klauck CF<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pernambuco - Departamento <strong>de</strong> Nutrição<br />
Objetivos<br />
Comparar o resultado da avaliação nutricional <strong>de</strong> crianças <strong>de</strong> 0 a 5 anos por meio <strong>de</strong> dois padrões <strong>de</strong><br />
referência: NCHS 1977 e ANTRO-OMS 2007 (ANTRO 2007).<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo <strong>de</strong> corte transversal com uma amostra <strong>de</strong> 56 pacientes com ida<strong>de</strong> entre 0 e 5 anos atendidos <strong>em</strong><br />
ambulatório <strong>de</strong> pediatria <strong>de</strong> uma instituição pública da cida<strong>de</strong> do Recife-PE, on<strong>de</strong> os dados coletados: peso<br />
(kg), altura (cm) e ida<strong>de</strong> (meses) serviram para a avaliação nutricional a qual foi realizada através do<br />
softwares Epi-info versão 6.04 (NCHS 1977) e ANTRO – OMS 2007 (Antro 2007) com a classificação <strong>em</strong><br />
score Z nos indicadores Peso/Ida<strong>de</strong> (P/I), Altura/Ida<strong>de</strong> (A/I) e Peso/Altura (P/A). Para o estudo comparativo<br />
dos dois resultados foi utilizado o teste do Qui-quadrado convencional com correção <strong>de</strong> Yates, processados<br />
no Epi-info versão 6.04.<br />
Resultado
Dos pacientes que compuseram o estudo foi observada uma freqüência <strong>de</strong> 12,5% e 21,4% para <strong>de</strong>snutrição<br />
e 10,7% e 1,8% para excesso <strong>de</strong> peso nos indicadores P/A e A/I, respectivamente, <strong>de</strong> acordo com a<br />
classificação do NCHS 1977. Assim como foi encontrado valores <strong>de</strong> 15,8% e 17,5% para <strong>de</strong>snutrição 12,3%<br />
e 8,8% para excesso <strong>de</strong> peso nos indicadores P/A e A/I, respectivamente, <strong>de</strong> acordo com o ANTRO 2007.<br />
Não houve diferença estatisticamente significante no estudo comparativo das crianças avaliadas pelo NCHS<br />
1977 e pelo ANTRO 2007 para os indicadores Peso/Ida<strong>de</strong> (p=0,2053), Altura/Ida<strong>de</strong> (p=0,4833) e<br />
Peso/Altura (p=0,1123).<br />
Conclusão<br />
Apesar do relatado na literatura, esse estudo não encontrou diferença entre os dois padrões <strong>de</strong> avaliação<br />
nutricional, o que talvez tenha ocorrido pelo número amostral reduzido, mas que não inviabiliza o uso do<br />
NCHS 1977 quando o ANTRO 2007 não estiver disponível.<br />
Unitermos<br />
<strong>Avaliação</strong> nutricional, crianças, indicadores antropométricos, padrões <strong>de</strong> referência<br />
<strong>IC1</strong>8 - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM<br />
AMBULATORIALMENTE EM UMA CLÍNICA POPULAR DA CIDADE DO RECIFE-PE<br />
Autores: Ferreira VM; Ferreira ALL; Lima CR; Ponzi FKAX; Simões MP; Cabral PC<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pernambuco - Departamento <strong>de</strong> Nutrição<br />
Objetivos<br />
Avaliar o estado nutricional <strong>de</strong> crianças e adolescentes atendidos ambulatorialmente <strong>em</strong> uma clínica popular<br />
da cida<strong>de</strong> do Recife-PE.<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo <strong>de</strong> corte transversal, com coleta <strong>de</strong> dados realizada através <strong>de</strong> fichas <strong>de</strong> avaliação nutricional <strong>de</strong> 84<br />
pacientes entre 2 e 19 anos, on<strong>de</strong> foram coletados: peso (Kg), altura (m) e patologia principal. Para a<br />
avaliação do estado nutricional foi utilizado o Índice <strong>de</strong> Massa Corporal (IMC) com classificação <strong>de</strong> Cole TJ,<br />
200 para sobrepeso e obesida<strong>de</strong> e Cole TJ, 2007 para baixo peso.<br />
Resultado<br />
A amostra apresentou ida<strong>de</strong> média <strong>de</strong> 6,6 anos ± 2,3DP (crianças) e 15,8 ± 2,9DP (adolescentes), sendo<br />
59,5% do sexo f<strong>em</strong>inino. O IMC apresentou as seguintes distribuições: 38,2% <strong>de</strong> obesida<strong>de</strong>, 26,5% <strong>de</strong><br />
sobrepeso e 8,8% <strong>de</strong> baixo peso para meninos; e 36,0% <strong>de</strong> obesida<strong>de</strong>, 28,0% <strong>de</strong> sobrepeso e 16,0% <strong>de</strong><br />
baixo peso para meninas. Não houve diferença estatisticamente significante quanto a classificação<br />
nutricional entre os sexos (p=0,7493). Em relação à patologia principal foi verificado que a maior procura<br />
pelo atendimento ambulatorial se <strong>de</strong>u pelo excesso <strong>de</strong> peso (64,2%) e baixo peso (24,5%), <strong>em</strong> ambos os<br />
sexos.<br />
Conclusão<br />
Partindo-se dos resultados obtidos no estudo, po<strong>de</strong>-se verificar que a prevalência <strong>de</strong> excesso <strong>de</strong> peso <strong>em</strong><br />
meninos foi 7,3 vezes maior do que baixo peso e 4 vezes maior <strong>em</strong> meninas, mostrando que o perfil do<br />
atendimento ambulatorial mudou nos últimos anos <strong>em</strong> <strong>de</strong>corrência da transição nutricional que hoje já afeta<br />
crianças e adolescentes.<br />
Unitermos<br />
Atendimento ambulatorial, crianças, adolescentes, estado nutricional, excesso <strong>de</strong> peso<br />
<strong>IC1</strong>9 - ESTUDO COMPARATIVO DOS PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS DE CLASSIFICAÇÃO<br />
NUTRICIONAL DE PRÉ-ESCOLARES EM JOINVILLE -SC<br />
Autores: Coelho LM; Avi F<br />
Instituição: Bom Jesus/IELUSC<br />
Objetivos<br />
O objetivo <strong>de</strong>ssa pesquisa foi comparar os parâmetros antropométricos <strong>de</strong> classificação nutricional<br />
Organização Mundial da Saú<strong>de</strong> (OMS) e National Center for Healf Statistics (NCHS) e avaliar o t<strong>em</strong>po <strong>de</strong><br />
Aleitamento Materno Exclusivo e a introdução da alimentação compl<strong>em</strong>entar; correlacionando ao estado
nutricional <strong>de</strong> pré-escolares e escolares que estudam <strong>em</strong> um Centro <strong>de</strong> Educação Infantil particular <strong>de</strong><br />
Joinville (SC).<br />
Materiais e métodos<br />
Para esse estudo, foram analisadas 201 crianças, <strong>de</strong>ntre elas 106 meninas e 95 meninos; sendo utilizados<br />
gráficos das curvas <strong>de</strong> crescimento dos padrões <strong>de</strong> referência OMS e NCHS. As crianças foram<br />
classificados conforme a classificação dos índices peso/estatura, estatura/ida<strong>de</strong> e peso/ida<strong>de</strong>.<br />
Resultado<br />
Detectou-se nos resultados uma diferença estatisticamente significativa na classificação para peso/estatura<br />
e estatura/ida<strong>de</strong> entre os dois padrões <strong>de</strong> referência (p < 0,05); além da OMS (2005) mostrar uma tendência<br />
à superestimar estes valores. Na avaliação do t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> AME e introdução da alimentação compl<strong>em</strong>entar,<br />
correlacionando o estado nutricional das crianças, não <strong>de</strong>monstrou correlação estatística. Conforme os<br />
resultados obtidos no estudo e <strong>de</strong> outras pesquisas conduzidas pela OMS, ambas apontam que as novas<br />
curvas são capazes <strong>de</strong> <strong>de</strong>tectar crianças <strong>em</strong> risco <strong>de</strong> comprometimento estatural e obesida<strong>de</strong> antes que as<br />
curvas do NCHS mostr<strong>em</strong> qualquer sinal <strong>de</strong> <strong>de</strong>svio nutricional, o que po<strong>de</strong> aumentar as chances <strong>de</strong><br />
recuperação do estado nutricional <strong>de</strong>ssas crianças.<br />
Conclusão<br />
Os dados encontrados relativos à prevalência <strong>de</strong> risco <strong>de</strong> sobrepeso e sobrepeso são importantes, pois se<br />
essa situação <strong>de</strong> acúmulo <strong>de</strong> peso persistir até a fase adulta, certamente esses adultos trarão ônus para os<br />
serviços <strong>de</strong> saú<strong>de</strong>, consi<strong>de</strong>rando o surgimento <strong>de</strong> diversas doenças crônicas associadas ao excesso <strong>de</strong><br />
peso e que requer<strong>em</strong> tratamentos constantes, além <strong>de</strong> probl<strong>em</strong>as psicológicos e <strong>de</strong> socialização que<br />
possam advir.<br />
Unitermos<br />
Antropometria, Curvas <strong>de</strong> Crescimento, Estado <strong>Nutricional</strong><br />
IC20 - COMPARAÇÃO DE MÉTODOS ANTROPOMÉTRICOS NO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE<br />
ESCOLARES DE UMA ESCOLA PRIVADA DE OURO PRETO, MG<br />
Autores: Fajardo VC; Domingos ALG; Freitas SN<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Ouro Preto<br />
Objetivos<br />
Comparar três métodos <strong>de</strong> classificação antropométrica para o diagnóstico <strong>de</strong> obesida<strong>de</strong> entre escolares <strong>de</strong><br />
uma escola privada <strong>de</strong> Ouro Preto, MG.<br />
Materiais e métodos<br />
a amostra foi composta por 155 escolares da faixa etária <strong>de</strong> 7 a 11 anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>, presentes no dia da<br />
coleta e autorizados pelos pais a participar do estudo. A massa corporal (kg) foi obtida <strong>em</strong> balança digital<br />
TANITA® e para a medição da estatura utilizou-se o estadiômetro <strong>de</strong> plataforma ALTURAEXATA®. A<br />
Gordura Corporal (GC) foi estimada por Impedância Bioelétrica (IB) fornecida pela balança TANITA® e pelas<br />
Pregas Cutâneas (PC)triciptal e subescapular por meio da fórmula <strong>de</strong> SLAUGHTER et. al (1988). As dobras<br />
cutâneas foram aferidas pelo adipômetro CESTOFF® <strong>de</strong> acordo com LOHMAN, 1992. O índice <strong>de</strong> massa<br />
corpórea (IMC) foi classificado <strong>de</strong> acordo com a ida<strong>de</strong> e sexo, a partir do padrão <strong>de</strong> referência da World<br />
Health Organization 2007. Adotando-se os percentis
obesida<strong>de</strong>/sobrepeso neste grupo <strong>de</strong> escolares. No entanto, ao se comparar os métodos <strong>de</strong> estimativa da<br />
gordura corporal não se observou diferença significativa entre os mesmos (p=0,07).<br />
Conclusão<br />
A obesida<strong>de</strong> se caracteriza pelo acúmulo excessivo <strong>de</strong> gordura corporal (CUPPARI, 2005), Estudos<br />
mostram que, a ocorrência <strong>de</strong> doenças está associada ao aumento <strong>de</strong> gordura corporal nos diferentes<br />
ciclos da vida, e como IMC é um método indireto, no qual não há como se diferenciar os compartimentos <strong>de</strong><br />
gordura e massa magra, <strong>de</strong>ve-se promover mais estudos buscando o melhor método diagnóstico <strong>de</strong><br />
obesida<strong>de</strong> para esta faixa etária, já que este método possivelmente po<strong>de</strong> gerar um gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> falsopositivos.<br />
Unitermos<br />
antropometria, crianças, estado nutricional<br />
IC21 - INFLUÊNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL E COMPLICAÇÕES MATERNAS NO NASCIMENTO<br />
PREMATURO<br />
Autores: Silva CP; Pinto ICS; Falcão KVW<br />
Instituição: Instituto <strong>de</strong> Medicina Integral Professor Fernando Figueira<br />
Objetivos<br />
Avaliar influência do estado nutricional e complicações maternas no nascimento pr<strong>em</strong>aturo<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo transversal, <strong>de</strong>senvolvido com mães <strong>de</strong> recém nascidos pr<strong>em</strong>aturos (RNPT), alojadas na enfermaria<br />
do Programa Mãe Canguru do IMIP. As variáveis <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes foram: peso ao nascer (PN) e ida<strong>de</strong><br />
gestacional (IG). As variáveis in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes foram: ida<strong>de</strong> da mãe; peso, altura e IMC pré gestacional;<br />
variação <strong>de</strong> peso materno durante a gestação. Foi também registrada a ocorrência vulvovaginite, doença<br />
hipertensiva específica da gestação (DHEG), doenças infecto-contagiosas (DIC) e infecção do trato urinário<br />
(ITU), ameaça <strong>de</strong> trabalho <strong>de</strong> parto (TP) e aborto. Foram coletados o número <strong>de</strong> consultas no pré-natal, tipo<br />
<strong>de</strong> parto e a parida<strong>de</strong> das mães.<br />
Resultado<br />
Foram avaliadas 123 mães com média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 24,9 ± 7,09 anos. Houve predomínio <strong>de</strong> primíparas e<br />
<strong>de</strong>ntre as multíparas, 32,7% tinham história <strong>de</strong> filhos pr<strong>em</strong>aturos. Não foi predominante episódios <strong>de</strong> aborto<br />
anterior. Houve predomínio <strong>de</strong> parto cesariano. Foi observado que 64,2% das gestantes realizaram até 5<br />
consultas pré-natal e apenas 30,9% com 6 ou mais consultas durante as gestações. Foi encontrado 36,6%<br />
e 14% mulheres com peso abaixo <strong>de</strong> 50 kg e estatura inferior a 150 cm, respectivamente. A maioria das<br />
mulheres eram eutróficas e 34,4% <strong>de</strong>stas tinham excesso <strong>de</strong> peso no período pré-gestacional. Durante o<br />
período gestacional houve uma maior freqüência <strong>de</strong> mulheres com ganho <strong>de</strong> peso igual ou menor a 10 kg e<br />
30% <strong>de</strong>las per<strong>de</strong>ram peso durante a gestação. Não foi encontrada diferença entre a média <strong>de</strong> PN e a IG<br />
com as variáveis antropométricas maternas (p>0,05). A vulvovaginite foi à patologia mais freqüente nas<br />
mulheres estudadas. As mulheres que apresentaram vulvovaginite e tiveram ameaça <strong>de</strong> aborto durante a<br />
gestação tiveram filhos com menor IG e aquelas que contraíram ITU tiveram filhos com menor PN (p
Avaliar as diferenças antropométricas entre sexos <strong>em</strong> recém-nascidos pr<strong>em</strong>aturos.<br />
Materiais e métodos<br />
Foi realizado um estudo do tipo transversal, incluindo recém-nascidos pr<strong>em</strong>aturos (RNPT) <strong>de</strong> ambos os<br />
sexos, com peso inferior 2500g, nascidos no período <strong>de</strong> Fevereiro a Maio <strong>de</strong> 2008. Para avaliação<br />
antropométrica foram coletadas do prontuário as variáveis: peso ao nascer (PN), comprimento (C),<br />
perímetro cefálico (PC) e perímetro torácico (PT). Posteriormente foram calculados os índices<br />
antropométricos: índice pon<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Rohrer (IP) (peso/comprimento3 x 100), o qual classifica os RN <strong>em</strong><br />
<strong>de</strong>sproporcionados quando IP 2,51 e o índice <strong>de</strong> massa corpórea<br />
(IMC) (peso/comprimento2). As variáveis contínuas foram testadas quanto à normalida<strong>de</strong> e expressas <strong>em</strong><br />
média e <strong>de</strong>svio padrão ou mediana e intervalo interquartílico, se apresentass<strong>em</strong> distribuição normal ou não<br />
normal, respectivamente.<br />
Resultado<br />
Foram estudados 252 RNPT, sendo 133 (53,1%) do sexo f<strong>em</strong>inino. A mediana <strong>de</strong> PN foi <strong>de</strong> 2043g (IQ:<br />
1890-1432g) e a IG média foi <strong>de</strong> 33,9 + 3,9 s<strong>em</strong>anas. Em relação ao PN, 21 (8,3%) RN apresentaram ≤<br />
1000g; 49 (19,4%) entre 1001 a 1500g; e 182 (72,2%) > 1500g. Sobre o IP, 130 (55,6%) apresentaram-se<br />
<strong>de</strong>sproporcionados. A mediana <strong>de</strong> PN do sexo masculino, 2020g (IQ: 1520-2840g) foi maior que a do sexo<br />
f<strong>em</strong>inino, 1850g (IQ: 1310-2430) (p
portadores faz<strong>em</strong> uso <strong>de</strong> medicamentos contínuos, sendo esses medicamentos para probl<strong>em</strong>as cardíacos e<br />
hipotireoidismo. Os resultados mostraram também que apenas 6,3% do portadores <strong>de</strong> SD apresentavam<br />
alguma intolerância alimentar. Em relação ao hábito intestinal verificou-se prevalência <strong>de</strong> 12,5% <strong>de</strong><br />
constipação intestinal, sendo 9,4% dos portadores com freqüência menor que 3 vezes na s<strong>em</strong>ana e 6,3%<br />
com 2 vezes na s<strong>em</strong>ana.<br />
Conclusão<br />
Ao contrário do que é citado na literatura e <strong>em</strong> estudos com a população <strong>de</strong> SD que relatam maior<br />
prevalência <strong>de</strong> sobrepeso e obesida<strong>de</strong> nessa população, <strong>em</strong> nosso estudo foi observado índice elevado <strong>de</strong><br />
déficit pôn<strong>de</strong>ro-estatural, principalmente baixo peso, e menor prevalência <strong>de</strong> sobrepeso. Po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar<br />
as condições financeiras <strong>de</strong>sta população, que apresentavam uma baixa renda e condições precárias para<br />
alimentação e custo <strong>de</strong> vida, como possíveis fatores relacionados aos resultados encontrados.<br />
Unitermos<br />
Síndrome <strong>de</strong> Down, epi<strong>de</strong>miologia, estado nutricional<br />
IC24 - LEITE HUMANO: CONTEÚDO DE ÁCIDOS GRAXOS E A RELAÇÃO COM A COMPOSIÇÃO<br />
CORPORAL MATERNA<br />
Autores: Cabrini D; Costa AGV; Sabarense CM; Franceschini SCC<br />
Instituição: UFV<br />
Objetivos<br />
Os objetivos <strong>de</strong>sse trabalho foram <strong>de</strong>terminar o conteúdo médio <strong>de</strong> ácidos graxos presente no leite humano<br />
e verificar o efeito da composição corporal da nutriz na sua composição <strong>de</strong> ácidos graxos.<br />
Materiais e métodos<br />
O estudo realizado foi do tipo prospectivo, com acompanhamento <strong>de</strong> 33 mulheres durante os primeiros 3<br />
meses pós-parto. Foram realizadas entrevista, avaliação <strong>de</strong> peso, estatura, circunferências da cintura e do<br />
quadril e composição corporal por bioimpedância elétrica no pós-parto imediato e aos 7, 30, 60 e 90 dias.<br />
Além disso, amostras <strong>de</strong> leite humano foram coletadas e o conteúdo <strong>de</strong> ácidos graxos foi <strong>de</strong>terminado por<br />
cromatografia à gás. Foram utilizados os testes <strong>de</strong> correlação <strong>de</strong> Pearson e o teste t. O nível <strong>de</strong> rejeição<br />
para a hipótese <strong>de</strong> nulida<strong>de</strong>, para todos os testes aplicados, foi <strong>de</strong> 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê<br />
<strong>de</strong> Ética <strong>em</strong> Pesquisas com Seres Humanos da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Viçosa.<br />
Resultado<br />
O conteúdo <strong>de</strong> ácidos graxos saturados (41%) e <strong>de</strong> monoinsaturados (30,5%) foi menor, o <strong>de</strong> ômega 3 foi<br />
s<strong>em</strong>elhante (1,5%) e o <strong>de</strong> ômega 6 foi maior (25%) do que os <strong>de</strong>scritos pela literatura. O conteúdo <strong>de</strong> ácido<br />
palmítico (C16:0) no leite humano apresentou correlação fraca, porém significante, com as circunferências<br />
do quadril (r=0,37) e da cintura (r=0,37) e IMC (r=0,38). Em mulheres que apresentaram os valores <strong>de</strong><br />
circunferência do quadril e da cintura superiores à mediana da amostra foram encontrados teores mais<br />
elevados <strong>de</strong> C16:0. O conteúdo <strong>de</strong> ácido eicosatrienóico (C20:3n3) apresentou correlação com o IMC<br />
(r=0,44) e com o IMCG (r=0,44). Em mulheres que apresentaram os valores <strong>de</strong> IMC, percentual <strong>de</strong> gordura,<br />
∆IMC e ∆circunferência do quadril elevados foram encontradas quantida<strong>de</strong>s maiores <strong>de</strong> C20:3n3. Os<br />
percentuais dos produtos poliinsaturados dos ácidos graxos essenciais no leite humano <strong>de</strong>monstraram a<br />
mobilização <strong>de</strong>stes ácidos graxos <strong>em</strong> <strong>de</strong>trimento <strong>de</strong> outros. As mulheres que apresentaram maior perda <strong>de</strong><br />
gordura corporal aos 90 dias pós-parto apresentaram maiores quantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ácidos graxos poliinsaturados<br />
no leite humano. Nesse estudo, foram encontradas correlações entre as modificações <strong>de</strong> composição<br />
corporal materna e o ácido eicosatrienóico (C20:3n3), produto do ácido linoléico, proveniente<br />
essencialmente da dieta. Por outro lado, não foi encontrada correlação com o conteúdo <strong>de</strong> poliinsaturados<br />
ômega 6, lipídio predominante no tecido adiposo materno.<br />
Conclusão<br />
Esses dados reforçam a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> acompanhamento dietético <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o início do pré-natal, visto que a<br />
ingestão <strong>de</strong> lipídios da gestante t<strong>em</strong> influência tanto na composição dos ácidos graxos presentes no tecido<br />
adiposo materno, que é mobilizado durante a lactação, quanto no perfil lipídico do leite humano.<br />
Unitermos<br />
ácidos graxos, composição corporal, leite humano, período pós-parto
IC25 - ANÁLISE DE RISCO NA LINHA DE PRODUÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO DA<br />
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2009<br />
Autores: Gonçalves CMS; Moreira SH; Oliveira MP; Santos VRC<br />
Instituição: Fundação Santa Casa <strong>de</strong> Misericórdia do Pará<br />
Objetivos<br />
Aplicar a metodologia <strong>de</strong> gerenciamento <strong>de</strong> risco analisando todas as etapas da linha <strong>de</strong> produção <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a<br />
coleta até a distribuição garantindo a qualida<strong>de</strong> do produto ofertado <strong>de</strong> acordo com a legislação vigente<br />
Materiais e métodos<br />
Monitorar a segurança do produto através da educação permanente dos técnicos que operacionalizam o<br />
controle <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong>, do uso <strong>de</strong> planilhas com <strong>de</strong>vido registro <strong>de</strong> t<strong>em</strong>po e t<strong>em</strong>peratura, uso <strong>de</strong><br />
equipamento <strong>de</strong> proteção individual (EPIs), manutenção dos equipamentos necessários para o atendimento<br />
da <strong>de</strong>manda, , alvará <strong>de</strong> funcionamento b<strong>em</strong> como, o fluxograma do processo que consiste na higiene<br />
pessoal, no transporte, recebimento, pré estocag<strong>em</strong>, <strong>de</strong>gelo e seleção, classificação, reenvase,<br />
pasteurização, controle físico químico, armazenamento, conservação e distribuição do leite humano.<br />
Resultado<br />
Durante o período <strong>de</strong> análise no primeiro bimestre <strong>de</strong> 2009 observou-se que a ca<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> frio contribuiu<br />
inibindo a multiplicação <strong>de</strong> patógenos, e posteriormente, a pasteurização eliminou a população microbiana.<br />
As etapas analisadas não conferiram riscos a integrida<strong>de</strong> do produto. Vale ressaltar que a amostrag<strong>em</strong><br />
<strong>de</strong>sprezada por off-flavor e controle físico químico (aci<strong>de</strong>z titulável <strong>em</strong> graus Dornic) varia <strong>de</strong> 13 a 14%<br />
.Quanto a monitorização <strong>de</strong> t<strong>em</strong>po e t<strong>em</strong>peratura apresentam-se <strong>em</strong> conformida<strong>de</strong> com o POP<br />
(Procedimento Operacional Padrão). Torna-se necessário dar atenção a área física do processamento e<br />
climatização, pois a <strong>de</strong>manda é extensa, causando <strong>de</strong>sconforto a equipe durante a execução das<br />
atribuições diárias<br />
Conclusão<br />
Condições higiênico-sanitárias, monitoramento e avaliação <strong>de</strong> todo o processo e aplicação <strong>de</strong> normas<br />
técnicas são minimamente necessárias para garantir a integrida<strong>de</strong> do produto <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a coleta até o<br />
consumo, evitando e/ou reduzindo <strong>de</strong>sta forma risco para a saú<strong>de</strong> do consumidor. Ratifica-se também que a<br />
educação permanente <strong>em</strong> serviço garante a confiabilida<strong>de</strong> do processo e bons resultados.<br />
Unitermos<br />
Banco <strong>de</strong> Leite Humano, Leite Humano, Controle <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong>, Análise <strong>de</strong> risco<br />
IC26 - DIETA ENTERAL ARTESANAL: UMA COMPARAÇÃO ENTRE SUA COMPOSIÇÃO<br />
NUTRICIONAL E A VIABILIDADE PARA UTILIZAÇÃO PRÁTICA<br />
Autores: Carvalho FV; Faustino AV<br />
Instituição: Centro Universitário da Gran<strong>de</strong> Dourados-UNIGRAN<br />
Objetivos<br />
O presente estudo teve com o objetivo <strong>de</strong> elaborar dietas enterais e realizar a análise <strong>de</strong> sua composição<br />
nutricional, volume final, quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> resíduos, <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> calórica, custo e gotejamento para avaliar a<br />
viabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> sua utilização na prática.<br />
Materiais e métodos<br />
Foi realizado um estudo do tipo experimental. Foram elaboradas quatro dietas,com seis refeições cada,<br />
sendo elas: artesanal com lactose (F1M, F2, F3, F1M, F3 e F1M); artesanal s<strong>em</strong> lactose (F5, F5, F3, F5, F3<br />
e F5); modular com lactose (F7, F7, F9, F7, F10 e F7); modular s<strong>em</strong> lactose (F11, F11, F13, F11, F14 e<br />
F11). Para a elaboração utilizou-se alimentos convencionais, formulações que atingiss<strong>em</strong> o valor calórico <strong>de</strong><br />
2.000 kcal/dia e com distribuição conforme Cuppari (2005) <strong>de</strong> macronutrientes.<br />
Resultado<br />
Algumas dietas não apresentaram as calorias conforme as recomendações estabelecidas, mas a maioria<br />
<strong>de</strong>las se aproximou da <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> calórica padrão. As modulares mostraram-se mais calóricas e<br />
homogêneas do que as artesanais.As dietas com maior custo possu<strong>em</strong> <strong>em</strong> comum o extrato <strong>de</strong> soja, e a<br />
dieta que apresentou o acréscimo <strong>de</strong> módulos <strong>de</strong> albumina, malto<strong>de</strong>xtrina e TCM resultou também <strong>em</strong> um<br />
custo mais elevado. O gotejamento das formulações foi aproximado da recomendação. As formulações F3,
F9, F13 e F14 obtiveram maiores resíduos, pois apresentavam quantida<strong>de</strong> maior <strong>de</strong> alimentos sólidos <strong>em</strong><br />
suas composições.<br />
Conclusão<br />
As formulações elaboradas po<strong>de</strong>m ser utilizadas na prática, tendo <strong>em</strong> vista que tiveram gotejamento e VCT<br />
aproximado, e um custo acessível à realida<strong>de</strong> socioeconômica brasileira, porém <strong>de</strong>v<strong>em</strong> ser supl<strong>em</strong>entadas<br />
com vitaminas e minerais, para obter maior segurança na ingestão <strong>de</strong> nutrientes. Ressalta-se que, a<br />
utilização das dietas artesanais, <strong>de</strong>ve-se restringir aos casos on<strong>de</strong> o paciente ou familiar não possui<br />
condições financeiras <strong>de</strong> adquirir as fórmulas industrializadas, ou quando os órgãos públicos não<br />
disponibilizar<strong>em</strong>, tendo <strong>em</strong> vista que as dietas artesanais apresentam maiores riscos <strong>de</strong> contaminação se<br />
não for<strong>em</strong> preparadas <strong>de</strong> acordo com as normas <strong>de</strong> BPPNE conforme a Resolução da Diretoria Colegiada<br />
nº63/2000, da ANVISA. Há necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> futuros estudos para analisar a composição centesimal dos<br />
resíduos <strong>de</strong> forma que se obtenha o valor real <strong>de</strong> calorias e <strong>de</strong> nutrientes.<br />
Unitermos<br />
dietas enterais, artesanal, módulos, alimentos<br />
IC27 - ADMINISTRAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS ORAIS VIA SONDA ENTERAL NA PRÁTICA<br />
CLÍNICA DO HOSPITAL PAULISTANO<br />
Autores: Callejo <strong>de</strong> Souza AP; Rodrigues RDP; Santos JML; Dadico JS; Slaviero BS; Carrasco FB<br />
Instituição: Hospital Paulistano<br />
Objetivos<br />
Em pacientes com comprometimento da via oral ou com dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>glutição, muitas vezes é<br />
necessária a introdução <strong>de</strong> sondas para administração <strong>de</strong> nutrientes e, consequent<strong>em</strong>ente <strong>de</strong><br />
medicamentos. Quando administrados ina<strong>de</strong>quadamente, alguns medicamentos po<strong>de</strong>m ocasionar<br />
obstrução da sonda, aumento da toxicida<strong>de</strong> e efeitos adversos, incompatibilida<strong>de</strong>s fármaco-nutriente ou<br />
redução da sua eficácia. Tais eventos ocorr<strong>em</strong> quando a escolha da forma farmacêutica não é apropriada<br />
ou a técnica <strong>de</strong> preparo é incorreta, interferindo, <strong>de</strong>sta forma, na efetivida<strong>de</strong> do medicamento. Portanto,<br />
nosso objetivo foi i<strong>de</strong>ntificar e analisar as formas farmacêuticas orais que apresentam incompatibilida<strong>de</strong>s na<br />
administração via sonda, e com isso elaborar um guia <strong>de</strong> administração dos medicamentos padronizados no<br />
hospital.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram selecionadas, a partir da lista <strong>de</strong> medicamentos padronizados do hospital, as formas farmacêuticas<br />
<strong>de</strong> administração oral e realizada pesquisa nos bancos <strong>de</strong> dados Clinical Pharmacology e Microme<strong>de</strong>x<br />
Healthcare Series, <strong>em</strong> artigos <strong>de</strong> periódicos in<strong>de</strong>xados no PubMed, e no livro Drug Information Handbook<br />
2008 - 2009 para verificar a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> administração por sonda <strong>de</strong> alimentação. A partir dos dados<br />
obtidos foi elaborado um guia para administração <strong>de</strong> medicamentos por sonda contendo recomendações e<br />
possíveis alternativas à equipe multidisciplinar.<br />
Resultado<br />
Dos 172 medicamentos pesquisados, 40% (66) apresentaram alguma restrição na administração por sonda<br />
<strong>de</strong> alimentação. Em 50% (33) <strong>de</strong>stes, a incompatibilida<strong>de</strong> estava relacionada à forma farmacêutica; <strong>em</strong><br />
27,3% (18) a interferência era <strong>de</strong>vida à presença <strong>de</strong> alimento, e <strong>em</strong> 16,7% (11) a incompatibilida<strong>de</strong> foi<br />
relacionada a nutrientes específicos ou à farmacocinética/farmacodinâmica. Na presença <strong>de</strong> nutrição,<br />
77,8% das interações prejudicaram a efetivida<strong>de</strong> do fármaco, enquanto 27,8% melhoraram algum parâmetro<br />
farmacocinético.<br />
Conclusão<br />
Devido ao gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> medicamentos que apresentam restrições quando administrados via sonda, é<br />
importante estabelecer condutas com <strong>em</strong>basamento científico que assegur<strong>em</strong> a efetivida<strong>de</strong> da terapia<br />
nutricional e medicamentosa. O farmacêutico é um profissional apto a dar suporte à equipe multiprofissional,<br />
por conhecer o mecanismo pelo qual as interações po<strong>de</strong>m ocorrer, po<strong>de</strong>ndo sugerir alternativas ou fazer<br />
recomendações a fim <strong>de</strong> melhorar a eficácia do tratamento. Nossos resultados proveram dados para a<br />
elaboração <strong>de</strong> um guia <strong>de</strong> consulta que disponibiliza as consi<strong>de</strong>rações sobre a administração <strong>de</strong><br />
medicamentos via sonda <strong>de</strong> alimentação.<br />
Unitermos<br />
forma farmacêutica oral, interação fármaco-nutriente, sonda <strong>de</strong> alimentação
IC28 - PROTOCOLO DE ROTINAS TÉCNICAS EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL: UM MODELO<br />
METODOLÓGICO PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO<br />
Autores: Silva TG; Morimoto IMI<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Positivo<br />
Objetivos<br />
Este estudo teve como objetivo construir um mo<strong>de</strong>lo com <strong>de</strong>talhamento metodológico para elaboração,<br />
implantação e a<strong>de</strong>quação <strong>de</strong> protocolos <strong>de</strong> Rotinas Técnicas <strong>em</strong> Terapia <strong>Nutricional</strong> Enteral para unida<strong>de</strong>s<br />
hospitalares.<br />
Materiais e métodos<br />
A metodologia foi <strong>de</strong>finida segundo a literatura <strong>de</strong> Juran, que preconiza o planejamento prévio para reduzir<br />
os impactos das mudanças e minimizar <strong>de</strong>sperdícios e redundâncias. Em um primeiro momento foi<br />
observado e registrado as etapas do fluxo <strong>de</strong> serviço. A partir do diagnóstico e do estudo da trilogia <strong>de</strong> Juran<br />
foram <strong>de</strong>terminadas 5 fases para implantação do Protocolo <strong>de</strong> Rotinas Técnicas <strong>em</strong> Terapia <strong>Nutricional</strong><br />
Enteral, na sequencia, ouve a elaboração <strong>de</strong> etapas para execução <strong>de</strong> cada fase. Ao final, estas etapas<br />
foram <strong>de</strong>scritas com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> estabelecer o mo<strong>de</strong>lo para implantação e a<strong>de</strong>quação do Protocolo <strong>de</strong><br />
Rotinas Técnicas <strong>em</strong> Terapia <strong>Nutricional</strong> Enteral.<br />
Resultado<br />
Um mo<strong>de</strong>lo <strong>em</strong> forma <strong>de</strong> fluxograma foi obtido, on<strong>de</strong> estavam discriminadas as fases e etapas seguidas<br />
para a elaboração do Protocolo. Inicialmente, foi necessária uma fase <strong>de</strong> observação e registro, a fim <strong>de</strong><br />
obter o diagnóstico da situação atual do serviço. A partir <strong>de</strong> uma consulta à literatura e legislação vigente,<br />
observou-se quais os requisitos mínimos exigidos para a Terapia <strong>Nutricional</strong> Enteral, para a otimização do<br />
serviço. Após a i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong>stes itens, <strong>de</strong>terminou-se, junto à nutricionista do local, quais os itens que<br />
<strong>de</strong>veriam constar no protocolo e posteriormente fez-se a <strong>de</strong>scrição <strong>de</strong>stes itens. Em seguida o protocolo foi<br />
implantado no serviço, e para i<strong>de</strong>ntificar a a<strong>de</strong>quação do fluxo e dos procedimentos implantados, foi<br />
elaborado um check list,. Para este utilizou-se a classificação <strong>de</strong>scrita na RDC 275, 2002. A ultima fase foi<br />
necessária para a manutenção das <strong>de</strong>mais, nesta foi aplicado o mesmo check list <strong>em</strong> períodos pré-<strong>de</strong>finidos<br />
pelo menual da ABERC, com a inteção <strong>de</strong> manter o serviço s<strong>em</strong>pre <strong>de</strong> acordo com o que se pe<strong>de</strong> na<br />
legislação.<br />
Conclusão<br />
Com a finalização <strong>de</strong>ste estudo, ficou evi<strong>de</strong>nte que o mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong>senvolvido é útil como ferramenta gerencial<br />
para o nutricionista para garantia do atendimento <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> ao paciente hospitalizado <strong>em</strong> terapia<br />
nutricional. O qual necessita <strong>de</strong> cuidados especiais e acompanhamento criterioso. Com a implantação <strong>de</strong><br />
um protocolo <strong>de</strong> rotinas técnicas <strong>em</strong> terapia nutricional na unida<strong>de</strong> hospitalar o atendimento à estes<br />
pacientes se torna muito mais específico, influenciando <strong>de</strong> forma positiva na evolução do estado nutricional<br />
<strong>de</strong>stes pacientes. O nutricionista <strong>de</strong>ve estar consciente <strong>de</strong> que o Protocolo <strong>de</strong> Rotina Técnicas <strong>em</strong> Terapia<br />
<strong>Nutricional</strong> não é um documento elaborado para aten<strong>de</strong>r as exigências da vigilância sanitária. Deve-se<br />
monitorar o seu seguimento uma vez que traz inúmeros benefícios para o serviço, norteando a atuação do<br />
nutricionista da unida<strong>de</strong> hospitalar.<br />
Unitermos<br />
<strong>Desnutrição</strong>, Planejamento, Protocolos - (Malnutrition, Planning, Protocols)<br />
IC29 - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL: APLICAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE<br />
Autores: Cartolano FDC; Caruso L; Soriano FG<br />
Instituição: Hospital Universitário da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo<br />
Objetivos<br />
Monitorar a a<strong>de</strong>quação da Terapia <strong>Nutricional</strong> Enteral na Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Terapia Intensiva visando a melhoria<br />
da qualida<strong>de</strong> da assistência nutricional.<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo prospectivo e observacional conduzido na UTI adulto do Hospital Universitário da USP <strong>de</strong> 2005 a<br />
2008. Participaram da amostra pacientes maiores <strong>de</strong> 18 anos com TNE exclusiva por mais <strong>de</strong> 72h, com
anuência ao termo <strong>de</strong> consentimento. O cálculo das necessida<strong>de</strong>s energético-protéicas foi realizado<br />
conforme protocolo da unida<strong>de</strong>. Utilizou-se sist<strong>em</strong>a fechado e sondas <strong>em</strong> posição pós-pilórica para<br />
administração da fórmula enteral. Comparou-se os valores médios <strong>de</strong> energia e proteínas calculados,<br />
prescritos e administrados <strong>em</strong> cada ano. A a<strong>de</strong>quação calórico-protéica foi avaliada pela relação percentual,<br />
adotando valor referencial porcentagens maiores que 90%. Os fatores responsáveis pela não conformida<strong>de</strong><br />
na administração planejada foram classificados <strong>em</strong> causas externas ou internas à UTI. Os indicadores <strong>de</strong><br />
qualida<strong>de</strong> propostos pela Força Tarefa <strong>em</strong> Nutrição Clínica do ILSI Brasil foram aplicados, sendo expressos<br />
<strong>em</strong> metas percentuais. Nas análises estatísticas utilizou-se o intervalo <strong>de</strong> confiança e os testes t Stu<strong>de</strong>nt e<br />
Mann-Whitney (p≤0,05), segundo o programa Epi Info.<br />
Resultado<br />
Foram acompanhados 116 pacientes. Os diagnósticos <strong>de</strong> internação mais prevalentes <strong>em</strong> 2006 e 2008<br />
foram as doenças respiratórias e <strong>em</strong> 2005 e 2007, as doenças cardíacas e sepse. O t<strong>em</strong>po para atingir a<br />
meta estabelecida diminuiu <strong>de</strong> 32h <strong>em</strong> 2005 para 24h <strong>em</strong> 2008. O valor médio <strong>de</strong> energia administrado <strong>em</strong><br />
2005 e <strong>em</strong> 2006 apresentou diferença estatística quando comparado a 2008. O mesmo foi visto para os<br />
valores médios administrados <strong>de</strong> proteínas. A a<strong>de</strong>quação calculado/prescrito permaneceu próxima a 100%<br />
<strong>em</strong> todos os levantamentos. A a<strong>de</strong>quação administrado/prescrito aumentou <strong>de</strong> 74% <strong>em</strong> 2005, para 89% <strong>em</strong><br />
2008. No <strong>de</strong>correr do período, aumentaram as interrupções da TNE por fatores externos e diminuíram as<br />
interrupções por fatores internos à unida<strong>de</strong>, contudo s<strong>em</strong> diferenças significativas. A frequência da<br />
estimativa das necessida<strong>de</strong>s energético-protéica foi <strong>de</strong> 100% <strong>em</strong> todos os anos (meta>80%). A frequência<br />
<strong>de</strong> doentes com jejum ina<strong>de</strong>quado antes do início da TNE (>48h) foi <strong>de</strong> 12,1% <strong>em</strong> 2005 e 2008 e 20% <strong>em</strong><br />
2007. A frequência <strong>de</strong> dias com oferta protéica insuficiente caiu <strong>de</strong> 31,2% (2005) para 15,6% (2008),<br />
evi<strong>de</strong>nciando direção à meta (
Conclusão<br />
Embora a literatura evi<strong>de</strong>ncie o efeito negativo da hiperglic<strong>em</strong>ia no paciente crítico, não foi observado neste<br />
trabalho relação entre altos valores glicêmicos e mortalida<strong>de</strong> nestes pacientes.<br />
Unitermos<br />
Hiperglic<strong>em</strong>ia; Mortalida<strong>de</strong>; paciente crítico<br />
IC31 - RELAÇÃO ENTRE CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE ÁCIDO ASCÓRBICO E ESTRESSE<br />
OXIDATIVO EM PACIENTES CRÍTICOS<br />
Autores: Matos A; Nogueira C; Borges F; Lameu E; Andra<strong>de</strong> K; Ramalho A<br />
Instituição: Núcleo <strong>de</strong> Pesquisa <strong>em</strong> Micronutrientes (INJC/UFRJ)<br />
Objetivos<br />
Avaliar concentrações séricas <strong>de</strong> ácido ascórbico e sua relação com estresse oxidativo <strong>em</strong> pacientes<br />
críticos.<br />
Materiais e métodos<br />
Trata-se <strong>de</strong> um estudo intervencional <strong>em</strong> adultos internados na UTI <strong>de</strong> um hospital privado no município do<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro no período <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2007 a fevereiro <strong>de</strong> 2009, sendo os mesmos divididos <strong>em</strong> 2 grupos: os<br />
que receberam dieta enteral padrão (G1) e os com dieta associada à supl<strong>em</strong>ento vitamínico (G2). Ambos<br />
receberam dieta hipercalórica e hiperprotéica e no G2, foi oferecido supl<strong>em</strong>ento contendo 500mg <strong>de</strong> ácido<br />
ascórbico. Foram dosados os níveis séricos <strong>de</strong> ácido ascórbico por HPLC e proteína C reativa (PCR) por<br />
nefelometria antes do início da dieta enteral (T1) e após uma s<strong>em</strong>ana (T2). O estresse oxidativo foi avaliado<br />
através da dosag<strong>em</strong> da peroxidação lipídica, e esta estimada pelos níveis <strong>de</strong> TBARS (substâncias reativas<br />
ao ácido tiobarbitúrico) no T1 e T2 e calculado escore APACHE II. Para a análise estatística foi realizado o<br />
Teste <strong>de</strong> Mann-Whitney.<br />
Resultado<br />
Foram avaliados 25 pacientes (G1=15 /G2=8), com média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 77,5 (DP±15,6). A PCR esteve<br />
elevada <strong>em</strong> 100% dos pacientes nos 2 grupos nos 2 t<strong>em</strong>pos. No G1, a ina<strong>de</strong>quação <strong>de</strong> vitamina C foi <strong>de</strong><br />
33,3% no T1 e 53,3% no T2. E no G2, a ina<strong>de</strong>quação foi <strong>de</strong> 50,0% no T1 e 37,5% no T2. A média do<br />
APACHE II foi <strong>de</strong> 13,7 (DP±6,4) no G1 e <strong>de</strong> 13,7 (DP±6,7) no G2. Houve diferença significativa <strong>em</strong> relação<br />
aos níveis <strong>de</strong> TBARS entre os grupos no T1 (p=0,003), ao contrário dos níveis <strong>de</strong> ácido ascórbico, PCR e<br />
APACHE II que não houve esta diferença (p=0,07/ p=0,89 /p=0,83).<br />
Conclusão<br />
A PCR elevada <strong>de</strong>monstra evidências objetivas <strong>de</strong> resposta inflamatória sistêmica apontando para uma<br />
maior <strong>de</strong>manda da vitamina estudada. Uma vez que houve redução significativa do estresse oxidativo entre<br />
os grupos após a supl<strong>em</strong>entação, sugere-se a revisão do protocolo nutricional dirigido ao grupo <strong>em</strong> questão,<br />
visto a importância do aporte <strong>de</strong> vitaminas antioxidantes, incluindo a vitamina C, no combate ao estresse<br />
oxidativo<br />
Unitermos<br />
Ácido ascórbico, Paciente crítico, Estresse oxidativo<br />
IC32 - HIGH DOSE OF SELENITE AS PHARMACONUTRIENT IMPROVES OUTCOME IN CRITICALLY<br />
ILL PATIENTS WITH SYSTEMIC INFLAMMATION<br />
Autores: Manzanares W; Biestro A; Galusso F; Torre MH; Alvarez A; Facchin G; Hardy G<br />
Instituição: Hospital <strong>de</strong> Clínicas - School of Medicine, UDELAR<br />
Objetivos<br />
Syst<strong>em</strong>ic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) is characterized by oxidative stress and selenium<br />
(Se)<strong>de</strong>pletion and low levels of selenium are associated with infectious complications, and mortality. Our<br />
previous study showed that short term intravenous selenite (bolus injection:2000micg plus continous<br />
infusion: 1600 micg/d) for 10 days was safe and without obvious toxicity. The aim of this study is to evaluate<br />
the effect of high dose parenteral selenious acid (selenite) on clinical outcome and antioxidant capacity in<br />
SIRS- critically ill patients.
Materiais e métodos<br />
Prospective, single-centre, placebo-controlled, randomized trial in a university hospital intensive care unit<br />
(ICU). Inclusion criteria: SIRS diagnosis at ICU admission, age> 18, APACHE II score> 15. Exclusion criteria:<br />
pregnancy, chronic renal failure, immune <strong>de</strong>ficiency, coma after cardiopulmonary arrest. Two groups of<br />
patients: Group A: received bolus-loading dose of SeA: 2000mcg (25.3mcmol) over 2 h followed by<br />
continuous infusion (CIV) of 1600 mcg/d (20.24 mcmol) for 10d. Group B: CIV of 0.9% saline solution as<br />
placebo. Clinical outcome was evaluated by the Sepsis Related Organ Failure (SOFA) score. To assess<br />
[GPx-3] and other variables, blood samples were obtained before randomization (day 0), days 3, 7 and 10.<br />
[GPx-3] was measured by an indirect method based on the oxidation of glutathione and expressed as U/mL.<br />
Data are expressed as means ± SD. Differences between groups were assessed using Mann Whitney –U<br />
Test and Chi- square. p value
O grupo que recebeu uma maior quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> óleo <strong>de</strong> peixe apresentou um t<strong>em</strong>po menor <strong>de</strong> VM quando<br />
comparado ao grupo que recebeu uma quantida<strong>de</strong> menor (3% = 10,29±5,03 dias vs 15% = 3,07±2,66 dias,<br />
p
IC35 - ALTERAÇÃO DA GORDURA ABDOMINAL EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA APÓS<br />
TRATAMENTO<br />
Autores: Ambrosi C; Rockenbach G; Galvan D; Oliveira PP; Boaventura BCB; Crippa CG; Di Pietro PF<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Santa Catarina - UFSC<br />
Objetivos<br />
Analisar a variação nas medidas da circunferência da cintura (CC), circunferência abdominal (CA),<br />
circunferência do quadril (CQ) e na relação da medida da cintura/quadril (RCQ) ocorrida <strong>em</strong> mulheres, após<br />
o tratamento antineoplásico para o câncer <strong>de</strong> mama.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram utilizadas as medidas <strong>de</strong> CC e CA que possibilitam estimar o acúmulo <strong>de</strong> gordura abdominal, a qual<br />
está correlacionada à quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> tecido adiposo visceral e intra-abdominal. Para obtenção das medidas,<br />
foi utilizada uma fita métrica inextensível com precisão <strong>de</strong> 0,1 cm, colocada <strong>em</strong> plano horizontal. Para<br />
verificar a CC, a fita foi posicionada no nível do ponto médio entre a costela inferior e a crista ilíaca. Para<br />
verificar a CA, a fita foi posicionada ao nível da cicatriz umbilical, no final do movimento expiratório. Já o<br />
quadril foi <strong>de</strong>terminado <strong>em</strong> plano horizontal ao nível da circunferência máxima, incluindo a extensão máxima<br />
das ná<strong>de</strong>gas (WHO, 1995). Todas as pacientes foram avaliadas <strong>em</strong> duas etapas: antes e após o tratamento,<br />
num estudo clínico não randomizado. A análise estatística foi realizada no programa STATA 8.1, on<strong>de</strong> foi<br />
verificada a normalida<strong>de</strong> dos dados. Para dados com distribuição normal, foi utilizado Teste t Stu<strong>de</strong>nt e o<br />
teste Wilcoxon para dados pareados. Em todos os testes foi consi<strong>de</strong>rada significância <strong>de</strong> p
De acordo com os resultados do estudo, evi<strong>de</strong>nciou-se uma redução significativa nas concentrações <strong>de</strong><br />
antioxidantes séricos (p
Autores: Oliveira NM; Sampaio HAC; Sabry MOD; Sales KMO; Pinheiro LGP<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Estadual do Ceará<br />
Objetivos<br />
Comparar o GEB <strong>de</strong> mulheres com e s<strong>em</strong> câncer <strong>de</strong> mama, atendidas <strong>em</strong> um serviço <strong>de</strong> referencia.<br />
Materiais e métodos<br />
A amostra foi integrada por 30 mulheres portadoras <strong>de</strong> câncer <strong>de</strong> mama (grupo caso) e por 54 mulheres <strong>em</strong><br />
serviço <strong>de</strong> prevenção da doença (grupo controle). Para <strong>de</strong>terminação do gasto energético basal foi utilizado<br />
o aparelho <strong>de</strong> bioimpedância elétrica tetrapolar BioScan da marca Maltron®. Inicialmente as mulheres foram<br />
pesadas e medidas com auxílio <strong>de</strong> balança antropométrica da marca Flizola®, com capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 150kg e<br />
2m <strong>de</strong> altura e variação <strong>de</strong> 100g e 0,5cm. A BIA foi realizada segundo informações do fabricante. Os dados<br />
foram analisados através do teste t <strong>de</strong> Stu<strong>de</strong>nt, adotando-se p < 0,05 como nível <strong>de</strong> significância.<br />
Resultado<br />
A média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> do grupo caso foi <strong>de</strong> 51,1 anos, com variação <strong>de</strong> 32 a 74 anos; e a média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
grupo controle foi <strong>de</strong> 47,5 anos, variando <strong>de</strong> 22 a 68 anos. Com relação ao gasto energético basal obtido, a<br />
média do grupo caso foi <strong>de</strong> 1174kcal/dia, variando <strong>de</strong> 967 a 1372kcal/dia; e a média do grupo controle foi <strong>de</strong><br />
1192kcal/dia, variando <strong>de</strong> 970 a 1419kcal/dia, não se constatando diferença estatística entre os grupos (p =<br />
0,396).<br />
Conclusão<br />
A presença do câncer <strong>de</strong> mama não acarreta modificações do gasto energético basal, pelo menos no grupo<br />
estudado, mas e interessante que se amplie a amostra para uma avaliação mais <strong>de</strong>finitiva.<br />
Unitermos<br />
câncer <strong>de</strong> mama; gasto energético basal; caso-controle<br />
IC39 - EFEITO DE DIFERENTES EMULSÕES LIPÍDICAS NA COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E<br />
NOS MARCADORES DE PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA EM PACIENTES COM CÂNCER DE ESTÔMAGO OU<br />
CÓLON<br />
Autores: Godoy ABP; Torrinhas RSMM; Curi R; Cury-Boaventura MF<br />
Instituição: Instituto <strong>de</strong> Ciências Biomédicas - Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo<br />
Objetivos<br />
No presente estudo, investigamos e comparamos o efeito <strong>de</strong> duas <strong>em</strong>ulsões lipídicas sobre a composição e<br />
concentração <strong>de</strong> lipídios no plasma, linfócitos e neutrófilos <strong>de</strong> pacientes com câncer <strong>de</strong> estômago ou cólon.<br />
Além disso, <strong>de</strong>terminamos o conteúdo dos produtos <strong>de</strong> peroxidação lipídica no plasma dos mesmos.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram utilizadas amostras <strong>de</strong> pacientes adultos, com diagnóstico <strong>de</strong> câncer gástrico ou <strong>de</strong> cólon. Os<br />
pacientes receberam <strong>de</strong> forma duplo-cego a infusão da <strong>em</strong>ulsão lipídica (10%) parenteral rica <strong>em</strong><br />
triglicéri<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>ia média e óleo <strong>de</strong> soja, 50:50 (EL TCM/TCL n-6) ou rica <strong>em</strong> óleo <strong>de</strong> peixe (EL TCL n-3)<br />
durante os 3 dias pré-operatórios. A dose administrada das <strong>em</strong>ulsões foi igual a 0,2 g/kg <strong>de</strong> peso/dia. Foram<br />
coletadas amostras <strong>de</strong> sangue: antes do início da administração da dieta parenteral (controle), após 3 dias<br />
<strong>de</strong> administração da dieta, e após a cirurgia, 3 dias após o término da infusão da dieta. Foi realizada a<br />
avaliação da composição <strong>de</strong> ácidos graxos <strong>em</strong> linfócitos, neutrófilos e plasma por cromatografia líquida <strong>de</strong><br />
alta performance (HPLC), além da <strong>de</strong>terminação quantitativa <strong>de</strong> ácidos graxos livres não esterificados,<br />
triglicéri<strong>de</strong>s, colesterol e HDL colesterol no plasma por métodos colorimétricos enzimáticos. Também foi<br />
<strong>de</strong>terminado no plasma o conteúdo dos produtos <strong>de</strong> peroxidação lipídica (TBARS) por espectrofotometria.<br />
Resultado<br />
Comparado ao controle, a administração da dieta EL TCL n-3 ocasionou aumento na concentração <strong>de</strong><br />
ácidos graxos livres logo após a infusão e diminuição na concentração <strong>de</strong> triglicéri<strong>de</strong>s após a cirurgia. Já a<br />
EL TCM/TCL n-6, <strong>em</strong> relação ao controle, provocou diminuição da concentração <strong>de</strong> HDL Colesterol e<br />
aumento da concentração <strong>de</strong> TBARS após a infusão da dieta. Porém, a dose administrada <strong>de</strong> ambas as<br />
dietas não alterou a composição <strong>de</strong> ácidos graxos <strong>de</strong> neutrófilos, linfócitos e plasma e a concentração <strong>de</strong><br />
colesterol total no plasma dos pacientes.
Conclusão<br />
Depen<strong>de</strong>ndo da dieta administrada, po<strong>de</strong>mos observar diferentes respostas nas concentrações <strong>de</strong> ácidos<br />
graxos livres, triglicéri<strong>de</strong>s, HDL e TBARS no plasma dos pacientes avaliados nesse estudo. A EL TCL n-3<br />
parece ser mais a<strong>de</strong>quada para os pacientes com câncer <strong>de</strong> cólon ou estômago <strong>em</strong> relação à EL TCM/TCL<br />
n-6, uma vez que não apresentou alterações na concentração <strong>de</strong> produtos <strong>de</strong> peroxidação lipídica,<br />
importante marcador <strong>de</strong> estresse oxidativo e <strong>de</strong> progressão <strong>de</strong> tumor. Além disso, não alterou a<br />
concentração <strong>de</strong> HDL, cuja redução está associada ao aumento no risco <strong>de</strong> morte e sepse.<br />
Unitermos<br />
Dieta parenteral, <strong>em</strong>ulsão lipídica, ácidos graxos, colesterol, HDL, triglicéri<strong>de</strong>s, peroxidação lipídica.<br />
IC40 - INVESTIGAÇÃO NUTRICIONAL E DIETÉTICA EM PACIENTES COM DOENÇAS DE VIAS<br />
BILIARES SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO CIRÚRGICA<br />
Autores: Portero-McLellan KC; Leandro-Merhi VA; Paranhos VMS; Reis MA; Camargo JGT; Aquino JLB<br />
Instituição: Pontifícia Universida<strong>de</strong> Católica<br />
Objetivos<br />
Caracterizar o perfil nutricional no pré-operatório <strong>de</strong> pacientes portadores <strong>de</strong> DVB que foram submetidos à<br />
intervenção cirúrgica.<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo transversal com 31 pacientes hospitalizados, portadores <strong>de</strong> DVB, sendo analisado o estado<br />
nutricional na população total e, posteriormente segmentado <strong>em</strong> 2 grupos: obesos e não obesos. Foi<br />
aplicado o teste exato <strong>de</strong> Fischer para a comparação <strong>de</strong> proporções e para a comparação <strong>de</strong> medidas<br />
contínuas ou or<strong>de</strong>náveis entre 2 grupos foi aplicado o teste <strong>de</strong> Mann-Whitney. Para verificar associação<br />
linear entre 2 medidas foi utilizado o coeficiente <strong>de</strong> correlação <strong>de</strong> Spearman com nível <strong>de</strong> significância <strong>de</strong><br />
5%.<br />
Resultado<br />
58,06% dos pacientes eram do sexo f<strong>em</strong>inino e 41,9% do sexo masculino. Foi encontrado 3,22% <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>snutridos; 32,26% <strong>de</strong> eutróficos, 61,29% <strong>de</strong> sobrepesos e 3,22 <strong>de</strong> obesos. Observou-se um consumo<br />
elevado <strong>de</strong> carboidratos e proteínas e um consumo a<strong>de</strong>quado <strong>de</strong> lipídios. Não foi encontrada diferença<br />
significativa quando comparado os pacientes obesos com os não obesos (sexo: p=0,4491; ida<strong>de</strong>: p=0,6645;<br />
consumo energético habitual: p=0,9506; consumo <strong>de</strong> gorduras; p=0,5222; relação cintura/quadril:<br />
p=0,8864), exceto para a prega cutânea triciptal (p=0,0297). Não foi verificada correlação significativa entre<br />
o consumo e a necessida<strong>de</strong> energética na população total.<br />
Conclusão<br />
Na tentativa <strong>de</strong> se estabelecer ações <strong>de</strong> orientação a<strong>de</strong>quada para esta população, é necessário maior<br />
investigação do estado nutricional e do consumo alimentar, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes da presença ou não <strong>de</strong><br />
obesida<strong>de</strong>.<br />
Unitermos<br />
Doenças <strong>de</strong> vias biliares (DVB), colelitíase, obesida<strong>de</strong>, pacientes hospitalizados, estado nutricional<br />
IC41 - PROTOCOLO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES COM GVHD INTESTINAL<br />
Autores: Paiva MEVR; Bernhard AB; Oliveira MRM<br />
Instituição: Hospital Sírio-Libanês<br />
Objetivos<br />
O objetivo do trabalho foi formular um protocolo <strong>de</strong> ingestão oral do paciente com GVHD intestinal para<br />
orientar a retomada da alimentação normal do paciente após o período <strong>de</strong> repouso intestinal, além disso,<br />
<strong>em</strong> casos menos graves, o paciente po<strong>de</strong> manter ingestão oral no <strong>de</strong>correr <strong>de</strong> todo tratamento, seguindo o<br />
protocolo específico.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram pesquisados trabalhos sobre GVHD e terapia nutricional na base <strong>de</strong> dados medline e selecionados<br />
quatro protocolos consi<strong>de</strong>rados os mais relevantes, são eles os <strong>de</strong> Gauvreau-stern et al, Albertini e Ruiz,
Service diététique Hôspital Saint-Louis e Imataki et al, que foram analisados criticamente para a formulação<br />
<strong>de</strong> um novo protocolo focado <strong>em</strong> hábitos alimentares brasileiros.<br />
Resultado<br />
O novo protocolo foi elaborado com sucesso e instituído como padrão <strong>de</strong> tratamento para pacientes com<br />
GVHD intestinal agudo no Hospital Sírio Libanês e até o momento aplicado <strong>em</strong> um paciente com bons<br />
resultados.<br />
Conclusão<br />
É <strong>de</strong> extr<strong>em</strong>a importância a existência <strong>de</strong> um protocolo para restabelecimento e/ou manutenção da ingestão<br />
oral <strong>de</strong> pacientes com GVHD intestinal agudo, focado <strong>em</strong> hábitos alimentares brasileiros e <strong>de</strong> aplicação<br />
prática na ativida<strong>de</strong> dietoterápica, para apoio <strong>de</strong> médicos e nutricionistas.<br />
Unitermos<br />
GVHD intestinal agudo, dietoterapia, terapia nutricional oral, TMO alogênico.<br />
IC42 - DIAGNOSTICO NUTRICIONAL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE<br />
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO NA PRIMEIRA CONSULTA DE NUTRIÇÃO DA UNIVERSIDADE<br />
FEDERAL DE SÃO PAULO UNIFESP/EPM<br />
Autores: Wajsberg M; Abrahao M; Cervantes O<br />
Instituição: UNIFESP/EPM<br />
Objetivos<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho é caracterizar nutricionalmente a população atendida no ambulatório <strong>de</strong> cirurgia <strong>de</strong><br />
cabeça e pescoço, da UNIFESP/EPM, nos anos <strong>de</strong> 2007 e 2008.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram avaliados 189 pacientes adultos e idosos que passaram pela consulta <strong>de</strong> nutrição. Do total <strong>de</strong><br />
pacientes 26 (13,7%) eram do sexo f<strong>em</strong>inino e 163 (86,3%) masculino. Com relação à faixa etária, apenas 1<br />
(0,5%) paciente era adolescente; 114 (60,3%) pacientes eram adultos e 75 (39,7%) idosos (com ida<strong>de</strong> maior<br />
nutricional, utilizou-se o Índice <strong>de</strong> Massa Corpórea (IMC), com os pontos <strong>de</strong> corte propostos pela OMS,<br />
1995 e 1997, para os adultos e o <strong>de</strong> Lipschitz, 1994 para os idosos. Como o número <strong>de</strong> pacientes do sexo<br />
f<strong>em</strong>inino era b<strong>em</strong> menor, do que os do sexo masculino, os dados foram avaliados todos juntos, s<strong>em</strong> a<br />
separação por sexo.<br />
Resultado<br />
Dentre os adultos foram encontrados 39 (34,2%) <strong>de</strong>snutridos, sendo 12 (10,5%) com <strong>de</strong>snutrição grave, 12<br />
(10,5%) com <strong>de</strong>snutrição mo<strong>de</strong>rada e 15 (13,1%) com <strong>de</strong>snutrição leve; 64 (56,1%) eram eutróficos, 8<br />
(7,0%) apresentavam sobrepeso e apenas 3 (2,7 %) eram obesos. Dentre os idosos, 44 (58,7%) eram<br />
<strong>de</strong>snutridos, 23 (30,7%) eutróficos e apenas 8 obesos (10,6%). Só foram incluídos neste trabalho aqueles<br />
pacientes que possuíam dados <strong>de</strong> para o calculo do IMC. A média <strong>de</strong> IMC para os adultos foi <strong>de</strong> 20,21<br />
ao serviço <strong>de</strong>snutridos<br />
Conclusão<br />
Mesmo que a média do IMC dos adultos mostrou um diagnóstico nutricional <strong>de</strong> eutrofia, o numero <strong>de</strong><br />
pacientes com <strong>de</strong>snutrição mo<strong>de</strong>rada e grave foi importante (24 pacientes - 21 %). O câncer <strong>de</strong> cabeça e<br />
pescoço é uma doença on<strong>de</strong> os pacientes na maioria das vezes já chegam ao serviço <strong>de</strong> saú<strong>de</strong> com<br />
diagnóstico <strong>de</strong> <strong>de</strong>snutrição, uma vez que os mesmos ficam impossibilitados <strong>de</strong> se alimentar<strong>em</strong> por boca.<br />
Portanto quanto antes ocorrer o paciente chegar ao serviço, fizer o diagnóstico da doença e a intervenção<br />
nutricional, melhor as condições do paciente para suportar o tratamento agressivo e <strong>de</strong> sua recuperação.<br />
Unitermos<br />
avaliação do estado nutricional - indice <strong>de</strong> massa corporea - cancer <strong>de</strong> cabeça e pescoço - <strong>de</strong>snutrição<br />
IC43 - PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO EXCESSO DE PESO PÓS-TRANSPLANTE<br />
HEPÁTICO
Autores: Ribeiro HS; Anastácio LR; Ferreira LG; Liboredo JC; Correia MITD<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Minas Gerais<br />
Objetivos<br />
O ganho <strong>de</strong> peso pós-transplante (Tx) hepático está b<strong>em</strong> <strong>de</strong>scrito na literatura. Porém, o ganho excessivo<br />
está associado a co-morbida<strong>de</strong>s e alterações metabólicas, inclusive com prejuízo da função hepática,<br />
po<strong>de</strong>ndo acarretar esteatose e progredir para esteatopatite não alcoólica, fibrose e cirrose. O presente<br />
trabalho objetivou i<strong>de</strong>ntificar os fatores associados ao excesso <strong>de</strong> peso (EP) pós-transplante.<br />
Materiais e métodos<br />
Pacientes submetidos ao Tx hepático foram transversalmente avaliados <strong>de</strong> março a outubro/2008. O EP foi<br />
<strong>de</strong>finido pelo Índice <strong>de</strong> Massa Corporal (IMC) maior que 25 kg/m². A presença do EP foi associada com<br />
sexo, ida<strong>de</strong>, cor da pele, escolarida<strong>de</strong>, estado marital, renda, ausência <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> profissional<br />
r<strong>em</strong>unerada, horas <strong>de</strong> sono, tabagismo, cessação do tabagismo, nível <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> física, história pregressa<br />
<strong>de</strong> EP (anterior à doença hepática), indicação ao transplante, t<strong>em</strong>po pós-transplante, uso <strong>de</strong><br />
tracolimus/ciclosporina, dose acumulada <strong>de</strong> prednisona, t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> uso <strong>de</strong> prednisona, história familiar <strong>de</strong><br />
EP, IMC do doador e fatores dietéticos obtidos por meio da realização da história habitual da dieta. Os<br />
dados foram analisados no programa SPSS 11.0. Foram utilizados os testes <strong>de</strong> Kolmogorov-Smirnov, Mann-<br />
Whitney, Teste t <strong>de</strong> Stu<strong>de</strong>nt e Qui-quadrado. O p
inespecífica (RCUI), com ida<strong>de</strong> entre 19 e 63 anos e t<strong>em</strong>po médio <strong>de</strong> diagnóstico <strong>de</strong> 7,9 (1-22) anos. As<br />
principais intolerâncias alimentares foram relacionadas à lactose, frutas e hortaliças, mas também foi<br />
relatada intolerância a carne, feijão, doces, gorduras, condimentos, massas, refrigerantes e café. A ingestão<br />
<strong>de</strong> laticínios variou <strong>de</strong> 1,4 a 2,6 porções diárias, vegetais 0,7 a 1,4 porções e <strong>de</strong> frutas <strong>de</strong> 0,8 a 1,4 porções<br />
diárias entre os grupos <strong>de</strong> pacientes. A análise do QFAS i<strong>de</strong>ntificou <strong>de</strong>ficiência na ingestão <strong>de</strong> energia,<br />
fibras, potássio, magnésio, cálcio, retinol, menadiona, folato, tocoferol, tiamina, riboflavina, niacina e<br />
colecalciferol. A ingestão <strong>de</strong> proteína foi superior às necessida<strong>de</strong>s, <strong>em</strong> todos os grupos, e a ingestão <strong>de</strong><br />
lipídios foi a<strong>de</strong>quada, exceto para os pacientes com RCUI <strong>em</strong> r<strong>em</strong>issão, que ingeriram menos que 20% do<br />
VET.<br />
Conclusão<br />
As principais intolerâncias alimentares foram relacionadas à lactose, frutas e hortaliças. A ingestão <strong>de</strong><br />
alimentos está comprometida, apresentando <strong>de</strong>ficiência <strong>de</strong> nutrientes importantes como cálcio,<br />
colecalciferol, menadiona e folato, <strong>de</strong>ntre outros.<br />
Unitermos<br />
Doença inflamatória intestinal, intolerância alimentar, <strong>de</strong>ficiências alimentares<br />
IC45 - TERAPIA NUTRICIONAL NO PACIENTE COM GVHD INTESTINAL AGUDO APÓS<br />
TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA – RELATO DE CASO<br />
Autores: Paiva MEVR; Bernhard AB; Oliveira MRM<br />
Instituição: Hospital Sírio Libanês<br />
Objetivos<br />
Descrever e analisar criticamente a evolução dos indicadores nutricionais <strong>em</strong> um paciente com GVHD<br />
digestivo, após transplante <strong>de</strong> medula óssea alogênico.<br />
Materiais e métodos<br />
O estudo foi realizado na Unida<strong>de</strong> Oncológica, 8º andar C, do Hospital Sírio Libanês. Os dados foram<br />
coletados pela aluna pesquisadora do prontuário do paciente <strong>de</strong> 11/03/2009 até 30/03/2009. Além disso, foi<br />
feita a observação da evolução clínica do paciente. O responsável legal assinou um termo <strong>de</strong> consentimento<br />
livre e esclarecido padronizado pelo hospital. Não houve intervenção n<strong>em</strong> riscos para o paciente. O trabalho<br />
foi aprovado pelo comitê <strong>de</strong> ética do Hospital Sírio Libanês.<br />
Resultado<br />
O paciente acompanhado <strong>de</strong>senvolveu GVHD (graft-versus-host disease) intestinal grave e GVHD <strong>de</strong> pele<br />
após 60 dias da realização do TMO (transplante <strong>de</strong> medula óssea) alogênico e permaneceu com nutrição<br />
parenteral (NPP) exclusiva, com glutamiana, por 59 dias quando foi incluída dieta oral líquida suspensa<br />
cinco dias <strong>de</strong>pois <strong>de</strong>vido a ocorrência <strong>de</strong> íleo paralítico. Foi retomada a NPP exclusiva por mais 12 dias<br />
quando foi introduzida ingestão oral novamente, conforme <strong>de</strong>scrito no protocolo <strong>de</strong> GVHD intestinal do<br />
Hospital Sírio Libanês, permanecendo <strong>de</strong> 3 a 5 dias <strong>em</strong> cada etapa. Apresentou aceitação regular da dieta<br />
oral e evolução clínica favorável, o volume da sua ingestão foi crescendo gradativamente e as fezes foram<br />
ganhando consistência e reduzindo o volume. Quando foi introduzida a lactose o paciente apresentou<br />
náuseas e vômitos e por esse motivo foi retrocedida a etapa.<br />
Conclusão<br />
O apoio da equipe <strong>de</strong> nutrição foi essencial na recuperação do paciente, pois o GVHD digestivo agri<strong>de</strong><br />
fort<strong>em</strong>ente o estado nutricional do paciente. A nutrição parenteral utilizada foi <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> valia no auxilio ao<br />
tratamento. O protocolo <strong>de</strong> alimentação oral para GVHD digestivo do Hospital Sírio Libanês foi aplicado com<br />
sucesso nesse paciente.<br />
Unitermos<br />
GVHD, terapia nutricional parenteral, transplante <strong>de</strong> medula óssea alogênico, nutrição oral<br />
IC46 - EFEITO DA SOJA SOBRE O PERFIL BIOQUÍMICO E ESTADO NUTRICIONAL EM PACIENTE<br />
COM HEPATITE C CRÔNICA: UM ENSAIO CLINICO RANDOMIZADO<br />
Autores: Oliveira LPM; Mazza RPJ; Freitas JDD; Santos DC; Toralles MBP; Lyra LGC<br />
Instituição: Escola <strong>de</strong> Nutrição da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral da Bahia
Objetivos<br />
Avaliar o efeito da supl<strong>em</strong>entação com soja integral <strong>em</strong> pó sobre o perfil bioquímico e estado nutricional <strong>em</strong><br />
pacientes com infecção pelo Vírus da Hepatite C (VHC).<br />
Materiais e métodos<br />
Amostra é composta por pacientes do Ambulatório <strong>de</strong> Nutrição e Hepatologia do Complexo Hospitalar<br />
Universitário Professor Edgard Santos. Foram incluídos 56 pacientes adultos com diagnóstico <strong>de</strong> hepatite C<br />
crônica, com ou s<strong>em</strong> cirrose hepática; consumo atual <strong>de</strong> etanol inferior a 40 g/dia; s<strong>em</strong> uso anti-virais<br />
(Interferon/ribavirina) por período superior a três meses; e com capacida<strong>de</strong> funcional do fígado ainda<br />
preservada (Child A e B). Adotou-se um ensaio clínico randomizado simples cego, com 32g/dia <strong>de</strong><br />
supl<strong>em</strong>entação proteína animal (caseína) ou vegetal (soja) <strong>em</strong> proporções isocalóricas e isonitrogenadas,<br />
por 12 s<strong>em</strong>anas. O acompanhamento clínico e nutricional foi realizado com consultas mensais, avaliação<br />
completa do estado antropométrico, composição corporal e testes bioquímicos foram realizados no baseline<br />
e após a intervenção. Foi utilizado o software SPSS para a realização das análises estatísticas, e o teste t<br />
<strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt para análise pareada e não pareada. Consi<strong>de</strong>rou-se o nível <strong>de</strong> significância estatística <strong>de</strong> 5%<br />
para a aceitação das relações investigadas.<br />
Resultado<br />
23 pacientes foram supl<strong>em</strong>entados com proteína animal e 23 com proteína vegetal. A amostra foi constituída<br />
<strong>de</strong> 33 (58,9%) <strong>de</strong> indivíduos do sexo masculino, com predomínio do genótipo 1 (n=35/62,5%), com<br />
prevalência <strong>de</strong> esteatose hepática <strong>de</strong> 41,2% (n=14); 27 (48,2%) já tinha realizado tratamento anti-viral,<br />
recidivantes ou não respon<strong>de</strong>dores. Nesta análise preliminar, o grupo que usou proteína vegetal apresentou<br />
melhora no perfil bioquímico, após as 12 s<strong>em</strong>anas <strong>de</strong> intervenção. Houve redução significante do colesterol<br />
total (167 vs 154/p=0,01), do LDL (98,9 vs 91,7 /p=0,05), globulina (4,0 vs 3,5 / p=0,001), ALT (92 vs 74,1 /<br />
p=0,02) e gama GT (175 vs 126,8/ p=0,04). Após a intervenção, verificou-se níveis mais baixos <strong>de</strong> AST<br />
(p=0,007) e ALT (p=0,001) no grupo que consumiu soja; redução dos níveis da gama GT e fosfatase alcalina<br />
foram observadas também neste grupo mas s<strong>em</strong> significância estatística. O índice <strong>de</strong> HOMA será avaliado<br />
nos grupos estudados. Os valores do IMC, dobras cutâneas e análise <strong>de</strong> composição corporal, não<br />
apresentaram diferença significante entre os grupos.<br />
Conclusão<br />
Pacientes com infecção crônica pelo VHC após o uso da soja integral por 12 s<strong>em</strong>anas tiveram melhora do<br />
perfil lipídico e redução das enzimas hepáticas. Colaboração: Centro Colaborador Nor<strong>de</strong>ste II – Escola <strong>de</strong><br />
Nutrição da UFBA<br />
Unitermos<br />
Vírus da Hepatite C , Nutrição, soja, ensaio clinico<br />
IC47 - ESTUDO DOS POTENCIAIS CANDIDATOS PARA TRANSPLANTE INTESTINAL DO GRUPO<br />
AMULSIC DO HC FMUSP<br />
Autores: Lee ADW; Nogueira Santos MA; Goastico SSV; Catalani L; Barbosa ALV; Gonçalves Dias MC<br />
Instituição: Departamento <strong>de</strong> Gastroenterologia do HC FMUSP<br />
Objetivos<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste estudo foi a análise retrospectiva <strong>de</strong> potencias candidatos ao Transplante Intestinal (TI).<br />
Materiais e métodos<br />
Os 34 pacientes <strong>em</strong> NPD foram submetidos ao estudo, avaliando-se os seguintes parâmetros: ida<strong>de</strong>, sexo,<br />
doença <strong>de</strong> base, intestino r<strong>em</strong>anescente, complicação da SIC, tipo <strong>de</strong> cateter, número <strong>de</strong> infecções e causa<br />
do óbito. Deste grupo, apenas 17 pacientes (50%) apresentaram falência intestinal com <strong>de</strong>pendência total<br />
da NPD. As principais indicações do TI foram: Hepatopatia, presença <strong>de</strong> trombose <strong>em</strong> duas ou mais veias<br />
centrais, Sepsis recidivante pelo cateter central e distúrbio hidroeletrolítico. Quanto ao estudo do intestino<br />
r<strong>em</strong>anescente foi avaliado através do exame contrastado (transito intestinal), sendo o grupo <strong>de</strong> 34 pacientes<br />
divididos <strong>em</strong> 4 subgrupos <strong>de</strong> acordo com a extensão do intestino r<strong>em</strong>anescente: Subgrupo A com perda<br />
maior que 50% do trato Jejuno ileal (TJI) com válvula íleo-cecal (VIC); Subgrupo B com perda maior que<br />
50% do TJI s<strong>em</strong> VIC; Subgrupo C com perda menor que 50% do TJI com VIC; Subgrupo D com perda<br />
menor 50% do TJI s<strong>em</strong> VIC. O cateter central é s<strong>em</strong>pre manipulado pela equipe da Cirurgia Vascular no<br />
centro cirúrgico, locado e posicionado por Fluoroscopia e submetido ao doppler colorido para avaliação e<br />
controle dos vasos centrais regularmente.
Resultado<br />
• Ida<strong>de</strong> média: 39,79 ± 14,94 anos • Sexo masculino e f<strong>em</strong>inino iguais • Doença <strong>de</strong> base: Síndrome <strong>de</strong><br />
Gardner (5%), apendicite (5%), doença <strong>de</strong> Crohn (5%), linfoma intestinal (5%), câncer colorretal (5%),<br />
pseudo-obstrução intestinal (15%), trauma abdominal (15%) e trombose mesentérica (45%). • Intestino<br />
r<strong>em</strong>anescente: subgrupo A (21%), subgrupo B (0%), subgrupo C (14%) e subgrupo D (65%). • Complicação<br />
por trombose venosa 1,07 ± 0,73. • Tipo <strong>de</strong> cateter (HICKMAN) e número <strong>de</strong> infecções pelo cateter central<br />
2,29 ± 1,44. • T<strong>em</strong>po <strong>de</strong> sobrevida <strong>em</strong> NPD 2,75 ± 2,35 anos.<br />
Conclusão<br />
A presença da válvula ileocecal é importante na prevenção da SIC. Maioria dos óbitos foi causada pelo<br />
quadro séptico pelo cateter central. A partir dos resultados animadores do Transplante Intestinal (TI),<br />
principalmente melhora na sobrevida e na qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida <strong>em</strong> gran<strong>de</strong>s centros internacionais, têm se<br />
estimulado à introdução do TI clínica como modalida<strong>de</strong> terapêutica, para isto se concretizar é fundamental a<br />
presença do AMULSIC.<br />
Unitermos<br />
Transplante intestinal, Síndrome do intestino curto<br />
IC48 - SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA B12 SUBLINGUAL APÓS BYPASS GÁSTRICO<br />
Autores: Pereira SE; Aquino LA; Silva JS; Andra<strong>de</strong> PVB; Saboya C; Ramalho A<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
Objetivos<br />
Avaliar o impacto da supl<strong>em</strong>entação <strong>de</strong> vitamina B12 sublingual até o sexto mês <strong>de</strong> pós-operatório do<br />
Bypass gástrico.<br />
Materiais e métodos<br />
A coleta <strong>de</strong> dados foi realizada com obesos grau III (índice <strong>de</strong> massa corporal ³ 40 kg/m2), <strong>de</strong> ambos os<br />
sexos, ida<strong>de</strong> entre 20 e 60 anos atendidos na clínica cirúrgica Carlos Saboya na cida<strong>de</strong> do Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
no período <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2008 a janeiro <strong>de</strong> 2009. Os pacientes foram submetidos à avaliação bioquímica<br />
para dosag<strong>em</strong> <strong>de</strong> vitamina B12 no pré-operatório (T0), com 30 (T1) e 180 (T2) dias <strong>de</strong> pós-operatório,<br />
sendo consi<strong>de</strong>rado ina<strong>de</strong>quado um valor < 221 pmol/L. A supl<strong>em</strong>entação da vitamina B12 sublingual (300<br />
mcg/dia) ocorreu no pós-operatório imediato.<br />
Resultado<br />
Foram avaliados 54 pacientes (74,1% mulheres e 25,9% homens) com média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 36,9 ± 11,6 anos.<br />
A prevalência <strong>de</strong> ina<strong>de</strong>quação <strong>de</strong> vitamina B12 foi <strong>de</strong> 13,2%, 9,4% e 5,7% e as médias <strong>de</strong> vitamina B12<br />
foram 385,26±183,11 pmol/L, 483,53±267,08 pmol/L e 420,51±199,61 pmol/L, no T0, T1 e T2,<br />
respectivamente. A diferença das médias entre os indivíduos no T0 e T1 foi significativa (p=0,01).<br />
Conclusão<br />
A supl<strong>em</strong>entação <strong>de</strong> vitamina B12 sublingual se mostrou eficiente na diminuição da <strong>de</strong>ficiência sérica <strong>de</strong>ssa<br />
vitamina ao longo do estudo. Dessa forma, o monitoramento bioquímico b<strong>em</strong> como a administração<br />
sublingual <strong>de</strong> B12 <strong>de</strong>v<strong>em</strong> integrar a rotina <strong>de</strong> acompanhamento <strong>de</strong> pacientes submetidos ao Bypass<br />
gástrico a fim <strong>de</strong> evitar a <strong>de</strong>ficiência <strong>de</strong> vitamina B12 e conseqüências mais graves da mesma no âmbito<br />
neurológico central e periférico.<br />
Unitermos<br />
Bypass gástrico, vitamina B12, supl<strong>em</strong>entação, pós-operatório<br />
IC49 - VERIFICAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL, PERFIL LIPÍDICO, PRESENÇA DE ESTEATOSE<br />
HEPÁTICA E SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES COM INDICAÇÃO DE CIRURGIA<br />
BARIÁTRICA<br />
Autores: Vicente MA; Freitas AR<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> do Centro-Oeste do Paraná<br />
Objetivos
O objetivo <strong>de</strong>sse trabalho foi verificar o perfil nutricional, a presença <strong>de</strong> esteatose hepática e síndrome<br />
metabólica, b<strong>em</strong> como o perfil lipídico <strong>de</strong> pacientes com indicação médica <strong>de</strong> cirurgia bariátrica.<br />
Materiais e métodos<br />
O estudo foi realizado com 16 pacientes, com indicação prévia <strong>de</strong> cirurgia bariátrica na técnica Fobi Capella,<br />
<strong>em</strong> uma clínica <strong>de</strong> gastroenterologia na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Cascavel-PR. Esses pacientes foram avaliados um mês<br />
antes da cirurgia e para o diagnóstico nutricional, utilizou-se o Índice <strong>de</strong> Massa Corporal (IMC), com critérios<br />
<strong>de</strong> classificação da Organização Mundial <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> (1997). A presença <strong>de</strong> esteatose hepática foi verificada<br />
por meio <strong>de</strong> ecografia e a síndrome metabólica foi diagnosticada <strong>de</strong> acordo com os padrões estabelecidos<br />
pela American Heart Association (2005). O perfil lipídico dos pacientes foi verificado por meio <strong>de</strong> exames<br />
bioquímicos <strong>de</strong> colesterol total, HDL, LDL e triglicéri<strong>de</strong>s. A análise estatística foi realizada por meio <strong>de</strong><br />
análise <strong>de</strong>scritiva, expressa <strong>em</strong> médias, porcentagens e <strong>de</strong>svio-padrão.<br />
Resultado<br />
Observou-se que, 75% dos avaliados eram mulheres e 25% eram homens, com ida<strong>de</strong> média (anos) <strong>de</strong><br />
46+15,55. Com relação ao estado nutricional, 56,25% apresentavam obesida<strong>de</strong> grau II e 43,75% obesida<strong>de</strong><br />
grau III. Tratando-se da esteatose hepática, <strong>em</strong> 13 dos 16 pacientes, verificou-se que 38,46% apresentaram<br />
infiltração gordurosa mo<strong>de</strong>rada, 38,46% infiltração gordurosa leve e 23,08% estavam s<strong>em</strong> alterações <strong>de</strong><br />
gordura no fígado. Dos 16 pacientes, 50% apresentaram síndrome metabólica e 14 (87,5%) possuíam os<br />
exames completos do perfil lipídico, sendo que, <strong>em</strong> relação ao HDL 21,43% apresentavam níveis inferiores<br />
ao recomendado (> 40mg/dL). Para o LDL, 21,43% apresentavam níveis ótimos (
pacientes apresentaram níveis normais entre 8,8 a 10,5 mg/dL; 30% dos pacientes apresentaram níveis<br />
abaixo <strong>de</strong> 8,8 mg/dL e 6% dos pacientes apresentaram níveis acima <strong>de</strong> 10,5 mg/dL <strong>de</strong> cálcio sérico.<br />
Analisando os níveis <strong>de</strong> cálcio sérico nos exames dos 50 pacientes 30 dias pós-cirurgia dos 50 pacientes<br />
obteve-se que 20% dos pacientes tiveram níveis <strong>de</strong> cálcio sérico abaixo <strong>de</strong> 8,8 mg/dL; 78% dos pacientes<br />
apresentaram níveis <strong>de</strong> 8,8 a 10,5 mg/dL e 2% dos pacientes apresentaram níveis acima <strong>de</strong> 10,5 mg/dL.<br />
Analisando os níveis <strong>de</strong> cálcio sérico nos exames dos 50 pacientes 180 dias pós-cirurgia dos 50 pacientes<br />
obteve-se que 16% dos pacientes tiveram níveis <strong>de</strong> cálcio sérico abaixo <strong>de</strong> 8,8 mg/dL; 76% dos pacientes<br />
apresentaram níveis <strong>de</strong> 8,8 a 10,5 mg/dL e 8% dos pacientes apresentaram níveis acima <strong>de</strong> 10,5 mg/dL.<br />
Conclusão<br />
A supl<strong>em</strong>entação nutricional provavelmente po<strong>de</strong> ter contribuído para a redução da <strong>de</strong>ficiência na absorção<br />
do cálcio. Como a técnica cirúrgica <strong>de</strong> gastroplastia vertical <strong>em</strong> Y <strong>de</strong> Roux impõe uma restrição no volume<br />
alimentar ingerido, o paciente <strong>de</strong>verá ser orientado no pós operatório e inclui <strong>em</strong> seu cardápio alimentos <strong>de</strong><br />
melhor qualida<strong>de</strong> nutricional alimentos fontes <strong>de</strong> cálcio e assim como outras vitaminas e minerais que têm<br />
sua absorção diminuída. A seleção <strong>de</strong> alimentos, nesse caso, <strong>de</strong>verá ser mais qualitativa do que<br />
quantitativa. Suscita-se aqui também a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> contínuas pesquisas que atest<strong>em</strong> melhores<br />
resultados na absorção <strong>de</strong> cálcio <strong>de</strong>sses pacientes no pós operatório sendo assim uma diminuição da<br />
supl<strong>em</strong>entação vitamínica.<br />
Unitermos<br />
Cálcio, Gastroplastia, y <strong>de</strong> roux, absorção, obesida<strong>de</strong><br />
IC51 - CIRURGIA BARIÁTRICA PELA TÉCNICA DE WITTGROVE: COMO SE ENCONTRAM OS<br />
PACIENTES APÓS 12 MESES DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA?<br />
Autores: Pereira UMG; Gabardo CRA; Morimoto IMI; Paganotto M; Sigwalt M<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Positivo<br />
Objetivos<br />
Traçar o perfil nutricional <strong>de</strong> pacientes submetidos à cirurgia bariátrica pela técnica <strong>de</strong> Wittgrove após 12<br />
meses da realização.<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo observacional que incluiu adultos atendidos <strong>em</strong> 2 clínicas médicas <strong>de</strong> Curitiba-PR, realizado entre<br />
abril e set<strong>em</strong>bro <strong>de</strong> 2008. A partir <strong>de</strong> uma lista <strong>de</strong> 80 pacientes contatados por telefone, obteve-se uma<br />
amostra <strong>de</strong> 21 mulheres e 1 hom<strong>em</strong> que atendiam aos critérios <strong>de</strong> inclusão, sendo o último excluído do<br />
estudo. Os integrantes da amostra realizaram auto-preenchimento <strong>de</strong> um questionário sobre condições e<br />
hábitos <strong>de</strong> vida, freqüência <strong>de</strong> consumo alimentar, prática <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> física e consultas <strong>de</strong> nutrição no pré<br />
e pós-operatório(PO). Após, foram entrevistados para coleta <strong>de</strong> dados referentes às comorbida<strong>de</strong>s,uso <strong>de</strong><br />
supl<strong>em</strong>ento nutricional, intolerâncias alimentares e recordatório alimentar <strong>de</strong> 24 horas. Peso e altura foram<br />
aferidos para o cálculo do Índice <strong>de</strong> Massa Corporal (IMC). Todos foram encaminhados ao mesmo<br />
laboratório para realização dos exames. A avaliação da evolução das comorbida<strong>de</strong>s foi realizada segundo<br />
metodologia proposta por Puzziferri N et al(2006) e Shauer P et al(2003) classificando-as segundo utilização<br />
<strong>de</strong> medicamento e intensificação da terapêutica no PO. O consumo alimentar foi avaliado pelo software<br />
DietWin Profissional 2008 ®. Para comparação da porcentag<strong>em</strong> <strong>de</strong> perda do excesso <strong>de</strong> peso (%PEP)<br />
utilizou-se o teste t Stu<strong>de</strong>nt, consi<strong>de</strong>rando nível <strong>de</strong> significância <strong>de</strong> 0,05.<br />
Resultado<br />
Foi encontrado IMC médio 41,76+4,4 kg/m2 antes da cirurgia,no peso mínimo, foi 25,2+2,6 kg/m2. No<br />
momento da entrevista era <strong>de</strong> 27,1+3,2 kg/m2. A %PEP no peso mínimo foi <strong>de</strong> 92+0,15% e 90+0,14% para<br />
os grupos que realizaram cirurgia entre 12-35meses e 36-82meses, respectivamente(p>0,05). No momento<br />
da entrevista era <strong>de</strong> 86%+0,15 e 75,0+0,15 nos mesmos grupos(p
Conclusão<br />
tendência a ganho <strong>de</strong> peso tardio, surgimento <strong>de</strong> comorbida<strong>de</strong>s e carências nutricionais, <strong>de</strong>monstrando<br />
necessida<strong>de</strong> do acompanhamento multidisciplinar contínuo para manutenção <strong>de</strong> resultados positivos <strong>em</strong><br />
longo prazo.<br />
Unitermos<br />
obesida<strong>de</strong>, cirurgia bariátrica, perfil nutricional, ganho <strong>de</strong> peso tardio<br />
IC52 - OCORRÊNCIA DE CEGUEIRA NOTURNA EM GESTANTES SUBMETIDAS AO BYPASS<br />
GÁSTRICO<br />
Autores: Chagas CB; Pereira S; Saboya C; Ramalho A<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
Objetivos<br />
Avaliar a prevalência da Deficiência <strong>de</strong> Vitamina A (DVA) <strong>em</strong> gestantes após o Bypass gástrico, por trimestre<br />
gestacional, utilizando o indicador funcional Cegueira Noturna Gestacional (XN).<br />
Materiais e métodos<br />
A população estudada foi constituída por gestantes adultas (ida<strong>de</strong> cronológica >20 anos) atendidas no Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro, que foram captadas <strong>de</strong> 2007 a 2008. Os critérios <strong>de</strong> inclusão foram: adultas, gestação <strong>de</strong> feto<br />
único, que tenham realizado gastroplastia redutora com reconstituição <strong>em</strong> Y <strong>de</strong> Roux antes da<br />
gestação.Como rotina do atendimento no Pré-natal todas as gestantes seguiram a recomendação <strong>de</strong><br />
supl<strong>em</strong>entação <strong>de</strong> vitaminas e minerais, recebendo 5000 UI <strong>de</strong> retinol por dia.Para avaliar a prevalência <strong>de</strong><br />
DVA pelo indicador funcional XN gestacional, foi utilizada a entrevista padronizada pela OMS (1996) e<br />
Organização Panamericana <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> - OPS, adaptada e validada para gestantes por Saun<strong>de</strong>rs e col (2004,<br />
2005). A entrevista é composta pelas perguntas: 1) T<strong>em</strong> dificulda<strong>de</strong> para enxergar durante o dia?; 2) T<strong>em</strong><br />
dificulda<strong>de</strong> para enxergar com pouca luz ou à noite?; 3) T<strong>em</strong> cegueira noturna? Foram consi<strong>de</strong>rados casos<br />
<strong>de</strong> cegueira noturna, quando a resposta à pergunta 1 foi Não e ao menos uma resposta às perguntas 2 ou 3<br />
foi Sim. Caso a entrevistada apresentasse algum probl<strong>em</strong>a ocular corrigido por óculos ou lente <strong>de</strong> contato,<br />
foi questionada a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> visão com o uso <strong>de</strong>stes.A entrevista foi realizada por um único<br />
entrevistador, <strong>em</strong> todos os trimestres gestacionais.<br />
Resultado<br />
Até o momento, participaram do estudo 11 gestantes e a prevalência <strong>de</strong> DVA foi observada <strong>em</strong> mais <strong>de</strong> 50%<br />
da amostra, <strong>em</strong> todos os trimestres gestacionais, mesmo com supl<strong>em</strong>entação <strong>de</strong> rotina (63,6%, 54,5% e<br />
63,6% no primeiro, segundo e terceiro trimestres, respectivamente).<br />
Conclusão<br />
Consi<strong>de</strong>rando que a obesida<strong>de</strong> <strong>de</strong> grau III apresenta os maiores índices <strong>de</strong> mortalida<strong>de</strong> do mundo, que o<br />
tratamento cirurgico para controle da obesida<strong>de</strong> se apresenta como método atual que controla <strong>de</strong> forma<br />
efetiva o excesso <strong>de</strong> peso e que a maioria dos pacientes submetidos à cirurgia são mulheres, a gestação<br />
pós-cirurgia passa a ser uma realida<strong>de</strong>, com os benefícios relacionados à esfera reprodutiva com a<br />
realização da cirurgia.A redução na ingestão alimentar e da absorção <strong>de</strong> nutrientes como conseqüência póscirúrgica,<br />
po<strong>de</strong> contribuir para a gestação evoluir com resultados <strong>de</strong>sfavoráveis, associando ao fato que<br />
durante o período gestacional, já ocorre aumento das necessida<strong>de</strong>s nutricionais para atendimento a mãe e<br />
ao concepto.A DVA está entre as <strong>de</strong>ficiências mais prevalentes e <strong>de</strong> maior impacto sobre a saú<strong>de</strong> pública<br />
nesse momento biológico, elevando as taxas <strong>de</strong> morbida<strong>de</strong> e mortalida<strong>de</strong> materna. Desta forma, esta<br />
<strong>de</strong>ficiência <strong>de</strong>ve ser investigada durante o pré-natal, propiciando um melhor prognóstico e evolução do<br />
grupo materno-infantil.<br />
Unitermos<br />
Gestação, Deficiência <strong>de</strong> Vitamina A, Cegueira Noturna Gestacional, Bypass gástrico<br />
IC53 - QUALIDADE DE VIDA E IMAGEM CORPORAL DE MULHERES EX-OBESAS MÓRBIDAS EM<br />
PRÉ-OPERATÓRIO DE ABDOMINOPLASTIA PÓS-BARIÁTRICA<br />
Autores: Huijsmans JPR; Garcia EB; Omonte IR; Bussolaro R; Ferreira ACB; Ferreira LM<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> São Paulo
Objetivos<br />
O presente trabalho t<strong>em</strong> como objetivo avaliar a qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida e imag<strong>em</strong> corporal <strong>de</strong> mulheres exobesas<br />
mórbidas <strong>em</strong> pré-operatório <strong>de</strong> Abdominoplastia pós-bariátrica.<br />
Materiais e métodos<br />
O estudo foi realizado entre Março <strong>de</strong> 2007 e Março <strong>de</strong> 2008 na Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> São Paulo<br />
(UNIFESP) com a aprovação do Comitê <strong>de</strong> Ética <strong>em</strong> Pesquisa local (280/08). Quarenta pacientes do gênero<br />
f<strong>em</strong>inino, com ida<strong>de</strong> entre 18 e 65 anos, sendo 22 pacientes obesas mórbidas selecionadas no Ambulatório<br />
<strong>de</strong> Cirurgia Bariátrica da Disciplina <strong>de</strong> endocrinologia da UNIFESP (grupo Controle) e 18 pacientes exobesas<br />
mórbidas selecionadas no Ambulatório <strong>de</strong> Cirurgia Plástica Pós – Bariátrica da disciplina <strong>de</strong> Cirurgia<br />
Plástica da mesma instituição (grupo estudo). A média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> das mulheres do grupo controle foi <strong>de</strong> 44,19<br />
e das mulheres do grupo estudo <strong>de</strong> 45,90 não apresentando diferença estatisticamente significante com um<br />
valor <strong>de</strong> z = 0,31. Foram utilizados como métodos <strong>de</strong> avaliação sendo ambos na versão <strong>em</strong> português, os<br />
questionários: Short Form-36 (SF-36) inclui 36 itens com duas a seis opções para cada resposta, <strong>em</strong> oito<br />
escalas: capacida<strong>de</strong> funcional, aspectos físicos, dor corporal, estado geral <strong>de</strong> saú<strong>de</strong>, vitalida<strong>de</strong>, aspectos<br />
sociais, aspectos <strong>em</strong>ocionais e saú<strong>de</strong> mental, quanto maior sua pontuação melhor a qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida e o<br />
Body Shape Questionnaire (BSQ) questionário específico sobre imag<strong>em</strong> corporal com 34 itens e 6 opções<br />
para cada resposta, bastante eficaz para a <strong>de</strong>terminação da estimativa do tamanho e forma corporal e sua<br />
pontuação é realizada pelo somatório das questões, que quanto maior, pior a imag<strong>em</strong> corporal. A aplicação<br />
dos questionários foi realizada <strong>de</strong> forma auto-administrada assistida, na qual o pesquisador manteve-se a<br />
disposição <strong>em</strong> sala adjacente para eventuais esclarecimentos. A análise estatística foi realizada pelo teste<br />
Mann-Whitney, para comparar cada domínio do SF-36, o BSQ e a ida<strong>de</strong> do grupo controle com o grupo<br />
estudo. O nível <strong>de</strong> rejeição da hipótese <strong>de</strong> nulida<strong>de</strong> fixado <strong>em</strong> 5%, consi<strong>de</strong>rando-se significante valor <strong>de</strong> p <<br />
0,05.<br />
Resultado<br />
Em sete escalas do SF-36 houve diferença estatisticamente significante (p < 0,001) entre os dois grupos<br />
mostrando a melhora da qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> forma geral no grupo estudo, a única escala que não<br />
apresentou diferença significante foi a saú<strong>de</strong> mental (p > 0,05). Já na pontuação do BSQ a média do grupo<br />
controle foi <strong>de</strong> 139,90 e do grupo estudo 99,05 sendo essa diferença estatisticamente significante (p <<br />
0,001) mostrando uma melhora da imag<strong>em</strong> corporal no grupo estudo. Aproximadamente 90% do grupo<br />
controle apresentou algum tipo <strong>de</strong> alteração da imag<strong>em</strong> corporal sendo que no grupo estudo esse número<br />
foi <strong>de</strong> aproximadamente 35%.<br />
Conclusão<br />
A qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida e a imag<strong>em</strong> corporal <strong>de</strong> mulheres ex-obesas mórbidas <strong>em</strong> pré-operatório <strong>de</strong><br />
Abdominoplastia pós-bariátrica é melhor do que a das mulheres obesas mórbidas segundo os questionários<br />
SF-36 e BSQ.<br />
Unitermos<br />
obesida<strong>de</strong> mórbida, qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida, imag<strong>em</strong> corporal, cirurgia bariátrica, cirurgia plástica<br />
IC54 - CIRURGIA BARIÁTRICA: IMPACTO NA COMPOSIÇÃO CORPORAL E TAXA METABÓLICA<br />
BASAL EM LONGO PRAZO<br />
Autores: Aquino L; Matos A; Pereira SE; Neves CE; Saboya CJ; Ramalho A<br />
Instituição: Núcleo <strong>de</strong> Pesquisa <strong>em</strong> Micronutrientes (NPqM) – INJC/UFRJ<br />
Objetivos<br />
Analisar o impacto da cirurgia bariátrica, na composição corporal e taxa metabólica <strong>de</strong> obesos grau III <strong>em</strong><br />
diferentes momentos após a intervenção cirúrgica.<br />
Materiais e métodos<br />
114 pacientes submetidos à gastroplastia redutora <strong>em</strong> Y-<strong>de</strong>-Roux foram avaliados no pré-operatório (T0), 30<br />
(T30) e 180 (T180) dias após a cirurgia. Avaliou-se a variável antropométrica por meio da massa corporal<br />
total (MCT), índice <strong>de</strong> massa corporal (IMC), excesso <strong>de</strong> peso (EP), percentual <strong>de</strong> perda <strong>de</strong> excesso <strong>de</strong><br />
peso (%PEP), gordura corporal relativa (%G), massa corporal magra (MCM), massa corporal gorda (MCG) e<br />
taxa metabólica basal (TMB).<br />
Resultado
Houve redução com diferença significativa (p≤0,01) para todas as variáveis analisadas <strong>em</strong> todos os t<strong>em</strong>pos<br />
consi<strong>de</strong>rados.<br />
Conclusão<br />
A cirurgia bariátrica se mostra eficiente <strong>em</strong> relação à perda <strong>de</strong> peso absoluto e redução na massa gorda<br />
corporal <strong>em</strong> todos os momentos. Ressalta-se, contudo, que a redução significativa na massa corporal<br />
magra e taxa metabólica basal po<strong>de</strong> representar um probl<strong>em</strong>a na manutenção do peso dos pacientes no<br />
pós-operatório. Recomenda-se a prática regular <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> física associada a um conjunto <strong>de</strong> medidas<br />
dietéticas que po<strong>de</strong>rão contribuir para a redução do impacto da cirurgia nas variáveis morfológicas.<br />
Unitermos<br />
Cirurgia Bariátrica, Composição Corporal, Taxa Metabólica Basal<br />
IC55 - PREVALÊNCIA DE OBESIDADE E SUAS CO-MORBIDADES EM PACIENTES ADULTOS<br />
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA/UFPEL<br />
Autores: Duval PA; Santos LP; Nunes NS; Salomão NC; Vitória PS; Assunção MCF<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pelotas<br />
Objetivos<br />
O presente estudo t<strong>em</strong> como objetivo verificar a prevalência <strong>de</strong> obesida<strong>de</strong> e suas co-morbida<strong>de</strong>s entre os<br />
pacientes adultos atendidos no Ambulatório <strong>de</strong> Nutrição/UFPel no período <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2001 a <strong>de</strong>z<strong>em</strong>bro<br />
<strong>de</strong> 2008.<br />
Materiais e métodos<br />
O atendimento ambulatorial nutricional do Hospital Escola/UFPel é realizado através do Sist<strong>em</strong>a Único <strong>de</strong><br />
Saú<strong>de</strong> (SUS). Os pacientes são acompanhados por uma nutricionista do Hospital Escola, professoras e<br />
alunos da Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Nutrição/UFPel. Para todos os pacientes atendidos, é preenchida uma ficha<br />
protocolar na qual constam informações acerca da história clínica do paciente, presença <strong>de</strong> co-morbida<strong>de</strong>s<br />
e realização <strong>de</strong> exercício físico, assim como medidas antropométricas (peso e altura) e anamnese alimentar<br />
com a aplicação <strong>de</strong> um recordatório alimentar <strong>de</strong> 24 horas. Os pacientes receb<strong>em</strong> uma dieta individualizada<br />
na primeira consulta com uma lista <strong>de</strong> substituições <strong>de</strong> alimentos, sendo <strong>de</strong>lineada <strong>de</strong> acordo com as<br />
recomendações da OMS e Organização Pan-Americana da Saú<strong>de</strong> (OPAS). Neste estudo foram incluídos<br />
todos os pacientes obesos, ou seja, com Índice <strong>de</strong> Massa Corporal ≥30 Kg/m2, <strong>de</strong> ambos os sexos, maiores<br />
<strong>de</strong> 20 anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> e acompanhados no período <strong>de</strong> 2001 a 2008. Os pacientes oncológicos, renais<br />
crônicos, aidéticos, gestantes e nutrizes, foram excluídos do trabalho.<br />
Resultado<br />
Foram atendidos no Ambulatório <strong>de</strong> Nutrição do Hospital Escola/UFPel um total <strong>de</strong> 2.837 pacientes no<br />
período <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2001 a <strong>de</strong>z<strong>em</strong>bro <strong>de</strong> 2008, sendo que neste estudo foram analisados somente os<br />
adultos maiores <strong>de</strong> 20 anos, excluindo gestantes, nutrizes, pacientes oncológicos, renais crônicos e<br />
aidéticos, que representaram uma amostra <strong>de</strong> 2.058 pacientes. A prevalência <strong>de</strong> obesida<strong>de</strong> foi i<strong>de</strong>ntificada<br />
<strong>em</strong> 891 pacientes adultos, o que correspon<strong>de</strong> a 31% da amostra total <strong>de</strong> pacientes atendidos e 43% dos<br />
pacientes estudados, <strong>de</strong>stes, 83,4% do sexo f<strong>em</strong>inino. A obesida<strong>de</strong> classe I foi observada <strong>em</strong> 56,8% dos<br />
pacientes adultos e a co-morbida<strong>de</strong> mais prevalente foi a hipertensão arterial representando 38,8% da<br />
amostra, seguidos <strong>de</strong> diabetes mellitus com 15,6% e dislipi<strong>de</strong>mias com 13,9%. Foi observado que 55,4%<br />
per<strong>de</strong>ram peso no primeiro retorno e que 33,8% abandonaram o tratamento após a primeira consulta, sendo<br />
que 10,3% dos pacientes compareceram a 09 retornos, e 02 pacientes foram acompanhados por 42<br />
retornos. Na análise bivariada foi observado que a média <strong>de</strong> IMC foi maior nos pacientes hipertensos<br />
(p
IC56 - PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E SUA RELAÇÃO COM OS DEMAIS<br />
FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES EM UMA POPULAÇÃO DE INDIVÍDUOS PORTADORES<br />
DE SOBREPESO OU OBESIDADE<br />
Autores: Tortelli PM; Assunção MCF; Duval PA<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pelotas<br />
Objetivos<br />
Determinar a prevalência <strong>de</strong> hipertensão arterial sistêmica (HAS) <strong>em</strong> uma população <strong>de</strong> indivíduos<br />
portadores <strong>de</strong> sobrepeso ou obesida<strong>de</strong> submetidos a um programa <strong>de</strong> intervenção nutricional com objetivo<br />
<strong>de</strong> per<strong>de</strong>r peso e i<strong>de</strong>ntificar a relação entre os níveis <strong>de</strong> pressão arterial (PA) e fatores <strong>de</strong> risco<br />
cardiovasculares associados, como: características sócio-<strong>de</strong>mográficas, circunferência da cintura, consumo<br />
<strong>de</strong> sal, ingestão calórica, nível <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> física e tabagismo.<br />
Materiais e métodos<br />
Este trabalho foi <strong>de</strong>senvolvido a partir dos dados <strong>de</strong> 242 indivíduos, coletados na linha <strong>de</strong> base do projeto<br />
<strong>de</strong> pesquisa intitulado “intervenção nutricional <strong>em</strong> indivíduos com sobrepeso e obesida<strong>de</strong>: ensaio clínico<br />
aleatorizado”, realizado no período <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2005 a <strong>de</strong>z<strong>em</strong>bro <strong>de</strong> 2006. Tratou-se <strong>de</strong> um ensaio clínico<br />
aleatorizado controlado, realizado no Ambulatório <strong>de</strong> Nutrição do Hospital Escola da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral<br />
<strong>de</strong> Pelotas, cujo atendimento é feito integralmente através do Sist<strong>em</strong>a Único <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> (SUS), <strong>de</strong> junho <strong>de</strong><br />
2005 a <strong>de</strong>z<strong>em</strong>bro <strong>de</strong> 2006. Os critérios <strong>de</strong> inclusão no estudo foram: IMC ≥ 25 Kg/m2, ida<strong>de</strong> ≥ 20 anos e<br />
glic<strong>em</strong>ia <strong>de</strong> jejum < 126 mg/dL. Os participantes excluídos foram os portadores <strong>de</strong>: diabetes mellitus;<br />
síndrome <strong>de</strong> imuno<strong>de</strong>ficiência adquirida (SIDA); doenças hepáticas ou renais cuja prescrição dietética exija<br />
alteração nos percentuais <strong>de</strong> macronutrientes e indivíduos portadores <strong>de</strong> câncer, além <strong>de</strong> gestantes e<br />
lactantes.<br />
Resultado<br />
As análises mostraram que, apesar <strong>de</strong> 81 (33,5%) indivíduos ter<strong>em</strong> referido apresentar alguma vez níveis<br />
tensionais elevados, diagnosticado por médico, a prevalência <strong>de</strong> hipertensão arterial na consulta inicial, na<br />
amostra estudada, foi <strong>de</strong> 11,2% (n = 27). Encontrou-se associação entre HAS e nível <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong>,<br />
mostrando que a prevalência <strong>de</strong> hipertensão é maior entre os indivíduos com pouca ou nenhuma instrução.<br />
Além disso, a prevalência <strong>de</strong> hipertensão também aumentou conforme o aumento da ida<strong>de</strong>. A média <strong>de</strong><br />
ingestão calórica diária, avaliada pela análise <strong>de</strong> recordatório <strong>de</strong> 24 horas foi maior nos entrevistados nãohipertensos<br />
quando comparados aos indivíduos portadores <strong>de</strong> hipertensão arterial. Não se verificou<br />
associação entre hipertensão e as <strong>de</strong>mais variáveis analisadas.<br />
Conclusão<br />
A adoção <strong>de</strong> um estilo <strong>de</strong> vida mais saudável, com mudança <strong>de</strong> hábitos alimentares e redução <strong>de</strong> peso,<br />
<strong>de</strong>ve ser estimulada nessa população <strong>de</strong> indivíduos, visando diminuir o risco cardiocirculatório. Mesmo os<br />
indivíduos que não são hipertensos, são consi<strong>de</strong>rados suscetíveis ao <strong>de</strong>senvolvimento da hipertensão, visto<br />
que o excesso <strong>de</strong> peso é fator predisponente. Logo, estas mudanças seriam convenientes a todos.<br />
Unitermos<br />
Hipertensão arterial, Prevalência, Obesida<strong>de</strong>, Fatores <strong>de</strong> <strong>Risco</strong><br />
IC57 - ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR A PORTADORES DE OBESIDADE, POR DOZE<br />
MESES, NO ESPAÇO UNIMED - VIVENDO SAÚDE / UNIMED SETE LAGOAS<br />
Autores: Silva MG; Ramos RS;Braz ACB; Teixeira DS; Marques KL; Oliveira JR<br />
Instituição: Unimed Sete Lagoas<br />
Objetivos<br />
Mostrar os benefícios clínicos <strong>de</strong> portadores <strong>de</strong> obesida<strong>de</strong>, acompanhados por equipe multidisciplinar:<br />
médico, nutricionista, preparador físico, enfermeira, psicóloga e assistente social.<br />
Materiais e métodos<br />
Os beneficiários Unimed Sete Lagoas, portares <strong>de</strong> obesida<strong>de</strong>, são encaminhados ao Espaço Unimed –<br />
Vivendo Saú<strong>de</strong> por indicação do médico assistente. Consultados pela assistente social e enfermeira, e<br />
encaminhados à nutricionista, ao educador físico e à psicóloga. Após avaliação individual iniciam o grupo<br />
operativo, com duração <strong>de</strong> cinco s<strong>em</strong>anas, sendo enfatizado especialmente a mudança <strong>de</strong> hábitos. Após a
participação neste grupo são encaminhados a grupos <strong>de</strong> nutrição, <strong>de</strong> psicologia e <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> física. As<br />
ativida<strong>de</strong>s psicológicas, s<strong>em</strong>anais, <strong>de</strong> 1:30h, abordam imag<strong>em</strong> corporal, <strong>de</strong>pressão, ansieda<strong>de</strong>, autonomia e<br />
mudança comportamental. As ativida<strong>de</strong>s físicas, 2 vezes s<strong>em</strong>anais <strong>de</strong> 45 min. trabalham exercícios <strong>de</strong><br />
resistência muscular localizada (RML). As <strong>de</strong> nutrição, s<strong>em</strong>anais, <strong>de</strong> 60 min., abordam t<strong>em</strong>as nutricionais <strong>de</strong><br />
interesse e uma vez por mês uma receita é elaborada, testada e aprovada, ou não. Pesa-se, me<strong>de</strong>-se a CA<br />
(circunferência abdominal), afere-se a PA (pressão arterial) e calcula-se o IMC (índice <strong>de</strong> massa corporal).<br />
Utilizou-se balança antropométrica digital, trena métrica, esfingmomanômetro <strong>de</strong> coluna <strong>de</strong> mercúrio,<br />
estetoscópio, calculadora, programa Exel e cozinha experimental.<br />
Resultado<br />
Para análise dos dados consi<strong>de</strong>rou-se os participantes que freqüentaram mais <strong>de</strong> 80% <strong>de</strong> todos os<br />
encontros: 152 participantes, 84% dos inscritos. O grupo eliminou peso, melhorou o IMC e PA e diminuiu a<br />
CA. A PA média do grupo diminuiu, <strong>de</strong> 167,2 X 98,4 mmHg para 130,9 X 67,3 mmHg, sendo que 86% do<br />
grupo t<strong>em</strong> hipertensão. O IMC médio do grupo foi <strong>de</strong> 38,4 m2/Kg para 31,2 m2/Kg. Inicialmente 23,07%<br />
estavam <strong>em</strong> obesida<strong>de</strong> mórbida, 63,46% <strong>em</strong> obesida<strong>de</strong> II, 13,47% <strong>em</strong> obesida<strong>de</strong> I. Ao final <strong>de</strong> 12 meses<br />
13,46% estavam <strong>em</strong> obesida<strong>de</strong> mórbida, 55,77% <strong>em</strong> obesida<strong>de</strong> II, 23,08% <strong>em</strong> obesida<strong>de</strong> I e 7,69% <strong>em</strong><br />
sobrepeso. A CA média inicial era <strong>de</strong> 167cm e foi p/ 105 cm. A média da glic<strong>em</strong>ia foi <strong>de</strong> 152 para 96. A<br />
média <strong>de</strong> colesterol total era <strong>de</strong> 390 e foi p/ 212, a <strong>de</strong> HDL-colesterol <strong>de</strong> 36 para 49; e a <strong>de</strong> triglicéri<strong>de</strong>s foi<br />
<strong>de</strong> 340 p/ 195. O tratamento psicológico mostrou <strong>de</strong>senvolvimento nos níveis <strong>de</strong> consciência corporal e<br />
autonomia, sendo que 90% dos participantes melhoraram o quadro <strong>de</strong> estresse, <strong>de</strong>pressão, ansieda<strong>de</strong> e os<br />
fatores <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>antes da condição do aparecimento <strong>de</strong> doenças crônicas.<br />
Conclusão<br />
O acompanhamento multiprofissional promoveu melhora dos aspectos clínicos dos portadores <strong>de</strong><br />
obesida<strong>de</strong>, sendo que a maioria conseguiu resultados significativos. A a<strong>de</strong>são ao tratamento foi superior ao<br />
da literatura pesquisada.<br />
Unitermos<br />
Obesida<strong>de</strong>, Acompanhamento multidisciplinar, IMC, Beneficiários<br />
IC58 - CORRELAÇÃO ENTRE O EXCESSO DE PESO E O PERFIL LIPÍDICO EM UMA AMOSTRA DE<br />
IDOSOS JOVENS ATENDIDOS EM UM POSTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO<br />
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE<br />
Autores: Ferreira ALL; Ponzi FKAX; FERREIRA VM; Azevedo MMS; Duarte RA; Lima CR<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pernambuco - Departamento <strong>de</strong> Nutrição<br />
Objetivos<br />
Verificar a correlação entre o excesso <strong>de</strong> peso e o perfil lipídico <strong>em</strong> idosos atendidos <strong>em</strong> um posto do<br />
Programa <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> da Família (PSF) no município <strong>de</strong> Vitória <strong>de</strong> Santo Antão- PE.<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo <strong>de</strong> corte transversal, on<strong>de</strong> foram coletados dados <strong>de</strong> 111 pacientes <strong>de</strong> ambos os sexos, na faixa<br />
etária entre 60 e 91 anos através das fichas <strong>de</strong> avaliação nutricional on<strong>de</strong> foi consi<strong>de</strong>rado o índice <strong>de</strong> massa<br />
corpórea (IMC) com a classificação <strong>de</strong> Lipschitz DA, 1994 e dados laboratoriais <strong>de</strong> colesterol total, LDLcolesterol<br />
e HDL-colesterol avaliados segundo as recomendações da IV Diretriz Brasileira sobre<br />
Dislipi<strong>de</strong>mia (SBC, 2007). A construção do banco <strong>de</strong> dados e a análise estatística foram realizadas nos<br />
programas Epi-info versão 6,04 e SPSS.<br />
Resultado<br />
Foi observada uma prevalência <strong>de</strong> excesso <strong>de</strong> peso <strong>em</strong> 64,0% da amostra. Em relação a alterações no<br />
perfil lipídico, foi visto que o colesterol total, LDL-colesterol e HDL-colesterol apresentaram valores <strong>de</strong><br />
36,6%, 26,1% e 40,5%, respectivamente. Na avaliação da possível associação entre as variáveis do perfil<br />
lipídico e o excesso <strong>de</strong> peso, vale <strong>de</strong>stacar que nenhuma associação se mostrou estatisticamente<br />
significante (p>0,05).<br />
Conclusão<br />
O resultado <strong>de</strong>sse estudo mostrou que apesar da elevada prevalência <strong>de</strong> excesso <strong>de</strong> peso encontrada na<br />
amostra, este não foi um fator relevante para exercer influência significante no perfil lipídico dos idosos.<br />
Contudo, o fato <strong>de</strong> não ter sido evi<strong>de</strong>nciada uma correlação entre o peso e as variáveis lipídicas, po<strong>de</strong> ser<br />
<strong>de</strong>vido ao pequeno número amostral. Desse modo, estudos futuros são necessários para propor
esclarecimento sobre o t<strong>em</strong>a estudado, a fim <strong>de</strong> comprovar essa correlação, com o objetivo principal <strong>de</strong><br />
melhorar a qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida dos pacientes <strong>de</strong>ssa faixa etária da população brasileira .<br />
Unitermos<br />
Idosos, estado nutricional, excesso <strong>de</strong> peso, perfil lipídico<br />
IC59 - HÁBITOS ALIMENTARES E ESTILO DE VIDA DE MULHERES COM DIAGNÓSTICO DE<br />
SOBREPESO E OBESIDADE SOB RISCO DE APRESENTAR DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO-<br />
ALCOÓLICA<br />
Autores: Coelho-Teixeira K; Perrone F; Lima MPC; Rezen<strong>de</strong> FAC<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Mato Grosso<br />
Objetivos<br />
Avaliar os hábitos alimentares e o estilo <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> mulheres com diagnóstico <strong>de</strong> sobrepeso e/ou obesida<strong>de</strong><br />
sob risco <strong>de</strong> apresentar Doença Hepática Gordurosa Não-alcoólica (DHGNA), atendidas no ambulatório <strong>de</strong><br />
nutrição do Hospital Universitário Júlio Müller – HUJM/UFMT, Cuiabá-MT, Brasil.<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo transversal <strong>de</strong> base populacional <strong>de</strong> uma amostra <strong>de</strong> 118 mulheres entre 18 e 49 anos. As<br />
informações sobre as características da população <strong>de</strong> estudo foram obtidas através do questionário e o<br />
consumo alimentar pelo Método Recordatório <strong>de</strong> 24 horas. A qualida<strong>de</strong> da dieta foi avaliada <strong>de</strong> acordo com<br />
a Pirâmi<strong>de</strong> Alimentar Adaptada e através do Guia Alimentar para a população brasileira.<br />
Resultado<br />
De acordo com a análise feita tanto do questionário como do recordatório <strong>de</strong> 24 horas po<strong>de</strong>mos observar<br />
uma grave ina<strong>de</strong>quação da dieta habitual <strong>de</strong>ssas mulheres, pois <strong>em</strong> seis dos oito grupos <strong>de</strong> alimentos<br />
observamos consumo <strong>em</strong> discordância (acima ou abaixo) ao que é recomendado pela Pirâmi<strong>de</strong> Alimentar e<br />
pelo Guia Alimentar para a População Brasileira.<br />
Conclusão<br />
A educação alimentar t<strong>em</strong> um papel importante <strong>em</strong> relação ao processo <strong>de</strong> transformação e mudanças, à<br />
recuperação e promoção <strong>de</strong> hábitos alimentares saudáveis, que po<strong>de</strong> proporcionar conhecimentos<br />
necessários à auto-tomada <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão <strong>de</strong> formar atitu<strong>de</strong>s, hábitos e práticas alimentar sadias e variados.<br />
Unitermos<br />
Obesida<strong>de</strong>, esteatose hepática gordurosa não-alcoólica, hábitos alimentares, estilo <strong>de</strong> vida<br />
IC60 - EFEITO DO CONSUMO DE FARINHA DE LINHAÇA NA SENSAÇÃO DE FOME E SACIEDADE EM<br />
MULHERES OBESAS GRAU 1 E GRAU 2<br />
Autores: Monteiro WLA; Rangel RAS; Câmara JP; Cardoso DA; Rosa G<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
Objetivos<br />
Avaliar o efeito da ingestão <strong>de</strong> farinha <strong>de</strong> linhaça na sensação <strong>de</strong> fome e sacieda<strong>de</strong> <strong>em</strong> mulheres obesas<br />
grau 1 e 2.<br />
Materiais e métodos<br />
Foi preparado uma refeição-teste contendo 400 gramas (g) <strong>de</strong> iogurte light sabor morango com 30 (g) <strong>de</strong><br />
farinha <strong>de</strong> linhaça. Participaram do estudo 34 mulheres obesas com índice <strong>de</strong> massa corporal (IMC) <strong>de</strong> 32,8<br />
+ 4,1 Kg/m², sendo 20 obesas grau 1 e 14 obesas grau 2, e ida<strong>de</strong> média <strong>de</strong> 38,6 + 5,1 anos. Cada paciente<br />
compareceu ao ambulatório <strong>de</strong> Nutrição após jejum noturno <strong>de</strong> 12 horas. Antes da ingestão da refeiçãoteste<br />
foi preenchida a escala analógica visual (EAV) e 15, 45, 75 e 105 minutos após o consumo da mesma.<br />
Foi realizado Teste t <strong>de</strong> Stu<strong>de</strong>nt pareado para verificação <strong>de</strong> diferenças das médias antes e após a refeiçãoteste.<br />
Resultado<br />
Nas pacientes obesas grau 1, durante o ensaio clínico, observou-se redução da sensação <strong>de</strong> fome após 15<br />
minutos (p=0,005) e tendência a menor sensação <strong>de</strong> fome após 45 minutos (p=0,09) da ingestão da
efeição. Ocorreu também aumento na satisfação (p=0,000) e na sacieda<strong>de</strong> (p=0,001) <strong>em</strong> todos os t<strong>em</strong>pos<br />
investigados e redução na vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> comer 15 e 45 minutos após o consumo da refeição (p=0,001) e<br />
(p=0,05), respectivamente. Entretanto, nas pacientes obesas grau 2, houve redução da sensação <strong>de</strong> fome<br />
15 e 45 minutos após a ingestão da refeição (p=0,002) e (p=0,01), respectivamente e tendência à redução<br />
<strong>de</strong> fome após 75 (p=0,07) minutos. Aumento na satisfação (p=0,003) e sacieda<strong>de</strong> (p=0,004) <strong>em</strong> todos os<br />
t<strong>em</strong>pos. Redução na vonta<strong>de</strong> <strong>de</strong> comer após 15 minutos (p=0,002) e tendência <strong>de</strong> redução após 45 minutos<br />
(p=0,09). Comparando os dois grupos <strong>de</strong> mulheres com obesida<strong>de</strong> grau 1 e 2 observou-se que essas<br />
últimas apresentaram menor da sensação <strong>de</strong> fome que as <strong>de</strong> grau 1, após 45 minutos (p=0,02). Notou-se<br />
também uma tendência a menor <strong>de</strong> sensação <strong>de</strong> fome após 75 minutos (p=0,06).<br />
Conclusão<br />
Redução da sensação <strong>de</strong> fome e aumento da satisfação e sacieda<strong>de</strong> nas pacientes obesas grau 1 e 2.<br />
Sendo que a farinha <strong>de</strong> linhaça apresentou maior eficácia na redução da fome nas pacientes obesas grau 2.<br />
Unitermos<br />
Obesida<strong>de</strong>, sacieda<strong>de</strong>, fome, linhaça<br />
IC61 - EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE DIFERENTES TIPOS DE FARINHA DE LINHAÇA NOS<br />
DADOS ANTROPOMÉTRICOS E BIOQUÍMICOS EM MULHERES OBESAS<br />
Autores: Monteiro WLA; Rangel RAS; Cardoso DA; Câmara JP; Rosa G<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
Objetivos<br />
Verificar o efeito da supl<strong>em</strong>entação com farinha <strong>de</strong> linhaça marrom integral (FLMI), farinha <strong>de</strong> linhaça<br />
marrom <strong>de</strong>sengordurada (FLMD) e farinha <strong>de</strong> linhaça dourada (FLD) na perda <strong>de</strong> massa corporal, redução<br />
<strong>de</strong> circunferências corporais e na r<strong>em</strong>issão das dislipi<strong>de</strong>mias <strong>em</strong> mulheres obesas.<br />
Materiais e métodos<br />
Participaram do estudo 13 mulheres obesas, com Índice <strong>de</strong> Massa Corporal (IMC) médio <strong>de</strong> 34,9 + 3,3.<br />
Sendo, 5 supl<strong>em</strong>entadas com 30g/dia <strong>de</strong> FLMI, 5 supl<strong>em</strong>entadas com 30g FLMD e 3 supl<strong>em</strong>entadas com<br />
30g FLD, durante trinta dias. As pacientes foram selecionadas no ambulatório <strong>de</strong> Nutrição <strong>de</strong> um hospital<br />
universitário da cida<strong>de</strong> do Rio <strong>de</strong> Janeiro. Compareceram a primeira consulta (T0) com 12 horas <strong>de</strong> jejum,<br />
on<strong>de</strong> foi realizada avaliação antropométrica, por meio da medição das circunferências corporais e da<br />
bioimpedância elétrica (BIA) e coleta <strong>de</strong> sangue, para análise das concentrações séricas <strong>de</strong> glicose,<br />
colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, triglicerídios e ácido úrico. As pacientes receberam plano<br />
alimentar balanceado, <strong>de</strong> acordo com Dietary References Intakes (DRI) subtraindo 513 quilocalorias para<br />
perda <strong>de</strong> dois quilos por mês e sachês contendo um dos tipos <strong>de</strong> linhaça, com as <strong>de</strong>vidas orientações para<br />
sua ingestão no <strong>de</strong>sjejum. A reconsulta (T30) ocorreu 30 dias após a primeira consulta.<br />
Resultado<br />
Foi observada redução da massa corporal nos três tipos <strong>de</strong> farinha <strong>de</strong> linhaça (p=0,03). Todavia, percebeuse<br />
que somente na FLMI promoveu redução <strong>de</strong> circunferência <strong>de</strong> cintura (CC) (p=0,04) e circunferência <strong>de</strong><br />
quadril (CQ) (p=0,04). Em relação aos resultados da BIA e bioquímicos não houve diferença<br />
estatisticamente significativa nos três tipos <strong>de</strong> farinha <strong>de</strong> linhaça.<br />
Conclusão<br />
O plano alimentar prescrito mostrou-se eficiente na redução da massa corporal e nossos resultados<br />
suger<strong>em</strong> que a FLMI po<strong>de</strong>ria ser um coadjuvante no tratamento nutricional para perda <strong>de</strong> peso e melhora<br />
nas alterações metabólicas associadas à obesida<strong>de</strong> <strong>em</strong> curto prazo.<br />
Unitermos<br />
Obesida<strong>de</strong>, linhaça, perda <strong>de</strong> massa corporal<br />
IC62 - COMPARAÇÃO DE SENSAÇÕES SUBJETIVAS DE FOME E SACIEDADE EM MULHERES<br />
OBESAS GRAU 1 E 2 COM A INGESTÃO DE FARINHA DE LINHAÇA MARROM INTEGRAL E<br />
DESENGORDURADA<br />
Autores: Monteiro WLA; Rangel RAS; Cardoso DA; Câmara JP<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Rio <strong>de</strong> Janeiro
Objetivos<br />
Avaliar o efeito <strong>de</strong> diferentes tipos <strong>de</strong> farinha <strong>de</strong> linhaça na sensação <strong>de</strong> fome e sacieda<strong>de</strong> <strong>em</strong> mulheres<br />
obesas grau 1 e 2.<br />
Materiais e métodos<br />
Foi preparado uma refeição contendo 400 gramas <strong>de</strong> iogurte light sabor morango com 30 gramas <strong>de</strong> farinha<br />
<strong>de</strong> linhaça. Participaram do estudo 34 mulheres obesas, sendo 20 obesas grau 1, 10 supl<strong>em</strong>entadas com<br />
farinha <strong>de</strong> linhaça marrom integral (FLMI) e 10 com farinha <strong>de</strong> linhaça marrom <strong>de</strong>sengordurada (FLMD) e 14<br />
obesas grau 2, 6 supl<strong>em</strong>entadas com FLMI e 8 com FLMD. O índice <strong>de</strong> massa corporal (IMC) médio foi <strong>de</strong><br />
32,8 + 4,1 Kg/m² e ida<strong>de</strong> média <strong>de</strong> 38,6 + 5,1 anos. Cada paciente compareceu ao ambulatório <strong>de</strong> Nutrição<br />
após jejum noturno <strong>de</strong> 12 horas. O ensaio clínico consistiu no consumo <strong>de</strong> uma refeição-teste e<br />
preenchimento da escala analógica visual (EAV) antes e 15, 45, 75 e 105 minutos após ingestão da<br />
refeição-teste. Foi realizado Teste t <strong>de</strong> Stu<strong>de</strong>nt para comparação entre as médias antes e após a ingestão<br />
da refeição-teste.<br />
Resultado<br />
Nas pacientes obesas grau 1, houve uma tendência na redução <strong>de</strong> fome após 105 minutos (p=0,09) <strong>de</strong><br />
ingestão da refeição supl<strong>em</strong>entada com FLMD. Entretanto, nas pacientes obesas grau 2, houve redução na<br />
sensação <strong>de</strong> fome (p= 0,007), aumento na satisfação (p=0,05) após 105 minutos e ampliação na sacieda<strong>de</strong><br />
75 e 105 minutos (p=0,01) e (p=0,003), respectivamente, após a ingestão <strong>de</strong> FLMD.<br />
Conclusão<br />
A FLMD foi mais eficaz do que a FLMI na redução da sensação <strong>de</strong> fome nas mulheres obesas grau 1 e 2.<br />
Promovendo aumento da satisfação e sacieda<strong>de</strong> nas mulheres obesas grau 2. Dessa forma, os resultados<br />
suger<strong>em</strong> que a FLMD seja um supl<strong>em</strong>ento nutricional eficaz no controle da sensação <strong>de</strong> fome e aumento da<br />
sacieda<strong>de</strong> nos grupos estudados.<br />
Unitermos<br />
Obesida<strong>de</strong>, sacieda<strong>de</strong>, fome, escala analógica visual, linhaça<br />
IC63 - EXCESSO DE PESO E INGESTÃO ALIMENTAR EM UMA AMOSTRA DE MULHERES DE BAIXA<br />
RENDA RESIDENTES EM PORTO ALEGRE<br />
Autores: Cibeira GH; Weber B; Caleffi M<br />
Instituição: Hospital Moinhos <strong>de</strong> Vento<br />
Objetivos<br />
Determinar a prevalência <strong>de</strong> excesso <strong>de</strong> peso e avaliar a ingestão <strong>de</strong> nutrientes <strong>em</strong> uma amostra <strong>de</strong><br />
mulheres.<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo transversal no qual foram avaliadas mulheres selecionadas a partir do projeto Núcleo Mama Porto<br />
Alegre, uma coorte formada por 9.218 mulheres que se encontram <strong>em</strong> rastreamento mamográfico para<br />
câncer <strong>de</strong> mama, pertencentes a uma área <strong>de</strong> baixas condições sócio econômicas no sul da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Porto Alegre. As participantes do presente estudo foram selecionadas aleatoriamente enquanto aguardavam<br />
na sala <strong>de</strong> espera para a realização <strong>de</strong> exames <strong>de</strong> mamografia ou ecografia. Foram aferidos peso, altura e<br />
circunferência abdominal (CA). Foi realizado um recordatório <strong>de</strong> 24 horas para avaliar a ingestão <strong>de</strong><br />
nutrientes. Utilizou-se coeficiente <strong>de</strong> correlação <strong>de</strong> Spearman e teste <strong>de</strong> Mann Whitney para variáveis não<br />
paramétricas.<br />
Resultado<br />
Foram avaliadas 476 mulheres. A amostra apresentou média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 51 anos (DP=10) e a média <strong>de</strong><br />
anos <strong>de</strong> estudo foi <strong>de</strong> 6,5 (DP=3,2). Dentre todas as participantes, 81,5% eram se<strong>de</strong>ntárias e 91,2%<br />
apresentaram excesso <strong>de</strong> peso (Índice <strong>de</strong> Massa Corporal >/= 25 kg/m2). A média da CA foi <strong>de</strong> 97,3cm<br />
(DP=12,5). Em relação ao consumo alimentar, observou-se ingestão média diária <strong>de</strong> 47,9% (DP=9,4) <strong>de</strong><br />
carboidratos, 15,1% (DP=3,9) <strong>de</strong> proteínas e 36,9% (DP=9,1) <strong>de</strong> lipídios. Constatou-se que as mulheres<br />
com excesso <strong>de</strong> peso ingeriam mais ácidos graxos monoinsaturados, poliinsaturados e saturados,<br />
colesterol, cálcio e vitamina D. Comparando-se as dietas das participantes segundo o IMC, observou-se que<br />
as mulheres com IMC mais elevado apresentaram uma alimentação significativamente mais rica <strong>em</strong><br />
colesterol (p
Conclusão<br />
A amostra <strong>em</strong> estudo apresentou elevada prevalência <strong>de</strong> excesso <strong>de</strong> peso, se<strong>de</strong>ntarismo e ingestão<br />
ina<strong>de</strong>quada <strong>de</strong> nutrientes. Tal fato talvez possa ser atribuído a baixa escolarida<strong>de</strong> e renda da amostra<br />
avaliada que dificultam a aquisição <strong>de</strong> alimentos saudáveis que contribu<strong>em</strong> à ingestão nutricional a<strong>de</strong>quada.<br />
Novos estudos estão sendo conduzidos para que possa ser esclarecido se a ingestão nutricional <strong>de</strong>ficiente<br />
aliada ao se<strong>de</strong>ntarismo justificam as elevadas prevalências <strong>de</strong> câncer <strong>de</strong> mama na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Porto Alegre.<br />
Unitermos<br />
Obesida<strong>de</strong>, baixa renda, ingestão <strong>de</strong> nutrientes<br />
IC64 - CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE ESTRESSE OXIDATIVO E VITAMINA C EM PACIENTES COM<br />
DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA<br />
Autores: Matos A; Souza G; Salgado G; Andra<strong>de</strong> K; Barros M; Ramalho A<br />
Instituição: Núcleo <strong>de</strong> Pesquisa <strong>em</strong> Micronutrientes (INJC/UFRJ)<br />
Objetivos<br />
O presente estudo teve como objetivo avaliar a concentração sérica <strong>de</strong> vitamina C (ácido ascórbico) e sua<br />
relação com o estresse oxidativo <strong>em</strong> pacientes com doença arterial coronariana, internados <strong>em</strong> um hospital<br />
público do município do Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
Materiais e métodos<br />
A população estudada foi constituída <strong>de</strong> indivíduos <strong>de</strong> ambos os sexos, com ida<strong>de</strong> superior a 18 anos,<br />
internados no setor <strong>de</strong> cardiologia <strong>de</strong> um hospital público do município do Rio <strong>de</strong> Janeiro, com diagnóstico<br />
<strong>de</strong> doença arterial coronariana. A concentração sérica <strong>de</strong> vitamina C foi avaliada pelo método<br />
espectrofotométrico, sendo consi<strong>de</strong>rados como ponto <strong>de</strong> corte para ina<strong>de</strong>quação valores < 0,4mg/dl. O<br />
estresse oxidativo foi avaliado segundo dosag<strong>em</strong> da peroxidação lipídica, sendo esta estimada através da<br />
dosag<strong>em</strong> das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS nmol/L).<br />
Resultado<br />
Participaram do estudo 38 pacientes <strong>de</strong> ambos os sexos, com média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 55,32+6,51anos. A<br />
concentração média <strong>de</strong> vitamina C foi <strong>de</strong> 1,32 + 0,84 mg/dl, sendo o percentual <strong>de</strong> <strong>de</strong>ficiência <strong>de</strong> 12,82%. A<br />
concentração média <strong>de</strong> TBARS foi <strong>de</strong> 0,78+0,33 nmol/L. Foi verificada correlação negativa significativa<br />
entre a concentração sérica <strong>de</strong> vitamina C e o estresse oxidativo (p=0,017; r=-0,32).<br />
Conclusão<br />
Os resultados encontrados mostram relação entre a concentração sérica <strong>de</strong> vitamina C e o estresse<br />
oxidativo nos pacientes avaliados. Consi<strong>de</strong>rando tais resultados sugere-se maior atenção a esse segmento<br />
populacional no sentido <strong>de</strong> um maior aporte dietético <strong>de</strong> vitamina C <strong>de</strong>vido à sua importante relação na<br />
gênese e progressão da doença cardiovascular aterosclerótica.<br />
Unitermos<br />
Doença arteriosclerótica, Vitamina C, estresse oxidativo<br />
IC65 - EVOLUÇÃO DE DIABÉTICOS CORONARIANOS PARTICIPANTES DA INTERVENÇÃO: “UMA<br />
VIDA EQUILIBRADA: PROGRAMA DE CONTROLE DE PESO”<br />
Autores: Watanabe JA; Ávila ALvE; Isosaki M; Vieira LP; Lopes NHM; Hueb WA<br />
Instituição: Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Medicina da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
São Paulo<br />
Objetivos<br />
Avaliar a evolução <strong>de</strong> diabéticos com excesso <strong>de</strong> peso e doença arterial coronariana estável, submetidos à<br />
revascularização do miocárdio ou angioplastia, incluídos na intervenção “Uma Vida Equilibrada: Programa<br />
<strong>de</strong> Controle <strong>de</strong> Peso”, com assistência ambulatorial <strong>de</strong> equipe multiprofissional.<br />
Materiais e métodos<br />
Tratou-se <strong>de</strong> um estudo prospectivo longitudinal, com coleta <strong>de</strong> dados dos prontuários <strong>de</strong> 17 diabéticos<br />
coronarianos, referentes ao 1º e 12º mês <strong>de</strong> acompanhamento. Avaliou-se o Índice <strong>de</strong> Massa Corporal
(IMC), a circunferência abdominal, o perfil lipídico (triglicéri<strong>de</strong>s, colesterol total e frações), e o glicêmico<br />
(glic<strong>em</strong>ia <strong>de</strong> jejum e h<strong>em</strong>oglobina glicada). O consumo <strong>de</strong> energia [valor energético total (VET)] e nutrientes<br />
[carboidratos, proteínas, gorduras (total, saturada, monoinsaturada e poliinsaturada), colesterol dietético e<br />
fibras alimentares] foram avaliados com base no cálculo dos diários alimentares mensais. Os dados obtidos<br />
foram submetidos à análise estatística do programa SPSS. Para comparar as variáveis numéricas utilizouse<br />
o teste t-Stu<strong>de</strong>nt pareado e o teste dos Sinais <strong>de</strong> Wilcoxon, e para as variáveis classificatórias foi<br />
utilizado o teste <strong>de</strong> McN<strong>em</strong>ar. Para todos os testes, adotou-se o nível <strong>de</strong> significância <strong>de</strong> 0,05.<br />
Resultado<br />
Os diabéticos coronarianos tinham <strong>em</strong> média 65 ± 9 anos, sendo 41,2% do gênero f<strong>em</strong>inino. Dentre eles,<br />
82,4% eram hipertensos, 76,5% dislipidêmicos e 5,9% tabagistas. Houve redução <strong>de</strong> peso (p=0,529), do<br />
IMC (p=0,469) e aumento da circunferência abdominal (p=0,120). Observou-se queda das concentrações<br />
séricas <strong>de</strong> colesterol total (p=0,641) e LDL-c (p=0,365). Houve aumento dos triglicéri<strong>de</strong>s (p=0,403), da<br />
glic<strong>em</strong>ia <strong>de</strong> jejum (p=0,300), da h<strong>em</strong>oglobina glicada (p=0,015) e redução do HDL-c (p=0,139). O consumo<br />
<strong>de</strong> energia e nutrientes manteve-se s<strong>em</strong>elhante, com redução da ingestão energética (p=0,026), alta<br />
ingestão protéica (27% do VET) e <strong>de</strong> gordura saturada (8% do VET); insuficiente consumo <strong>de</strong> gorduras<br />
monoinsaturada (9% do VET), poliinsaturada (4% do VET) e fibras alimentares (14g); e a<strong>de</strong>quado <strong>de</strong><br />
carboidratos (58% do VET), gordura total (21% do VET) e colesterol dietético (139mg).<br />
Conclusão<br />
Apesar da impl<strong>em</strong>entação da intervenção “Uma Vida Equilibrada: Programa <strong>de</strong> Controle <strong>de</strong> Peso”, os<br />
diabéticos coronarianos não evoluíram com melhora dos controles pon<strong>de</strong>ral e metabólico.<br />
Unitermos<br />
diabetes mellitus tipo 2, estudos <strong>de</strong> intervenção, avaliação nutricional<br />
IC66 - PADRÃO ALIMENTAR E CONHECIMENTO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DE PACIENTES<br />
TRANSPLANTADOS DO CORAÇÃO<br />
Autores: Antunes MFR; Carlos DMO; Feitosa MAM; Silva CAB; Souza Neto JD; França FCQ<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Fortaleza/Hospital <strong>de</strong> Messejana<br />
Objetivos<br />
O transplante cardíaco (TC) é consi<strong>de</strong>rado atualmente tratamento “padrão ouro” para pacientes cujos<br />
procedimentos convencionais não são suficientes para melhoria ou prolongamento <strong>de</strong> sua vida. A principal<br />
preocupação no seguimento do TC são as complicações tardias (obesida<strong>de</strong>, diabetes, hipertensão e<br />
dislipi<strong>de</strong>mias) associadas à terapia medicamentosa e agravadas por hábitos alimentares ina<strong>de</strong>quados. O<br />
objetivo <strong>de</strong>ste trabalhar foi analisar o padrão alimentar e o conhecimento sobre alimentação saudável <strong>em</strong><br />
pacientes TC.<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo realizado com 30 pacientes atendidos nos meses <strong>de</strong> janeiro e fevereiro <strong>de</strong> 2008 no ambulatório <strong>de</strong><br />
nutrição <strong>em</strong> Centro Transplantador do Ceará. Foram aplicados 3 questionários: o 1° com dados sócio<strong>de</strong>mográficos<br />
e antropométricos, o 2° sobre freqüência alimentar validado para população adulta<br />
consi<strong>de</strong>rada sadia e o 3° sobre alimentação saudável com base nas recomendações dietéticas pós-TC. Os<br />
dados analisados foram <strong>de</strong>scritos usando valores percentuais, médias e <strong>de</strong>svio padrão.<br />
Resultado<br />
A média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> dos pacientes foi <strong>de</strong> 46,0±13,3 anos, sendo 90% do sexo masculino. A maioria (43,3%) é<br />
natural do interior do Ceará, com renda familiar <strong>de</strong> 1 a 2 SM (46,6%), 53,3% t<strong>em</strong> até o ensino fundamental e<br />
serviços gerais (83,3%) como principal ocupação. A maioria (66,6%) realizou o TC há mais <strong>de</strong> 12 meses (12<br />
a 72 meses). O grupo pesquisado evoluiu com ganho <strong>de</strong> peso, apresentando antes do TC média global <strong>de</strong><br />
IMC <strong>de</strong> 22,3±3,7 kg/m2 (eutrófica) e após o TC 24,3±3,4 kg/m2 (eutrófica, quase limítrofe para sobrepeso).<br />
O QFA mostrou que os alimentos mais consumidos (pelo menos 1 vez/s<strong>em</strong>ana por mais <strong>de</strong> 50% dos<br />
entrevistados) foram: leite <strong>de</strong>snatado (70%), pão (73,4%), carne magra (90%), frango (93,3%), arroz<br />
(96,6%), macarrão (86,7%), feijão (96,6%), hortaliças (80%), frutas (83,3%), suco natural (60%), adoçante<br />
(80%) e margarina light (56,%). Todos os pacientes acreditam que a alimentação influencia na saú<strong>de</strong>. Os<br />
alimentos abolidos após a cirurgia foram: carnes gordas (66,6%), gorduras/ frituras (33,3%) e doces<br />
(26,6%). Esses alimentos foram associados com o aumento <strong>de</strong> colesterol (33,3%) e diabetes (83,3%) e os<br />
alimentos relacionados com aumento da pressão arterial foram: sal (76%) e café (70%).
Conclusão<br />
Os pacientes transplantados apresentam um padrão alimentar condizente com as recomendações dietéticas<br />
pós TC e que po<strong>de</strong> estar associado ao conhecimento sobre alimentação saudável adquirido durante o<br />
preparo e o seguimento do transplante<br />
Unitermos<br />
Transplante cardíaco, padrão alimentar, hábitos alimentares, alimentação saudável<br />
IC67 - DETERMINANTES CLÍNICOS E NUTRICIONAIS DO TEMPO INTERNAÇÃO DE PESSOAS COM<br />
DOENÇAS CARDIOVASCULARES HOSPITALIZADAS<br />
Autores: Portero-McLellan KC; Maniglia FP; Marineli RS; Bernardi JLD; Frenhani PB; Leandro-Merhi VA<br />
Instituição: Pontifícia Universida<strong>de</strong> Católica<br />
Objetivos<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho foi i<strong>de</strong>ntificar os <strong>de</strong>terminantes clínicos e nutricionais do t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> internação <strong>de</strong><br />
pacientes internados por DCV <strong>em</strong> um Hospital Universitário do município <strong>de</strong> Campinas/SP.<br />
Materiais e métodos<br />
A população do estudo foi composta por 1153 pacientes, <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> média <strong>de</strong> 60,8+14,6 anos, 53,4%<br />
representados pelo sexo masculino, e mediana <strong>de</strong> t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> internação <strong>de</strong> 7 dias. Para a caracterização da<br />
população foram levantados: ida<strong>de</strong>, sexo, motivo <strong>de</strong> internação, presença <strong>de</strong> sintomas do trato<br />
gastrintestinal, e probl<strong>em</strong>as <strong>de</strong>ntários ou orais. O diagnóstico antropométrico foi realizado por meio da<br />
análise <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> peso corporal (kg), circunferência do braço (CB), prega cutânea do tríceps (PCT),<br />
Índice <strong>de</strong> Massa Corporal (IMC), Circunferência Muscular do Braço (CMB), Área Muscular do Braço (AMB) e<br />
Área Adiposa do Braço (AAB). A análise estatística foi realizada com auxílio do software Statistica, com<br />
divisão das variáveis <strong>em</strong> quintis <strong>de</strong> t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> internação. Consi<strong>de</strong>rou-se significativo o IC <strong>de</strong> 95% e p
usual, porcentag<strong>em</strong> <strong>de</strong> peso i<strong>de</strong>al e circunferência muscular do braço. Para facilitar a comparação entre os<br />
diferentes métodos, os diagnósticos foram agrupados <strong>em</strong> apenas três classificações: normal, <strong>de</strong>snutrido<br />
leve ou mo<strong>de</strong>rado e <strong>de</strong>snutrido grave. Com o intuito <strong>de</strong> avaliar a concordância entre os métodos foi utilizado<br />
o coeficiente Kappa com intervalo <strong>de</strong> confiança <strong>de</strong> 95%. A fim <strong>de</strong> comparar o t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> internação hospitalar<br />
com os diagnósticos obtidos por meio da MAN e da ASG, utilizaram-se os testes não paramétricos <strong>de</strong><br />
Kruskall-Wallis e Mann-Whitney.<br />
Resultado<br />
Em relação à classificação do estado nutricional, observou-se diferença entre os diagnósticos do estado<br />
nutricional constatados pelos métodos objetivos e subjetivos. A maior diferença ocorreu entre o IMC (OMS,<br />
1995 e 1997) e as avaliações subjetivas (MAN e ASG). Enquanto o IMC apresentou uma prevalência <strong>de</strong><br />
88% (n = 59) <strong>de</strong> pacientes não <strong>de</strong>snutridos, as avaliações subjetivas concordaram com uma prevalência <strong>de</strong><br />
86% (n = 58) <strong>de</strong> pacientes <strong>de</strong>snutridos, <strong>de</strong>sconsi<strong>de</strong>rando o grau <strong>de</strong> <strong>de</strong>snutrição. As análises <strong>de</strong><br />
concordância entre os métodos indicaram que, para o sexo f<strong>em</strong>inino, a ASG se mostrou discretamente<br />
melhor que a MAN. Em contrapartida, para o sexo masculino, a MAN apresentou-se melhor que a ASG.<br />
Constatou-se, neste estudo, concordância mo<strong>de</strong>rada entre os diagnósticos obtidos por meio da MAN e da<br />
ASG e, do ponto <strong>de</strong> vista estatístico, significativamente diferente <strong>de</strong> zero. Ao se comparar os diagnósticos<br />
obtidos pela ASG e o t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> internação hospitalar, observou-se que o t<strong>em</strong>po médio <strong>de</strong> internação<br />
hospitalar dos pacientes com diagnóstico <strong>de</strong> normalida<strong>de</strong> foi estatisticamente menor que o dos <strong>de</strong>snutridos<br />
leve ou mo<strong>de</strong>rados (p = 0,0115) e dos <strong>de</strong>snutridos graves (p = 0,0114). Já <strong>em</strong> relação à MAN, não se<br />
constatou diferença entre os três níveis <strong>de</strong> MAN (p = 0,2153).<br />
Conclusão<br />
Concluiu-se que os métodos subjetivos são bons instrumentos para <strong>de</strong>terminação do estado nutricional <strong>de</strong><br />
pacientes idosos hospitalizados por ser<strong>em</strong> validados mundialmente. Entretanto, não apresentaram boa<br />
correlação com os parâmetros objetivos, confirmando que as avaliações subjetivas permit<strong>em</strong> a i<strong>de</strong>ntificação<br />
<strong>de</strong> pacientes <strong>em</strong> risco <strong>de</strong> <strong>de</strong>snutrição antes que ocorram mudanças nas medidas antropométricas.<br />
Unitermos<br />
Idosos, antropometria, MAN, ASG<br />
IC69 - AUTO-IMAGEM CORPORAL EM IDOSOS HOSPITALIZADOS<br />
Autores: Fernan<strong>de</strong>s EA; Sakamoto MY; Pucci ND; Evazian D; Gil ITG; Jacob Filho W<br />
Instituição: Divisão <strong>de</strong> Nutrição e Dietética do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Medicina da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo (DND-ICHC-FMUSP)<br />
Objetivos<br />
Os idosos sofr<strong>em</strong> alterações corporais que gera uma necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> atenção ao seu estado nutricional.<br />
Exist<strong>em</strong> métodos para se avaliar o estado nutricional englobando avaliações objetivas e subjetivas. A escala<br />
<strong>de</strong> auto-imag<strong>em</strong> corporal é consi<strong>de</strong>rada uma avaliação que prevê alterações múltiplas, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a esfera física<br />
e psicológica até as discriminações sociais e culturais. Os estudos encontrados relacionados com a imag<strong>em</strong><br />
corporal estão associados com indivíduos que apresentam distúrbio alimentar ou praticantes <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong><br />
física. Não sendo encontrados no Brasil estudos correlacionados a auto-imag<strong>em</strong> corporal <strong>em</strong> idosos<br />
hospitalizados percebendo-se a relevância <strong>de</strong>ste estudo. OBJETIVO: Analisar a auto-imag<strong>em</strong> corporal <strong>em</strong><br />
idosos hospitalizados e sua correlação com medidas antropométricas e avaliação multidimensional.<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo transversal, prospectivo, realizado nas Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Internação <strong>de</strong> um Hospital Escola, com 112<br />
idosos no período <strong>de</strong> 3 meses. O estado nutricional foi classificado <strong>de</strong> acordo com o IMC estabelecido por<br />
OPAS(2001), a avaliação multidimensional pela MAN ® e auto-imag<strong>em</strong> corporal pela escala protocolada por<br />
SORENSEN e STUNKARD (1993). Para as correlações foi utilizado o teste <strong>de</strong> Pearson, com significância<br />
<strong>de</strong> 0,005.<br />
Resultado<br />
Os idosos conseguiram se <strong>de</strong>tectar com baixo peso pela escala <strong>de</strong> imag<strong>em</strong> atual, porém esta não<br />
apresentou correlação com o IMC atual(c:0,68 e p:0, 555). Na correlação da MAN ® com a imag<strong>em</strong> atual,<br />
houve subestimação da imag<strong>em</strong> corporal atual do idoso na classificação <strong>de</strong> baixo peso, confirmando a<br />
sensibilida<strong>de</strong> da MAN® na <strong>de</strong>tecção <strong>de</strong> risco nutricional (c:0,32 com p:0, 000). Não houve correlação entre<br />
a MAN® e o IMC (c:0,26 e p:0,004), on<strong>de</strong> somente 33% dos pacientes estavam com baixo peso pelo IMC, e<br />
a MAN® <strong>de</strong>tectou 70,7% dos pacientes <strong>em</strong> risco e <strong>de</strong>snutrição. Segundo as imagens corporais atual com a
<strong>de</strong>sejada e <strong>de</strong>sejada com a anterior foi constatado que o idoso t<strong>em</strong> uma insatisfação com a aparência<br />
corporal. E <strong>de</strong> acordo com a imag<strong>em</strong> atual com a anterior (3 meses atrás) há uma tendência <strong>de</strong> correlação<br />
(c:0,51 com p: 0,000 e c:0,52 com p:0,000, respectivamente).<br />
Conclusão<br />
A avaliação autopercepção da imag<strong>em</strong> corporal realizada pelos idosos hospitalizados constatou risco<br />
nutricional na amostra estudada, porém sendo um parâmetro único mostrou-se menos sensível <strong>em</strong> relação<br />
à avaliação multidimensional. Percebe-se que ela envolve não só uma auto imag<strong>em</strong> pelo paciente, como<br />
também um julgamento das suas condições psicossociais. Portanto, <strong>de</strong>ve-se utilizar <strong>em</strong> conjunto medidas<br />
<strong>de</strong> avaliação nutricional multidimensionais para se realizar uma avaliação do estado nutricional mais<br />
fi<strong>de</strong>digna.<br />
Unitermos<br />
idosos, Mini <strong>Avaliação</strong> <strong>Nutricional</strong>®, imag<strong>em</strong> corporal, Índice <strong>de</strong> Massa Corporal, estado nutricional.<br />
IC70 - ASSOCIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E CO-MORBIDADES EM IDOSOS ATENDIDOS<br />
AMBULATORIALMENTE<br />
Autores: Lima CR; Azevedo MMS; Oliveira GMC; Ponzi FKAX; Ferreira VM; Ferreira ALL<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pernambuco - Departamento <strong>de</strong> Nutrição<br />
Objetivos<br />
Verificar a associação do estado nutricional e co-morbida<strong>de</strong>s <strong>em</strong> idosos atendidos ambulatorialmente.<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo <strong>de</strong> corte transversal, com coleta <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> 111 pacientes <strong>de</strong> ambos os sexos, com ida<strong>de</strong> igual ou<br />
maior a 60 anos, segundo critérios da Organização Mundial <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> (OMS), atendidos <strong>em</strong> um posto do<br />
Programa <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> da Família (PSF) no município <strong>de</strong> Vitória <strong>de</strong> Santo Antão – PE, através das fichas <strong>de</strong><br />
avaliação nutricional, on<strong>de</strong> foram obtidos: peso (kg), altura (m), patologia principal e patologia associada. A<br />
avaliação nutricional foi realizada através do índice <strong>de</strong> massa corporal (IMC) com a classificação <strong>de</strong><br />
Lipschitz, DA., 1994 e a construção do banco <strong>de</strong> dados e a análise estatística foram realizadas nos<br />
programas Epi-info versão 6,04 e SPSS.<br />
Resultado<br />
A amostra foi constituída <strong>de</strong> 74,8% <strong>de</strong> indivíduos do sexo f<strong>em</strong>inino com média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 67,4 anos (±<br />
6,48 DP). Em relação à principal patologia que os levaram ao ambulatório, observou-se que a procura foi<br />
mais acentuada para o Diabetes Mellitus (68,5%) e Hipertensão Arterial (58,5%). Observou-se também que,<br />
daqueles que apresentavam estas patologias, 61,8% e 66,2% foram enquadrados na categoria <strong>de</strong> excesso<br />
<strong>de</strong> peso, respectivamente, evi<strong>de</strong>nciando a estreita ligação entre o estado nutricional do paciente e essas<br />
patologias crônicas.<br />
Conclusão<br />
Os resultados <strong>de</strong>sse estudo mostraram que a elevada prevalência <strong>de</strong> excesso <strong>de</strong> peso, foi um fator<br />
relevante para exercer influência significante nas co-morbida<strong>de</strong>s presentes nos idosos. Probl<strong>em</strong>a esse que<br />
t<strong>em</strong> aumentado <strong>em</strong> todo o mundo e v<strong>em</strong> se tornando o maior probl<strong>em</strong>a <strong>de</strong> saú<strong>de</strong> da socieda<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rna, na<br />
maioria dos países <strong>de</strong>senvolvidos e <strong>em</strong> <strong>de</strong>senvolvimento.<br />
Unitermos<br />
Idosos, atendimento ambulatorial, estado nutricional, patologia principal<br />
IC71 - ANÁLISE COMPARATIVA DE DOIS MÉTODOS DE OBTENÇÃO DE ALTURA EM IDOSOS<br />
ATENDIDOS AMBULATORIALMENTE<br />
Autores: Azevedo MMS; Oliveira GMC; Ferreia ALL; Lima CR; Ponzi FKAX; Ferreira VM<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pernambuco - Departamento <strong>de</strong> Nutrição<br />
Objetivos<br />
Comparar dois métodos <strong>de</strong> obtenção <strong>de</strong> altura <strong>em</strong> idosos atendidos ambulatorialmente.<br />
Materiais e métodos
Estudo <strong>de</strong> corte transversal, com coleta <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> 111 pacientes <strong>de</strong> ambos os sexos, com ida<strong>de</strong> maior ou<br />
igual há 60 anos, segundo critérios da Organização Mundial <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> (OMS), atendidos <strong>em</strong> um posto do<br />
Programa <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> da Família (PSF) no município <strong>de</strong> Vitória <strong>de</strong> Santo Antão – PE, através das fichas <strong>de</strong><br />
avaliação nutricional, on<strong>de</strong> foram obtidos: Peso (kg), Altura real (m) e Altura do joelho (cm).<br />
Resultado<br />
A amostra foi constituída <strong>de</strong> 74,8% <strong>de</strong> indivíduos do sexo f<strong>em</strong>inino com média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 67,4 anos (±<br />
6,48 DP). Quando foi realizada a comparação entre os dois métodos <strong>de</strong> obtenção da altura nos pacientes,<br />
verificou-se que houve diferença estatisticamente significante (p=0,0000) entre à média da altura real<br />
(1,52m) e a média <strong>de</strong> altura estimada pela altura do joelho (1,57m).<br />
Conclusão<br />
O <strong>de</strong>clínio da altura é observado a partir dos 60 anos, sendo <strong>de</strong> 1,4 cm a 3,3cm por década para homens e<br />
mulheres respectivamente, resultante da compressão vertebral, mudanças dos discos intervertebrais,<br />
perdas <strong>de</strong> tônus muscular e alterações posturais. Os resultados <strong>de</strong>sse estudo mostram que a falta <strong>de</strong><br />
acurácia da altura real justificam a utilização da altura do joelho nessa faixa etária, mesmo <strong>em</strong> idosos jovens<br />
como é o caso dos indivíduos da amostra.<br />
Unitermos<br />
Idosos, atendimento ambulatorial, altura real, altura do joelho<br />
IC72 - A IMPORTÂNCIA DO CUIDADOR NO GRAU DE HIDRATAÇÃO DE IDOSOS EM UMA UNIDADE<br />
DE INTERNAÇÃO GERIÁTRICA<br />
Autores: Nogueira RR; Nascimento ML<br />
Instituição: Hospital do Servidor Público Estadual<br />
Objetivos<br />
Verificar a importância do cuidador no grau <strong>de</strong> hidratação <strong>de</strong> idosos <strong>em</strong> uma unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> geriatria.<br />
Materiais e métodos<br />
Trata-se <strong>de</strong> um estudo quantitativo, transversal prospectivo, com coleta <strong>de</strong> dados <strong>em</strong> formulário específico.<br />
Através <strong>de</strong> uma consulta aos prontuários foi observado o número <strong>de</strong> idosos consi<strong>de</strong>rados <strong>de</strong>sidratados <strong>de</strong><br />
acordo com a avaliação médica na data <strong>de</strong> internação. Após 48 horas <strong>de</strong> internação foi realizada a<br />
avaliação da composição corporal pelo método da bioimpedância elétrica. A presença do cuidador junto aos<br />
idosos hospitalizados foi consi<strong>de</strong>rada <strong>em</strong> duas categorias: com cuidador e s<strong>em</strong> cuidador.<br />
Resultado<br />
Foram estudados 42 idosos <strong>de</strong> ambos os sexos, sendo do sexo masculino 33,3% e 66,7% do sexo f<strong>em</strong>inino<br />
com ida<strong>de</strong> entre 69 e 93 anos. Os idosos que possuíam cuidador eram 54,8% e 45,2% não possuíam<br />
cuidador. Na consulta feita aos prontuários na data <strong>de</strong> internação 38,1% dos idosos estavam <strong>de</strong>sidratados e<br />
61,9% hidratados. Já na avaliação pela bioimpedância realizada após 48 horas <strong>de</strong> internação observou-se<br />
que 69,0% dos idosos encontravam-se <strong>de</strong>sidratados contra 31% <strong>de</strong> idosos hidratados. Daqueles idosos<br />
<strong>de</strong>sidratados na avaliação pela bioimpedância 73,9% possuíam cuidador e 63,1% não tinham cuidador.<br />
Quando comparados estatisticamente a ocorrência <strong>de</strong> <strong>de</strong>sidratação na data <strong>de</strong> internação e após 48 horas<br />
nos dois grupos estudados, foi encontrado um p valor 0,261 e 0,453 respectivamente, indicando que não<br />
houve significância estatística entre a <strong>de</strong>sidratação dos idosos internados e a presença do cuidador.<br />
Conclusão<br />
Embora não tenha havido significância estatística, os dados <strong>de</strong>monstram a falta <strong>de</strong> preparo e a<br />
<strong>de</strong>sinformação dos cuidadores na prestação <strong>de</strong> cuidado ao idoso hospitalizado e a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> que<br />
mais estudos sejam realizados com maior número <strong>de</strong> sujeitos e melhor orientação aos cuidadores para que<br />
resultados mais significativos sejam alcançados.<br />
Unitermos<br />
idosos, cuidador, grau <strong>de</strong> hidratação, bioimpedância<br />
IC73 - DETERMINAR A INCIDÊNCIA DE ÚLCERA POR PESSÃO (UP) E CORRELACIONAR COM O<br />
ESTADO NUTRICIONAL E A CAPACIDADE FUNCIONAL DOS PACIENTES INTERNADOS
Autores: Gomes WP; Bragagnolo R; Perrone F; Oliveira EMG; Paese MCS; Dock-Nascimento DB<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Mato Grosso<br />
Objetivos<br />
Determinar a incidência <strong>de</strong> úlcera por pressão (UP) e correlacionar com o estado nutricional e a capacida<strong>de</strong><br />
funcional dos pacientes internados.<br />
Materiais e métodos<br />
Realizou-se um estudo corte transversal com 91 pacientes adultos internados <strong>em</strong> um hospital da re<strong>de</strong><br />
pública, sendo 63,7% (n=58) do sexo masculino e 36,3% (n= 33) do f<strong>em</strong>inino, com ida<strong>de</strong> mediana <strong>de</strong> 49<br />
anos, submetidos a tratamento clínico 51,6%, cirúrgico 37,4% e intensivos 11%. Foi investigado o t<strong>em</strong>po <strong>de</strong><br />
internação, o tipo <strong>de</strong> terapia nutricional, presença ou não <strong>de</strong> UP, o grau <strong>de</strong> gravida<strong>de</strong> da UP, o local da UP, o<br />
número das UP, a capacida<strong>de</strong> funcional (<strong>de</strong>ambulando ou acamado) e o diagnóstico nutricional.<br />
Resultado<br />
A incidência <strong>de</strong> UP na população estudada foi <strong>de</strong> 29,7% (n=27). Dentro dos pacientes com UP, 70,3%<br />
(n=19) apresentaram lesão entre primeiro e segundo graus. Em 25 pacientes (92,6%), a UP localizava-se na<br />
região sacral. Vinte pacientes apresentaram apenas uma UP (74,1%). A maioria dos pacientes com UP<br />
estava <strong>em</strong> tratamento clínico, 16 (59,3%) e recebendo dieta por via oral 19 (70,4%) e apenas 8 (29,6%)<br />
estavam recebendo dieta por sonda enteral. Dos pacientes com UP, 81,5% (n=22) estavam acamados e<br />
100% eram <strong>de</strong>snutridos. A chance <strong>de</strong> um paciente acamado apresentar UP é 4 vezes maior do que os que<br />
<strong>de</strong>ambulam. A média <strong>de</strong> dias <strong>de</strong> internação para os pacientes com UP foi 22,5 dias versos 16,9 dias para os<br />
s<strong>em</strong> UP (p>0,05). Consi<strong>de</strong>rando apenas os 30 primeiros dias <strong>de</strong> internação, observou-se que os pacientes<br />
com UP permaneceram mais t<strong>em</strong>po internados (11,5 dias vs 7,6 dias; p=0,03).<br />
Conclusão<br />
A incidência <strong>de</strong> UP está diretamente correlacionada com a <strong>de</strong>snutrição protéico calórica e com a redução da<br />
capacida<strong>de</strong> funcional.<br />
Unitermos<br />
Úlcera por pressão, estado nutricional, capacida<strong>de</strong> funcional<br />
IC74 - ALTERAÇÕES GASTRINTESTINAIS, CONSUMO ENERGÉTICO E SUA RELAÇÃO COM O<br />
ESTADO NUTRICIONAL EM PACIENTES COM AIDS HOSPITALIZADOS<br />
Autores: Portero-McLellan KC; Abreu APA; Vieira V; Bernardi JLD; Frenhani PB; Leandro-Merhi VA<br />
Instituição: Pontifícia Universida<strong>de</strong> Católica<br />
Objetivos<br />
O objetivo <strong>de</strong>ste trabalho foi i<strong>de</strong>ntificar a presença <strong>de</strong> alterações gastrintestinais <strong>em</strong> pacientes com AIDS<br />
hospitalizados e sua relação com o consumo energético e estado nutricional.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram avaliados 92 pacientes hospitalizados com AIDS, no período <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 2006 a <strong>de</strong>z<strong>em</strong>bro <strong>de</strong><br />
2008, dos quais 46 homens e 46 mulheres, com ida<strong>de</strong> média <strong>de</strong> 38,5 + 8,2 anos, com registros completos<br />
referentes aos dados antropométricos, dietéticos e clínicos. A análise estatística foi realizada no software<br />
ESTATÍSTICA 6.0, sendo o intervalo <strong>de</strong> confiança <strong>de</strong> 95% e valor <strong>de</strong> p
<strong>Avaliação</strong> nutricional, estado nutricional, consumo alimentar<br />
IC75 - AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DA INGESTÃO ALIMENTAR DE PACIENTES COM<br />
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO ATENDIDAS NO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA DO HOSPITAL<br />
DAS CLÍNICAS/UFMG<br />
Autores: Borges MC; Moura FM; Telles RW; Lanna CCD; Correia MITD<br />
Instituição: Faculda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Farmácia da UFMG<br />
Objetivos<br />
Avaliar o estado nutricional e a ingestão alimentar <strong>de</strong> pacientes com diagnóstico <strong>de</strong> LES atendidas no<br />
serviço <strong>de</strong> reumatologia do HC/UFMG.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram avaliadas 126 mulheres com LES, com ida<strong>de</strong>s entre 18 e 60 anos. A avaliação nutricional foi<br />
realizada pela avaliação global subjetiva, pelo índice <strong>de</strong> massa corporal (IMC) e por bioimpedância. Os<br />
critérios da International Diabetes Fe<strong>de</strong>ration foram utilizados para diagnóstico <strong>de</strong> síndrome metabólica e o<br />
International Physical Activity Questionnaire para avaliação da ativida<strong>de</strong> física. O recordatório <strong>de</strong> 24 horas<br />
(R24h), o questionário <strong>de</strong> freqüência <strong>de</strong> consumo (QFCA) e o registro alimentar (RA) foram os métodos<br />
utilizados na avaliação da ingestão alimentar. As análises estatísticas foram realizadas no software<br />
Statistical Package for Social Sciences (SPSS®), consi<strong>de</strong>rando-se como significativo o p
<strong>de</strong> tratamento dialítico utilizou-se os prontuários dos pacientes. Para avaliação do consumo alimentar,<br />
utilizou-se questionário <strong>de</strong> freqüência alimentar cont<strong>em</strong>plando grupos <strong>de</strong> alimentos. Após a sessão <strong>de</strong><br />
h<strong>em</strong>odiálise foram mensurados os dados antropométricos. A a<strong>de</strong>quação da diálise foi avaliada por meio do<br />
Kt/V single pool, segundo a fórmula <strong>de</strong> Daugirdas.<br />
Resultado<br />
A média <strong>de</strong> t<strong>em</strong>po do tratamento dialítico <strong>de</strong> 50,98±50,3 meses. Quanto à doença <strong>de</strong> base predominou a<br />
glomerolunefrite crônica (39,2%) seguida da nefroesclerose hipertensiva (25,5%). Verificou-se média para<br />
IMC <strong>de</strong> 22,86 ± 3,36 Kg/m² revelando eutrofia <strong>em</strong> 68,6% dos pacientes. As medidas do braço <strong>de</strong>monstraram<br />
<strong>de</strong>snutrição <strong>em</strong> 54,9% por meio da CB, 45,1% pela CMB e 74,5% através da PCT. Para níveis <strong>de</strong> uréia pósdiálise<br />
(43,91 mg/dL) consi<strong>de</strong>rado baixo. Os valores médios <strong>de</strong> albumina estavam abaixo do recomendado<br />
para o paciente renal (3,37 ± 0,47 g/dL). 35% dos pacientes apresentavam níveis <strong>de</strong> creatinina abaixo <strong>de</strong> 10<br />
mg/dL.Os pacientes apresentavam-se anêmicos, sendo que 45% <strong>de</strong>monstravam h<strong>em</strong>atócrito abaixo <strong>de</strong><br />
33% (31,55 ± 6,55) e 41,1% (9,99 ± 2,64) tinham concentração <strong>de</strong> h<strong>em</strong>oglobina inferior a 10 g/dL.As médias<br />
das concentrações <strong>de</strong> potássio e fósforo encontradas foram <strong>de</strong> 5,19 ± 072 e 5,82 ± 2,27 respectivamente.<br />
Quanto ao índice <strong>de</strong> r<strong>em</strong>oção <strong>de</strong> uréia (Kt/V), a qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> diálise encontrada nesse estudo foi a<strong>de</strong>quada<br />
para 48% dos pacientes. Nesse estudo, as principais fontes energéticas são consumidas consi<strong>de</strong>ravelmente<br />
entre os pacientes e gran<strong>de</strong> consumo <strong>de</strong> fontes protéicas.<br />
Conclusão<br />
Com isso, foi possível mostrar a heterogeneida<strong>de</strong> <strong>de</strong> estados nutricionais mediante os diversos parâmetros<br />
apresentados para esses pacientes. Por se tratar <strong>de</strong> alterações metabólicas variadas, o insuficiente renal<br />
particularmente <strong>em</strong> h<strong>em</strong>odiálise está sujeito a labilida<strong>de</strong>s quanto ao estado nutricional.<br />
Unitermos<br />
Insuficiência Renal Crônica, H<strong>em</strong>odiálise, Estado <strong>Nutricional</strong><br />
IC77 - ESTADO ANTROPOMÉTRICO E PREVALÊNCIA DE INADEQUAÇÃO DA INGESTÃO<br />
ENERGÉTICO-PROTEICA EM ADULTOS COM ANEMIA FALCIFORME<br />
Autores: Araújo AS; Santana MLP; Santos LA; Mendonça CRL; Jesus RP<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral da Bahia (UFBA)<br />
Objetivos<br />
Avaliar a prevalência <strong>de</strong> déficit antropométrico e <strong>de</strong> ina<strong>de</strong>quação da ingestão energético-proteica <strong>em</strong><br />
indivíduos adultos com an<strong>em</strong>ia falciforme comparando-os com indivíduos s<strong>em</strong> h<strong>em</strong>oglobinopatias.<br />
Materiais e métodos<br />
Trata-se <strong>de</strong> um estudo comparativo, não pareado, constituído por indivíduos adultos (20 a 59 anos), <strong>de</strong><br />
ambos os sexos. O índice <strong>de</strong> massa corporal (IMC) foi utilizado para avaliar o estado antropométrico e a<br />
composição corpórea foi obtida pelo percentual <strong>de</strong> gordura corporal (%GC) e da área muscular do braço<br />
corrigida (AMBc). A ingestão alimentar foi avaliada pela média <strong>de</strong> dois recordatórios <strong>de</strong> 24 horas. Para<br />
análise do risco <strong>de</strong> ina<strong>de</strong>quação da ingestão <strong>de</strong> energia e <strong>de</strong> proteína foi utilizada a abordag<strong>em</strong> proposta<br />
pelo Institute of Medicine of the United States. Proporções foram comparadas utilizando-se o teste quiquadrado<br />
ou teste <strong>de</strong> Fischer. A existência <strong>de</strong> associação entre an<strong>em</strong>ia falciforme e o estado antropométrico<br />
foi avaliada pela odds ratio. Para a comparação <strong>de</strong> médias entre os grupos referentes ao consumo alimentar<br />
e os indicadores antropométricos utilizou-se o teste T <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt. Nos testes mencionados foi consi<strong>de</strong>rado<br />
estatisticamente significante um p-valor inferior a 5%. A ina<strong>de</strong>quação <strong>de</strong> energia e proteína foi obtida pelo<br />
percentual <strong>de</strong> indivíduos que não conseguiram alcançar a recomendação média <strong>de</strong>stes.<br />
Resultado<br />
Foram avaliados 60 indivíduos, sendo 33 com an<strong>em</strong>ia falciforme e 27 s<strong>em</strong> esta doença. A média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong><br />
dos indivíduos foi <strong>de</strong> 32,4 anos (DP= 9,4) no grupo com an<strong>em</strong>ia falciforme (GAF) e <strong>de</strong> 37,8 anos (DP= 12,2)<br />
no grupo s<strong>em</strong> an<strong>em</strong>ia falciforme (GSAF). Os indivíduos com an<strong>em</strong>ia falciforme apresentaram<br />
significant<strong>em</strong>ente maior prevalência <strong>de</strong> magreza segundo IMC (30,3% vs 7,4%; p=0,049; OR = 5,4),<br />
<strong>de</strong>snutrição pela AMBc (78,8% vs 25,9%; p
Conclusão<br />
Concluiu-se que os portadores <strong>de</strong> an<strong>em</strong>ia falciforme apresentaram os maiores déficits antropométricos<br />
quando comparados aos indivíduos s<strong>em</strong> esta doença. Ocorreu uma elevada prevalência <strong>de</strong> ina<strong>de</strong>quação <strong>de</strong><br />
ingestão alimentar <strong>de</strong> energia que influenciou negativamente o estado antropométrico da população <strong>em</strong><br />
estudo, especialmente daqueles indivíduos que tinham an<strong>em</strong>ia falciforme.<br />
Unitermos<br />
An<strong>em</strong>ia falciforme, adultos, estado antropométrico, ingestão energético-proteica<br />
IC78 - PERFIL CLÍNICO, NUTRICIONAL E DEMOGRÁFICO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA<br />
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIA NUTRICIONAL DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO<br />
Autores: Paese MCS; Pexe P; Perdomo L; Perrone F; Sanches R; Dock-Nascimento DB<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Mato Grosso<br />
Objetivos<br />
Caracterizar clínica, nutricional e <strong>de</strong>mograficamente os pacientes acompanhados pela Equipe<br />
Multidisciplinar <strong>de</strong> Terapia <strong>Nutricional</strong> do Hospital Universitário Julio Muller (HUJM), Cuiabá, MT.<br />
Materiais e métodos<br />
Trata-se <strong>de</strong> um estudo clínico prospectivo, do tipo seccional, realizado entre março a <strong>de</strong>z<strong>em</strong>bro <strong>de</strong> 2008 no<br />
HUJM da Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Mato Grosso <strong>em</strong> Cuiabá-MT, com um total <strong>de</strong> 133 pacientes com ida<strong>de</strong><br />
mediana <strong>de</strong> 55 anos (38,3% idosos), sendo 81(60,9%) do sexo masculino e 52 (39,1%) do f<strong>em</strong>inino,<br />
submetidos a tratamento clínico (61; 45,9%), cirúrgico (66; 49,6%) ou intensivo (6; 4,5%). Do total da<br />
amostra, 36,1% eram portadores <strong>de</strong> neoplasia maligna. No HUJM, a EMTN acompanha apenas pacientes<br />
que necessitam <strong>de</strong> TN especializada enquanto que o Serviço <strong>de</strong> Nutrição acompanha todos os pacientes<br />
internados. Quando a TN não era julgada a<strong>de</strong>quada pela EMTN era <strong>em</strong>itido parecer com sugestões para TN<br />
apropriada. Esta sugestão po<strong>de</strong> ser acatada ou não. As variáveis coletadas foram: número <strong>de</strong> pareceres<br />
<strong>em</strong>itidos pela EMTN, diagnóstico nutricional, tipo e t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> terapia nutricional (TN), uso <strong>de</strong><br />
imunonutrientes, dieta precoce, t<strong>em</strong>po para atingir a meta calórica, t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> internação e mortalida<strong>de</strong>.<br />
Avaliou-se também a presença <strong>de</strong> complicações gastrointestinais, saída da sonda enteral e <strong>de</strong>iscência <strong>de</strong><br />
anastomose. Para a classificação do estado nutricional utilizou-se a avaliação subjetiva global. Foi<br />
consi<strong>de</strong>rado como precoce a TN prescrita nas primeiras 48 horas após a internação.<br />
Resultado<br />
Dos 133 pacientes acompanhados, 59 (44,4%) necessitaram <strong>de</strong> parecer nutricional e <strong>de</strong>stes, 55,9% foram<br />
atendidos. Dos pacientes acompanhados pela EMTN, 84,2% apresentavam <strong>de</strong>snutrição grave (C), 14,3%<br />
mo<strong>de</strong>rada (B) e 1,5% eram eutróficos (A). Aproximadamente 72% dos casos apresentaram perda pon<strong>de</strong>ral<br />
superior a 10% (média <strong>de</strong> 16% do peso habitual). A TN precoce foi prescrita para 77,4% dos pacientes,<br />
sendo que 72,9% receberam TN mista, 3,8% receberam terapia enteral, 9% parenteral e 14,3%<br />
supl<strong>em</strong>entação via oral. O t<strong>em</strong>po médio <strong>em</strong> TN foi <strong>de</strong> 14,6±10,7 dias. A meta nutricional foi atingida entre o<br />
3º e 5º dias <strong>em</strong> 57,9% dos casos. Aproximadamente ¼ dos pacientes receberam fórmula imunomoduladora.<br />
A diarréia ocorreu <strong>em</strong> 22,9%, a constipação intestinal <strong>em</strong> 45,4%, 25,2% apresentaram distensão abdominal,<br />
18,5% vômitos, <strong>em</strong> 19% ocorreu a saída da sonda enteral, 11% evoluíram com fístula enterocutânea e 6,7%<br />
com <strong>de</strong>iscência <strong>de</strong> anastomose. A t<strong>em</strong>po médio <strong>de</strong> internação foi <strong>de</strong> 23,5±16,7 dias. A mortalida<strong>de</strong><br />
observada foi <strong>de</strong> 30,1% (40).<br />
Conclusão<br />
O perfil da população acompanhada pela EMTN é <strong>de</strong> pacientes com <strong>de</strong>snutrição grave com gran<strong>de</strong> perda<br />
pon<strong>de</strong>ral. A TN mista foi a mais utilizada. A TN precoce foi prescrita <strong>em</strong> ¾ dos casos sendo a meta calórica<br />
atingida <strong>em</strong> t<strong>em</strong>po satisfatório. Em mais <strong>de</strong> meta<strong>de</strong> da amostra, a EMTN foi importante para redirecionar a<br />
TN do paciente.<br />
Unitermos<br />
Nutrição enteral, <strong>de</strong>snutrição proteico calórica, equipe multidisciplinar<br />
IC79 - PERFIL LIPÍDICO E SUA CORRELAÇÃO COM EXCESSO DE PESO EM ADULTOS ATENDIDOS<br />
PELO AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO DE UMA CLÍNICA POPULAR DA CIDADE DO RECIFE-PE
Autores: Ferreira ALL; Lima CR; Ponzi FKAX; Simões MP; Ferreira VM; Monteiro JS<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pernambuco- Departamento <strong>de</strong> Nutrição<br />
Objetivos<br />
Avaliar o perfil lipídico e sua correlação com excesso <strong>de</strong> peso <strong>em</strong> adultos atendidos pelo ambulatório <strong>de</strong><br />
nutrição <strong>de</strong> uma clínica popular da cida<strong>de</strong> do Recife-PE.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram coletados dados <strong>de</strong> 117 pacientes <strong>de</strong> ambos os sexos, na faixa etária entre 20 e 78 anos através das<br />
fichas <strong>de</strong> avaliação nutricional on<strong>de</strong> foi consi<strong>de</strong>rado o índice <strong>de</strong> massa corpórea (IMC) com a classificação<br />
da OMS 1995 e dados laboratoriais <strong>de</strong> colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol e triglicéri<strong>de</strong>s<br />
avaliados segundo as recomendações da IV Diretriz Brasileira sobre Dislipi<strong>de</strong>mia (SBC, 2007). A construção<br />
do banco <strong>de</strong> dados e a análise estatística foram realizadas nos programas Epi-info versão 6,04 e SPSS.<br />
Resultado<br />
Na amostra foi observado uma prevalência <strong>de</strong> excesso <strong>de</strong> peso, hipercolesterol<strong>em</strong>ia e hipertrigliceri<strong>de</strong>mia<br />
<strong>de</strong> 93,2% ; 58,8% e 61,4%, respectivamente. Quanto as frações LDL e HDL, verifica-se que no primeiro<br />
caso houve alteração <strong>em</strong> 75,6% da amostra, enquanto que para o HDL on<strong>de</strong> há pontos <strong>de</strong> corte<br />
diferenciados por sexo, o percentual <strong>de</strong> alteração foi <strong>de</strong> 69,0% (homens) e 85,2% (mulheres). Na avaliação<br />
da possível associação entre as variáveis do perfil lipídico e o excesso <strong>de</strong> peso, vale <strong>de</strong>stacar que nenhuma<br />
associação se mostrou estatisticamente significante (p>0,05).<br />
Conclusão<br />
A elevada prevalência <strong>de</strong> excesso <strong>de</strong> peso e dislipi<strong>de</strong>mia encontrada na amostra, retrata a importância<br />
<strong>de</strong>sses distúrbios como probl<strong>em</strong>a <strong>de</strong> saú<strong>de</strong> pública que hoje afeta <strong>de</strong> forma mais grave as populações<br />
menos favorecidas, as quais não t<strong>em</strong> acesso n<strong>em</strong> ao diagnóstico precoce n<strong>em</strong> ao tratamento a<strong>de</strong>quado.<br />
Por outro lado, o fato <strong>de</strong> não ter ocorrido associação entre o peso e as variáveis lipídicas, po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>vido<br />
ao pequeno número amostral. Desse modo, são necessários mais estudos sobre o t<strong>em</strong>a com a finalida<strong>de</strong><br />
principal <strong>de</strong> intervir <strong>em</strong> termos <strong>de</strong> prevenção primária e secundária das doenças crônicas não<br />
transmissíveis.<br />
Unitermos<br />
Atendimento ambulatorial, adultos, estado nutricional, excesso <strong>de</strong> peso, perfil lipídico<br />
IC80 - AVALIAÇÃO E TERAPIA NUTRICIONAL DOS PACIENTES DISFÁGICOS INTERNADOS NA<br />
CLÍNICA MÉDICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />
Autores: Sonsin PB; Bonfim C; Silva ALND; Caruso L; Bernik MMS<br />
Instituição: Hospital Universitário - Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo<br />
Objetivos<br />
Aprimorar a qualida<strong>de</strong> da assistência nutricional a pacientes disfágicos no HU-USP através do<br />
estabelecimento do perfil nutricional dos pacientes e da análise do padrão <strong>de</strong> dietas.<br />
Materiais e métodos<br />
O estudo <strong>de</strong> caráter transversal, <strong>de</strong>senvolvido com pacientes disfágicos internados na Clínica Médica do<br />
HU-USP, foi aprovado pelo Comitê <strong>de</strong> Ética e Pesquisa. A avaliação nutricional foi realizada com a aplicação<br />
dos parâmetros antropométricos Índice <strong>de</strong> Massa Corpórea (IMC), Circunferência do Braço (CB), Prega<br />
Cutânea Tricipital (PCT) e Circunferência Muscular do Braço (CMB), e dos parâmetros bioquímicos<br />
albumina sérica, h<strong>em</strong>oglobina e h<strong>em</strong>atócrito, analisados segundo padrões <strong>de</strong> referência para ida<strong>de</strong> e sexo.<br />
A bioimpedância elétrica foi feita para a obtenção do ângulo <strong>de</strong> fase. A composição nutricional do padrão<br />
alimentar do HU-USP foi estimada pelo programa Nutwin®. Os testes estatísticos ANOVA e Correlação <strong>de</strong><br />
Pearson foram realizados no programa SPSS 17.0.<br />
Resultado<br />
Foram acompanhados 30 pacientes disfágicos, sendo 50% agudos e 50% crônicos, com distribuição<br />
praticamente homogênea quanto ao gênero (53,3% homens e 46,7% mulheres) e predomínio <strong>de</strong> idosos<br />
(86,7%), com a média <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 74,57 + 13,46 anos. A orig<strong>em</strong> neurogênica foi a principal causa da<br />
disfagia orofaríngea (90% dos casos), e o Aci<strong>de</strong>nte Vascular Cerebral (AVC), a doença neurológica mais<br />
prevalente, atingindo 81,5% <strong>de</strong>sses pacientes. Sobre as medidas antropométricas, a média do IMC foi <strong>de</strong><br />
23,14 + 4,66 kg/m2, da CB foi <strong>de</strong> 27,47 + 3,83 cm, da PCT foi <strong>de</strong> 15,64 + 7,31 mm e da CMB foi <strong>de</strong> 22,56 +
2,78 cm. Com relação aos parâmetros bioquímicos, a média da albumina sérica foi <strong>de</strong> 3,13 + 0,63 g/dL, a da<br />
h<strong>em</strong>oglobina foi <strong>de</strong> 11,76 + 2,06 g% e a do h<strong>em</strong>atócrito foi <strong>de</strong> 36,00 + 6,40 %. Verificou-se a existência <strong>de</strong><br />
comprometimento nutricional <strong>em</strong> gran<strong>de</strong> parte da amostra. O ângulo <strong>de</strong> fase (média <strong>de</strong> 4,23 + 1,15°) foi<br />
igual ou maior que 4° <strong>em</strong> 63,3% dos pacientes, indicando prognóstico favorável e condições para a<br />
reabilitação. Além disso, foram encontradas correlações significativas entre o ângulo <strong>de</strong> fase e ida<strong>de</strong>, IMC,<br />
albumina, h<strong>em</strong>oglobina e h<strong>em</strong>atócrito (p < 0,05). O padrão alimentar do HU-USP foi adaptado para aten<strong>de</strong>r<br />
as necessida<strong>de</strong>s nutricionais dos pacientes, e foi proposto um algoritmo para que a transição da terapia<br />
nutricional enteral para via oral assegure a oferta nutricional suficiente aos pacientes.<br />
Conclusão<br />
A análise do perfil nutricional dos pacientes e do padrão <strong>de</strong> dietas permitiu que foss<strong>em</strong> <strong>de</strong>senvolvidas<br />
estratégias para a intervenção nutricional, visando melhorar a qualida<strong>de</strong> do atendimento dos pacientes<br />
disfágicos internados na Clínica Médica do HU-USP. No entanto, são necessárias mais pesquisas,<br />
sugerindo-se a continuação <strong>de</strong>ste estudo.<br />
Unitermos<br />
Disfagia; Estado <strong>Nutricional</strong>; Impedância Bioelétrica; Dietoterapia.<br />
IC81 - INFLUÊNCIA DO HIPERPARATIROIDISMO SECUNDÁRIO NO ESTADO NUTRICIONAL DE<br />
PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM HEMODIÁLISE<br />
Autores: Farias CLA; Henriques VT<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral do Paraná<br />
Objetivos<br />
Avaliar se a presença <strong>de</strong> hiperparatireoidismo secundário (HPT2) altera o estado nutricional <strong>de</strong> pacientes<br />
<strong>em</strong> h<strong>em</strong>odiálise.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram avaliados 46 pacientes divididos <strong>em</strong> 2 grupos <strong>de</strong> acordo com os níveis <strong>de</strong> PTH: grupo NHPT (n=25)<br />
pacientes com PTH300pg/mL. Foram avaliados os<br />
exames bioquímicos (albumina, fósforo e cálcio), cáculo do PNA (taxa <strong>de</strong> aparecimento do nitrogênio<br />
urinário) e antropometria para <strong>de</strong>terminar o estado nutricional. Foi utilizado o software Sigma Stat para<br />
análise estatística sendo realizado o teste t Stu<strong>de</strong>nt e correlação <strong>de</strong> Pearson, utilizando p
<strong>de</strong> sintomas físicos - cólicas, dor <strong>de</strong> cabeça, inchaço e dor nos seios - na tensão pré menstrual (TPM).<br />
Materiais e métodos<br />
Realizou-se uma pesquisa experimental com estudo prospectivo, <strong>em</strong> mulheres <strong>em</strong> ida<strong>de</strong> reprodutiva,<br />
resi<strong>de</strong>ntes <strong>em</strong> Blumenau, S.C., Brasil. A escolha das 40 mulheres foi realizada a partir <strong>de</strong> recordatório <strong>de</strong> 24<br />
horas <strong>de</strong> um dia típico e questionário <strong>de</strong> freqüência alimentar com alimentos fontes <strong>de</strong> selênio (QFA)<br />
adaptado por FISBERG et al (2005). Foram excluídas da amostra inicial (n=100) mulheres que<br />
apresentavam ingestão i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> Se ao dia, verificada após avaliação do recordatório <strong>de</strong> 24 horas por<br />
software nutricional. Sabendo-se que uma unida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sta castanha equivale à necessida<strong>de</strong> diária<br />
recomendada <strong>de</strong> Se para o adulto (MODROW et al, 2008; SOUZA & MENEZES 2004), instruiu-se cada<br />
participante a consumir 8g/dia (2 unida<strong>de</strong>s) por 90 dias e a observar alterações físicas comparativamente<br />
àquelas existentes antes do início do consumo. Os dados obtidos foram analisados <strong>em</strong>pregando-se teste <strong>de</strong><br />
média (T-Stu<strong>de</strong>nt) e teste <strong>de</strong> comparação (Qui-quadrado), sendo as diferenças consi<strong>de</strong>radas significativas<br />
para nível <strong>de</strong> significância <strong>de</strong> 5%.<br />
Resultado<br />
Após análise comparativa dos relatos dos sintomas físicos antes e após a ingestão da castanha, observouse<br />
que <strong>em</strong> relação à dor nos seios, inchaço e cólica menstrual houve redução ou eliminação satisfatória<br />
(>70% da amostra), concordando com outros estudos como <strong>de</strong> GHISLENI (2006) e NETO & FILHO (2003),<br />
que afirmam que os compostos orgânicos <strong>de</strong> Se apresentam proprieda<strong>de</strong>s antiinflamatórias por reduzir<br />
hidroperóxidos intermediários formados na via da cicloxigenase e lipoxigenase, diminuindo a produção <strong>de</strong><br />
prostaglandinas e leucotrienos aliviando os sintomas da TPM. Em relação à dor <strong>de</strong> cabeça houve redução<br />
ou eliminação significativa (p=0,0485), confirmando estudos <strong>de</strong> SOUZA & MENEZES (2004) e PRONHOW<br />
et al (2006), que afirmam que o Se combate vários sintomas da TPM atuando beneficamente no sist<strong>em</strong>a<br />
nervoso central com ênfase na neurotransmissão.<br />
Conclusão<br />
A redução e até eliminação dos sintomas da TPM com o uso <strong>de</strong> fonte alimentar <strong>de</strong> Se reduz, além dos<br />
sintomas comportamentais, também os físicos por ser este mineral atuante sobre a expressão dos<br />
hormônios progesterona e estrogênio resultando <strong>em</strong> regulação hormonal e aumento dos níveis <strong>de</strong>stes 2<br />
hormônios durante a fase lútea proporcionando a diminuição das sintomatologias da TPM. Recomenda-se<br />
mais estudos com este tipo <strong>de</strong> alimento por ser nativo e haver a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se <strong>de</strong>scobrir mais<br />
benefícios na redução e prevenção <strong>de</strong> outras patologias e sintomatologias <strong>em</strong> ambos os sexos.<br />
Unitermos<br />
síndrome pré menstrual; castanha do Brasil; selênio<br />
IC83 - EFEITO DE UM ALIMENTO FERMENTADO, A BASE DE TRIGO E SOJA, EM PÓ, NA<br />
CONSTIPAÇÃO INTESTINAL DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE DO CENTRO DE TRATAMENTO DE<br />
DOENÇAS RENAIS, EM JUIZ DE FORA, MG<br />
Autores: Vanelli CP; Cl<strong>em</strong>ente DP; Dias NFGP; Roncolato R; Jacobucci HB<br />
Instituição: Centro <strong>de</strong> Tratamento <strong>de</strong> Doenças renais Ltda<br />
Objetivos<br />
Avaliar a ação <strong>de</strong> um alimento fermentado <strong>em</strong> pó a base <strong>de</strong> soja, trigo e gérmen <strong>de</strong> trigo integrais, na<br />
melhora da constipação intestinal causada pelo uso do quelante Carbonato <strong>de</strong> Cálcio, <strong>em</strong> doentes renais<br />
crônicos submetidos à h<strong>em</strong>odiálise.<br />
Materiais e métodos<br />
O estudo piloto foi <strong>de</strong>senvolvido no Centro <strong>de</strong> Tratamento <strong>de</strong> Doenças Renais (CTDR), <strong>em</strong> Juiz <strong>de</strong> Fora –<br />
MG. Foram selecionados 10 pacientes <strong>em</strong> h<strong>em</strong>odiálise classificados como constipados, sintoma inicialmente<br />
relatado pelos pacientes. A classificação utilizada no CTDR é a <strong>de</strong> Loening-Baucke (1993), que <strong>de</strong>fine<br />
constipação como a ocorrência <strong>de</strong> menos <strong>de</strong> três evacuações por s<strong>em</strong>ana. Utilizou-se um alimento<br />
fermentado fornecido pela <strong>em</strong>presa AferBio Bioalimentos LTDA, o qual foi entregue aos pacientes <strong>em</strong><br />
quantida<strong>de</strong> suficiente para 30 dias <strong>de</strong> ingestão, sendo os mesmos orientados quanto a preparação,<br />
misturando-o <strong>em</strong> água ou sucos <strong>de</strong> frutas, na dose <strong>de</strong> 8g, uma vez ao dia.<br />
Resultado<br />
A maioria dos pacientes (90%) seguiu as orientações para utilização do produto e apresentou melhora da<br />
constipação. Os restantes relataram uso irregular do alimento <strong>em</strong> questão, não apresentando melhora
significativa da constipação. Um fator importante que reforça o efeito positivo do fermentado utilizado referese<br />
ao fato <strong>de</strong> que os pacientes que obtiveram efeitos positivos com a utilização do produto, após interrupção<br />
<strong>de</strong> sua ingestão, relataram o retorno do sintoma.<br />
Conclusão<br />
O uso do alimento fermentado por doentes renais crônicos favoreceu a saú<strong>de</strong> do intestino, trazendo<br />
melhora no trânsito intestinal, com consequente aumento na frequência <strong>de</strong> evacuações. Esses resultados<br />
indicam que a utilização <strong>de</strong>ste produto é interessante no tratamento da constipação e na melhoria da<br />
qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vida <strong>de</strong>sses indivíduos. Vale ressaltar a importância da continuida<strong>de</strong> <strong>de</strong>sses estudos, com uma<br />
intervenção por maior t<strong>em</strong>po e com um número maior <strong>de</strong> pessoas, o que possibilitaria acompanhar a<br />
evolução <strong>de</strong>sses efeitos <strong>em</strong> longo prazo.<br />
Unitermos<br />
Alimento <strong>em</strong> pó fermentado, soja, trigo, constipação, doente renal crônico<br />
IC84 - RELAÇÃO ENTRE A RECOMENDAÇÃO E INGESTÃO DE NUTRIENTES EM PACIENTES EM<br />
HEMODIÁLISE<br />
Autores: Bertin RL; Gorz FB; L<strong>em</strong>os C; Tavares LBB; Wolf MR<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Regional <strong>de</strong> Blumenau - FURB<br />
Objetivos<br />
Avaliar comparativamente as recomendações com a ingestão <strong>de</strong> nutrientes <strong>em</strong> pacientes <strong>em</strong> h<strong>em</strong>odiálise<br />
na Clínica <strong>de</strong> Rins do Vale do Itajaí, SC.<br />
Materiais e métodos<br />
Esta pesquisa caracterizou-se como transversal, analítica e observacional. De um total <strong>de</strong> 105 pacientes <strong>em</strong><br />
h<strong>em</strong>odiálise <strong>de</strong> manutenção, n=30 indivíduos com ida<strong>de</strong> igual ou superior a 20 anos foram selecionados.<br />
Foram excluídos da amostra aqueles com: 1) infecções recentes (< 3 meses); 2) tuberculose <strong>em</strong> tratamento;<br />
3) doença intestinal; 4) alcoolismo crônico; 5) HIV; 6)diabetes melitos e 7) insucessos <strong>de</strong> transplante renal<br />
nos últimos seis meses. Para a coleta <strong>de</strong> dados, utilizou-se um diário alimentar <strong>de</strong> 5 dias para avaliação da<br />
ingestão <strong>de</strong> nutrientes. A análise <strong>de</strong>sta ingestão foi feita através do software <strong>de</strong> Nutrição Clínica Dietwin®.<br />
Posteriormente comparou-se à recomendação existente na literatura (MALNIC & MARCONDES, 1989;<br />
SKLAR& HUDSON, 1993; RIELLA & MARTINS, 2001; SEGURO et al, 2002; CUPPARI et al., 2005;<br />
MARTINS, 2006; SILVA & MURA, 2007; KOPPLE & MASSRY, 2006; KELLEHER & LINAS, 2008) para<br />
pacientes <strong>em</strong> h<strong>em</strong>odiálise. As variáveis categorizadas foram organizadas <strong>em</strong> tabela <strong>de</strong> freqüências<br />
(proporções). As variáveis quantitativas foram organizadas <strong>em</strong> tabelas com médias, <strong>de</strong>svio padrão e<br />
coeficiente <strong>de</strong> variação. Também foram obtidas estimativas <strong>de</strong> média e proporção das medidas<br />
apresentadas nas tabelas <strong>em</strong> forma <strong>de</strong> intervalos com 95% <strong>de</strong> confiança. Para verificar a existência <strong>de</strong><br />
diferenças significativas entre as categorias das variáveis pesquisadas utilizou-se o teste Qui-quadrado <strong>de</strong><br />
a<strong>de</strong>rência com nível <strong>de</strong> significância <strong>de</strong> 5%.<br />
Resultado<br />
Pô<strong>de</strong>-se afirmar que o consumo dos macronutrientes estava ina<strong>de</strong>quado. Em relação aos minerais, a<br />
ingestão <strong>de</strong> sódio e potássio estava a<strong>de</strong>quada na maioria dos pacientes. Em relação ao cálcio e ferro, a<br />
ingestão era <strong>de</strong>ficiente na maior parte da amostra e, <strong>em</strong> conseqüência, a ingestão <strong>de</strong> fósforo ficou acima do<br />
recomendado.<br />
Conclusão<br />
A partir dos resultados <strong>de</strong>ste estudo, pô<strong>de</strong>-se concluir que exist<strong>em</strong> alterações do estado nutricional <strong>de</strong><br />
pacientes renais crônicos submetidos ao tratamento h<strong>em</strong>odialítico. A baixa ingestão <strong>de</strong> alimentos e a<br />
quantida<strong>de</strong> ina<strong>de</strong>quada <strong>de</strong> nutrientes consumidos favorec<strong>em</strong> a manifestação da <strong>de</strong>snutrição nesses<br />
indivíduos.<br />
Unitermos<br />
macronutrientes, micronutrientes, h<strong>em</strong>odiálise<br />
IC85 - COMPARAÇÃO ENTRE NECESSIDADES ENERGÉTICAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS E<br />
SUA INGESTÃO ALIMENTAR, ANALISANDO A CONTRIBUIÇÃO DA FORTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS<br />
PARA O AUMENTO DO APORTE CALÓRICO DA DIETA HOSPITALAR
Autores: Franco S; Nunes ACP; Wichoski C; Silvério D; Martins FA; Bianco K<br />
Instituição: UNICENTRO<br />
Objetivos<br />
O presente trabalho buscou comparar as necessida<strong>de</strong>s energéticas e ingestão alimentar e através da<br />
fortificação <strong>de</strong> alimentos aumentar a ingestão calórica dos pacientes hospitalizados.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram avaliados 31 pacientes internados <strong>em</strong> um hospital Guarapuava, Paraná. Destes 10 eram idosos (<br />
sendo 70% do sexo f<strong>em</strong>inino e 21 eram adultos ( dos quais 52% do sexo f<strong>em</strong>inino ). As causas <strong>de</strong><br />
internação eram variadas, porém <strong>em</strong> nenhuma das causas foi contra indicado o aumento calórico b<strong>em</strong><br />
como os componentes nutricionais dos alimentos fortificados. A ingestão calórica foi verificada através <strong>de</strong><br />
recordatório <strong>de</strong> 24 horas, durante quatro dias consecutivos, sua análise foi feita no programa <strong>de</strong> análise<br />
nutricional Dietwin Clinico.No <strong>de</strong>correr da pesquisa foi oferecido aos pacientes três tipos <strong>de</strong> biscoitos,<br />
enriquecidos com farinhas <strong>de</strong> s<strong>em</strong>ente <strong>de</strong> abóbora, arroz e <strong>de</strong> soja, sendo ofertando três unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cada<br />
tipo <strong>de</strong> biscoito, durante três dias. Para os pacientes que optaram pela ingestão <strong>de</strong> sopa, receberam a<br />
fortificação através da adição <strong>de</strong> 5g <strong>de</strong> cada farinha diretamente no prato. As farinhas b<strong>em</strong> como os<br />
biscoitos, foram preparados, sendo padronizadas as porções <strong>em</strong> 30g e <strong>de</strong>terminadas as informações<br />
nutricionais dos mesmos. O cálculo das necessida<strong>de</strong>s energéticas dos pacientes foi calculado <strong>de</strong> acordo<br />
com a equação proposta por Harris-Benedict, utilizando fator injúria <strong>de</strong> acordo com a enfermida<strong>de</strong> do<br />
paciente e fator ativida<strong>de</strong> 1,2 para pacientes acamados e 1,3 para os que <strong>de</strong>ambulavam. O peso utilizado<br />
no cálculo das necessida<strong>de</strong>s energéticas foi o i<strong>de</strong>al, sendo utilizado o Índice <strong>de</strong> Massa Corporal (IMC)<br />
médio <strong>de</strong> 21,5Kg/m2 para mulheres adultas, 22,5Kg/m2 para homens adultos (OMS, 1995) e 24,5Kg/m2<br />
para idosos (LIPSCHITZ, 1994).<br />
Resultado<br />
A média da Taxa <strong>de</strong> Metabolismo Basal (TMB) encontrada entre os participantes foi <strong>de</strong> 1156kcal para<br />
homens e 1283,23Kcal para as mulheres o valor médio para ambos os sexos foi <strong>de</strong> 1219,61Kcal. O Gasto<br />
Energético Total (GET) correspon<strong>de</strong>u a 2241,49Kcal para homens e 1798,18 para as mulheres, o valor<br />
médio foi <strong>de</strong> 2019,83Kcal. Os valores médios da composição química da dieta hospitalar foram: Calorias<br />
1098,75, proteínas 36,23g (144,92Kcal), carboidratos 178,61g (714,44Kcal), lipí<strong>de</strong>os 33,31g (299,79Kcal).<br />
Observou-se que a dieta hospitalar atingiu 90% da TMB média e 54% das necessida<strong>de</strong>s energéticas totais<br />
dos pacientes, resultando <strong>em</strong> um déficit <strong>de</strong> 921 kcal/dia. A média <strong>de</strong> calorias oferecidas pelos biscoitos foi<br />
<strong>de</strong> 167,12Kcal e das farinhas foi <strong>de</strong> 26,52 Kcal. A ingestão dos biscoitos melhorou <strong>em</strong> 15% a oferta <strong>de</strong><br />
calorias enquanto que, o enriquecimento da sopa com as farinhas contribui para um aumentou do aporte <strong>de</strong><br />
calórico <strong>em</strong> 2,41% do valor energético total da dieta hospitalar.<br />
Conclusão<br />
Nesse sentido observamos a melhor eficiência da supl<strong>em</strong>entação da alimentação hospitalar com biscoitos<br />
quando comparado com as farinhas pois estes contribuíram <strong>de</strong> forma mais significativa com o fornecimento<br />
<strong>de</strong> energia e nutrientes.<br />
Unitermos<br />
fortificação <strong>de</strong> alimentos, dieta hospitalar<br />
IC86 - CONSUMO DE AGUARDENTE E RESTRIÇÃO ALIMENTAR: ESTUDO EM RATOS<br />
ADOLESCENTES<br />
Autores: Bion FM; Soares JKB; Nascimento E; Me<strong>de</strong>iros MC; Pessoa DCN; <strong>de</strong> P Burgos; MGP <strong>de</strong> A<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Pernambuco - Departamento <strong>de</strong> Nutrição<br />
Objetivos<br />
Estudar os efeitos da ingestão da aguar<strong>de</strong>nte e/ou da restrição alimentar <strong>em</strong> ratos Wistar adolescentes<br />
sobre parâmetros bioquímicos e nutricionais.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram utilizados 40 ratos machos (60 dias) divididos <strong>em</strong> 4 grupos (n=10): GC (controle): água e ração ad<br />
libitum ; GA: água, solução hidroalcoólica (60% <strong>de</strong> aguar<strong>de</strong>nte) e ração ad libitum; GR: água e restrição<br />
alimentar (70% da ingestão do GC); GRA: água, solução hidroalcoólica (60% <strong>de</strong> aguar<strong>de</strong>nte) e restrição<br />
alimentar (70% da ingestão do GA), recebendo dieta comercial “Labina” durante 14 dias. Foi avaliado o
ganho <strong>de</strong> peso s<strong>em</strong>analmente, e o consumo diário da ingestão alimentar, hídrica e da solução<br />
hidroalcoólica. Após anestesia, o sangue foi coletado por punção cardíaca para dosagens bioquímicas <strong>de</strong><br />
colesterol total (CT), triglicerí<strong>de</strong>os (TG) e a relação CT/HDL-C, sendo o fígado retirado e pesado. A pesquisa<br />
foi aprovada pelo Comitê <strong>de</strong> Ética para Animais do Centro <strong>de</strong> Ciências Biológicas da UFPE.<br />
Resultado<br />
O GA (28,25 ± 2,76) consumiu mais ração do que o GC (25,16±3,19) (p
Instituição: Universida<strong>de</strong> para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal<br />
Objetivos<br />
Verificar se a ingestão <strong>de</strong> açúcar induz ao maior ganho <strong>de</strong> peso e/ou gordura corporal frente ao consumo <strong>de</strong><br />
adoçantes.<br />
Materiais e métodos<br />
Utilizou-se 24 ratos adultos da linhag<strong>em</strong> Wistar com administração ad libitum <strong>de</strong> ração e água por um<br />
período <strong>de</strong> 64 dias seguido <strong>de</strong> eutanásia por <strong>de</strong>slocamento cervical. Foram divididos <strong>em</strong> 4 grupos (n=6):<br />
Controle (CO) - ausência <strong>de</strong> intervenção experimental, recebendo água e ração padrão; Açúcar (AÇ) - ração<br />
padrão e água com açúcar refinado (25g/500ml); Aspartame (AS) - ração padrão e água com adoçante<br />
aspartame (25 gotas/500ml); Steviosí<strong>de</strong>o (ST) - ração padrão e água com adoçante stevisí<strong>de</strong>o (20<br />
gotas/500ml). As diluições foram baseadas nas informações contidas nos rótulos dos adoçantes, on<strong>de</strong> 1<br />
colher <strong>de</strong> chá <strong>de</strong> açúcar (5g) equivale a 4 e 5 gotas para aspartame e steviosí<strong>de</strong>o, respectivamente. As<br />
variáveis experimentais foram: ingestão <strong>de</strong> água mensurada <strong>em</strong> proveta volumétrica, ingestão <strong>de</strong> ração e<br />
peso corporal <strong>em</strong> balança Filizola com precisão <strong>de</strong> 0,5g. Todas essas quantificadas três vezes s<strong>em</strong>anais<br />
durante todo o experimento. Após eutanásia a gordura retroperitoneal e epididimal foi totalmente r<strong>em</strong>ovida e<br />
pesada <strong>em</strong> balança analítica da marca Tecnal, precisão <strong>de</strong> 0,001g. Utilizou-se Análise <strong>de</strong> Variância<br />
(ANOVA) seguido <strong>de</strong> Teste t para p
machos entre todos os dias estudados, com exceção do dia 28 para os que ingeriram aguar<strong>de</strong>nte (p=<br />
0,151). Houve diferença significativa entre o peso corporal <strong>de</strong> ambos os sexos (p 0,05) quando comparados<br />
aos seus valores basais Verifica-se que a proteína vegetal aten<strong>de</strong>, segundo o padrão FAO/WHO, a todos os<br />
aminoácidos essenciais. O ganho <strong>de</strong> peso não diferiu significativamente do ganho <strong>de</strong> peso dos animais<br />
alimentados com a dieta <strong>de</strong> proteína <strong>de</strong> orig<strong>em</strong> animal, o que indica uma boa utilização das proteínas do<br />
grupo experimental. Os valores <strong>de</strong> PER sinalizam que o pão integral fornecido aos animais foi suficiente<br />
para promover ganho <strong>de</strong> peso e manutenção do peso corporal. O valor <strong>de</strong> NPR mais alto que do PER<br />
observado no experimento, confirma a alta qualida<strong>de</strong> da proteína utilizada. Os valores <strong>de</strong> NPU <strong>de</strong>monstram<br />
que a qualida<strong>de</strong> da proteína vegetal é superior à caseína para promover síntese protéica. As proteínas <strong>de</strong><br />
orig<strong>em</strong> animal apresentaram maiores valores <strong>de</strong> digestibilida<strong>de</strong> verda<strong>de</strong>ira que as <strong>de</strong> orig<strong>em</strong> vegetal, porém<br />
o PDCAAS é um índice mais apropriado para avaliar a qualida<strong>de</strong> protéica <strong>em</strong> alimentos e esses valores<br />
suger<strong>em</strong> que o pão integral é um ex<strong>em</strong>plo <strong>de</strong> fonte protéica <strong>de</strong> boa qualida<strong>de</strong>.<br />
Conclusão<br />
Verificou-se que a proteína vegetal aten<strong>de</strong>, segundo o padrão FAO/WHO, a todos os aminoácidos<br />
essenciais, sendo consi<strong>de</strong>rada <strong>de</strong> alto valor nutricional. Portanto, po<strong>de</strong>-se concluir que o pão integral<br />
representa uma boa fonte protéica vegetal a ser utilizada pela população além <strong>de</strong> possivelmente contribuir<br />
para a prevenção <strong>de</strong> doenças não transmissíveis.<br />
Unitermos<br />
Pão; nutrição experimental ;qualida<strong>de</strong> protéica<br />
IC91 - COMPARAÇÃO DE ATIVIDADE ANTIOXIDANTE, CONTEÚDO EM FENÓLICOS TOTAIS E<br />
ESTABILIDADE DO CHÁ VERDE (CAMELLIA SINENSIS) BRASILEIRO, CHINÊS E JAPONÊS EM<br />
DIFERENTES TEMPOS DE INFUSÃO E MODOS DE PREPARO
Autores: Nishiyama MF; Costa MAF; Souza CGM; Bôer CG; Bracht CK; Peralta RM<br />
Instituição: Faculda<strong>de</strong> União das Américas (UNIAMÉRICA)<br />
Objetivos<br />
Este trabalho teve como objetivo estudar os efeitos dos diferentes t<strong>em</strong>pos <strong>de</strong> infusão do chá ver<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
diferentes procedências <strong>em</strong> relação à ativida<strong>de</strong> antioxidante e estabilida<strong>de</strong> dos compostos fenólicos.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram estudadas três procedências <strong>de</strong> chás: brasileiro, chinês e japonês. Os chás foram obtidos no<br />
comércio local. Para o preparo dos chás, foram padronizadas as variáveis: quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> água, erva, t<strong>em</strong>po<br />
<strong>de</strong> infusão, t<strong>em</strong>peratura, textura e forma <strong>de</strong> acondicionamento das folhas. A 200 mL <strong>de</strong> água, foram<br />
adicionadas 1,75 gramas <strong>de</strong> erva e as misturas mantidas entre 70 a 80° C com e s<strong>em</strong> agitação por dois<br />
minutos e meio, cinco e <strong>de</strong>z minutos. Os chás foram imediatamente filtrados e avaliados quanto a sua<br />
ativida<strong>de</strong> antioxidante (método DPPH) e quantida<strong>de</strong> <strong>em</strong> fenólicos totais (método <strong>de</strong> Folin), além da<br />
quantida<strong>de</strong> total <strong>de</strong> sólidos extraídos.<br />
Resultado<br />
Os resultados obtidos mostraram que a infusão por 2 minutos e meio foi insuficiente para extrair compostos<br />
fenólicos e consequent<strong>em</strong>ente apresentou menor ativida<strong>de</strong> antioxidante. O chá brasileiro quando preparado<br />
acondicionado <strong>em</strong> sachê liberou uma quantida<strong>de</strong> menor <strong>de</strong> antioxidantes sendo necessário <strong>de</strong>ixá-lo por<br />
mais t<strong>em</strong>po <strong>em</strong> infusão (10 minutos) sob agitação. A textura dos chás chinês e japonês foi bastante<br />
diferente das do chá brasileiro e os mesmos foram triturados para melhor comparação das três amostras.<br />
Após a padronização das texturas, os dados obtidos não mostraram diferenças significativas entre as três<br />
amostras (p>0,05) tanto no teor <strong>em</strong> compostos fenólicos e sólidos solúveis extraídos, quanto na ativida<strong>de</strong><br />
antioxidante. Todas as preparações mostraram-se estáveis por 24 horas quando mantidas <strong>em</strong> gela<strong>de</strong>ira e a<br />
t<strong>em</strong>peratura ambiente.<br />
Conclusão<br />
Nossos dados suger<strong>em</strong> que para um total aproveitamento das proprieda<strong>de</strong>s antioxidantes do chá ver<strong>de</strong>, o<br />
mesmo <strong>de</strong>ve ser preparado com t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> infusão <strong>de</strong> pelo menos 5 minutos, sob agitação e a granel, pois o<br />
acondicionamento do chá <strong>em</strong> sachês reduz a extração dos compostos bioativos do chá ver<strong>de</strong>. Nossos<br />
dados não apontaram diferenças significativas entre os chás das três procedências (brasileiro, chinês e<br />
japonês) <strong>em</strong> relação a capacida<strong>de</strong> antioxidante, sólidos solúveis extraídos e compostos fenólicos totais.<br />
Unitermos<br />
Ativida<strong>de</strong> antioxidante, chá ver<strong>de</strong>, compostos fenólicos<br />
IC92 - CHÁ VERDE BRASILEIRO (CAMELLIA SINENSIS VAR ASSAMICA): EFEITOS DO TEMPO DE<br />
INFUSÃO, ACONDICIONAMENTO DA ERVA E FORMA DE PREPARO SOBRE A EFICIÊNCIA DE<br />
EXTRAÇÃO DOS BIOATIVOS E SOBRE A ESTABILIDADE DA BEBIDA<br />
Autores: Nishiyama MF; Costa MAF; Souza CGM; Bôer CG; Bracht CK; Peralta RM<br />
Instituição: Faculda<strong>de</strong> União das Américas (UNIAMÉRICA)<br />
Objetivos<br />
Avaliar os efeitos do t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> infusão, forma <strong>de</strong> acondicionamento (a granel ou <strong>em</strong> saches) da erva e forma<br />
<strong>de</strong> preparo da bebida (com agitação ou não) na extração dos bioativos do chá ver<strong>de</strong> brasileiro e na<br />
estabilida<strong>de</strong> da bebida obtida.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram utilizadas folhas <strong>de</strong> Camellia sinensis var assamica produzidas no Brasil (Vale do Ribeira) e<br />
acondicionadas <strong>em</strong> sachês. Meta<strong>de</strong> dos sachês foi aberta e os seus conteúdos foram <strong>de</strong>signados como a<br />
granel. Quatro formas <strong>de</strong> preparo foram utilizadas: <strong>em</strong> sachê com agitação, <strong>em</strong> sachê s<strong>em</strong> agitação, a<br />
granel com agitação e a granel s<strong>em</strong> agitação. Para o preparo foram adicionados 1,75 gramas da erva a<br />
granel ou sachê contendo 1,75 g da erva <strong>em</strong> 200 mL <strong>de</strong> água, com t<strong>em</strong>peratura inicial <strong>de</strong> 79±2ºC, <strong>em</strong> três<br />
t<strong>em</strong>pos <strong>de</strong> infusão: dois minutos e meio, cinco e <strong>de</strong>z minutos. Quando da utilização <strong>de</strong> volumes diferentes<br />
<strong>de</strong> água, a mesma proporção erva:água foi utilizada (0,44 g para 50 mL <strong>de</strong> água, 0,87 g para 100 mL <strong>de</strong><br />
água e 4,35 g para 500 mL <strong>de</strong> água). A ativida<strong>de</strong> antioxidante foi <strong>de</strong>terminada pelo ensaio do DPPH<br />
(radicais 2,2-difenil-1-picrilhidrazil) e a concentração <strong>de</strong> compostos fenólicos totais pelo método <strong>de</strong> Folin-<br />
Ciocalteu. Para estudar a estabilida<strong>de</strong>, após o período <strong>de</strong> estocag<strong>em</strong> a 25±2oC e <strong>em</strong> gela<strong>de</strong>ira (8±1oC) por
24 h, os conteúdos <strong>de</strong> compostos fenólicos e ativida<strong>de</strong> antioxidante dos extratos concentrados foram<br />
analisados por cromatografia <strong>em</strong> camada <strong>de</strong>lgada e por cromatografia líquida <strong>de</strong> alta eficiência (CLAE).<br />
Resultado<br />
Os melhores resultados foram obtidos utilizando-se a erva a granel sob agitação, seguida da erva a granel<br />
<strong>em</strong> condições estacionárias. Foi possível observar que para um t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> extração superior a 5 minutos, a<br />
eficiência da extração não variou significativamente (p>0,05) para todas as formas <strong>de</strong> preparações. O t<strong>em</strong>po<br />
<strong>de</strong> dois minutos e meio, <strong>em</strong> sache e não submetido à agitação liberou uma quantida<strong>de</strong> menor <strong>de</strong> compostos<br />
fenólicos, sendo a condição menos eficiente <strong>de</strong> extração. O efeito <strong>de</strong> diferentes volumes <strong>de</strong>monstrou que<br />
quanto maior o volume <strong>de</strong> bebida preparada, maior a eficiência da extração dos bioativos do chá, <strong>em</strong><br />
<strong>de</strong>corrência da manutenção da t<strong>em</strong>peratura mais elevada, o que favorece a extração dos bioativos.<br />
Conclusão<br />
Os dados obtidos indicam que: 1) para um total aproveitamento das proprieda<strong>de</strong>s antioxidantes do chá<br />
ver<strong>de</strong> brasileiro, o mesmo <strong>de</strong>ve ser preparado com t<strong>em</strong>po <strong>de</strong> infusão <strong>de</strong> pelo menos 5 minutos, sob<br />
agitação leve e a granel, pois o acondicionamento <strong>em</strong> sachês reduziu a extração dos compostos bioativos;<br />
2) para uma mesma razão erva:água, houve uma eficiência maior na extração dos bioativos quando<br />
volumes maiores da bebida foram preparados; 3) a bebida preparada mostrou-se estável ao<br />
armazenamento à t<strong>em</strong>peratura ambiente e <strong>em</strong> gela<strong>de</strong>ira por 24 h, s<strong>em</strong> aparentes alterações <strong>em</strong> seus<br />
principais bioativos e s<strong>em</strong> perdas das suas proprieda<strong>de</strong>s antioxidantes.<br />
Unitermos<br />
Ativida<strong>de</strong> antioxidante, chá ver<strong>de</strong> brasileiro, compostos fenólicos, estabilida<strong>de</strong><br />
IC93 - EFEITOS DO ÓLEO DE PEIXE EM RATOS COM SEPTICEMIA INDUZIDA PELO<br />
LIPOPOLISSACARÍDEO<br />
Autores: Paschoal VA; Takahashi HK; Loureiro TA; Curi R<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo - USP<br />
Objetivos<br />
Hipótese: É conhecido que os PUFA, principalmente os ω-3, modulam negativamente a resposta<br />
inflamatória. A introdução <strong>de</strong>stes na dieta po<strong>de</strong> produzir proteção imunológica frente a um quadro<br />
subseqüente <strong>de</strong> sepse induzida por lipopolissacarí<strong>de</strong>o (LPS). Tal processo po<strong>de</strong>ria reduzir a exacerbação<br />
da resposta inflamatória <strong>de</strong>senca<strong>de</strong>ada pela sepse. Objetivo: investigar o efeito da supl<strong>em</strong>entação do óleo<br />
<strong>de</strong> peixe, rico <strong>em</strong> PUFA ω-3 (eicosapentaenoico - EPA e docosa-hexaenóico - DHA), sobre a sepse induzida<br />
por LPS.<br />
Materiais e métodos<br />
Material e métodos: Os ratos da linhag<strong>em</strong> Wistar (machos) foram divididos <strong>em</strong> dois grupos: nãosupl<strong>em</strong>entados<br />
e supl<strong>em</strong>entado com óleo <strong>de</strong> peixe (OP) (1g/kg p.c), por gavag<strong>em</strong>, durante cinco dias. Após<br />
este período, animais <strong>de</strong> ambos os grupos receberam uma injeção <strong>de</strong> LPS (10mg/kg p.c<br />
intraperitonealmente). Foram realizadas coletas <strong>de</strong> sangue dos animais 0, 2, 6, 24, 48 horas após a<br />
administração do LPS. O animal foi utilizado para contag<strong>em</strong> total e diferencial <strong>de</strong> leucócitos. Células da<br />
medula óssea foram obtidas 0, 2, 24 e 48 horas após administração com LPS através da lavag<strong>em</strong> da<br />
cavida<strong>de</strong> f<strong>em</strong>oral com meio RPMI-1640. A viabilida<strong>de</strong> celular foi avaliada pelo método do Azul <strong>de</strong> Tripan a<br />
1%, as células foram quantificadas <strong>em</strong> h<strong>em</strong>ocitômetro <strong>de</strong> Neubauer. Os resultados foram expressos como<br />
-teste <strong>de</strong><br />
Bonferroni. O limite mínimo <strong>de</strong> significância adotado <strong>de</strong> p
inflamatória induzida por LPS.<br />
Unitermos<br />
Sepse, LPS, ácido graxo, inflamação, citocinas<br />
IC94 - EFEITOS DE QUATRO DIFERENTES DIETAS HIPERLIPÍDICAS (COM BANHA DE PORCO,<br />
ÓLEO DE OLIVA, ÓLEO DE CANOLA OU ÓLEO DE GIRASSOL) SOBRE O METABOLISMO DE<br />
GLICOSE E DE CITOCINAS INFLAMATÓRIAS EM CAMUNDONGOS C57BL/6<br />
Autores: Catta-Preta M; Martins MA; Brunini TCM; Men<strong>de</strong>s-Ribeiro AC; Mandarim-<strong>de</strong>-Lacerda CA; Águila<br />
MB<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> do Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
Objetivos<br />
Avaliar o impacto <strong>de</strong> quatro diferentes dietas hiperlipídicas (com banha <strong>de</strong> porco, óleo <strong>de</strong> oliva, óleo <strong>de</strong><br />
canola ou óleo <strong>de</strong> girassol) sobre o metabolismo <strong>de</strong> glicose e resposta inflamatório <strong>em</strong> camundongos<br />
C57BL/6.<br />
Materiais e métodos<br />
Aos 3 meses <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>, camundongos C57BL/6 machos (n=75) foram divididos <strong>em</strong> cinco grupos (n=15 cada)<br />
<strong>de</strong> acordo com o tipo <strong>de</strong> lipídio da dieta: grupo controle (C, com 10% <strong>de</strong> lipí<strong>de</strong>os) e outros quatro grupos que<br />
receberam dietas hiperlipídicas (com 60% <strong>de</strong> lipí<strong>de</strong>os), grupo Banha <strong>de</strong> porco (Ba), grupo óleo <strong>de</strong> Oliva (Ol),<br />
grupo Óleo <strong>de</strong> girassol (Gi) e grupo Óleo <strong>de</strong> Canola (Ca). Todas as dietas continham 10% <strong>de</strong> óleo <strong>de</strong> soja<br />
para evitar <strong>de</strong>ficiência <strong>de</strong> ácidos graxos essenciais. As dietas experimentais foram oferecidas durante 10<br />
s<strong>em</strong>anas. Foram avaliadas: ingestão alimentar (diariamente), massa corporal (s<strong>em</strong>analmente) e eficiência<br />
alimentar. Uma s<strong>em</strong>ana antes da eutanásia foram realizados: glic<strong>em</strong>ia <strong>de</strong> jejum e teste intraperitoneal <strong>de</strong><br />
tolerância a insulina (IPITT). Na eutanásia, foi coletado sangue diretamente do átrio direito para<br />
<strong>de</strong>terminação das citocinas inflamatórias (ELISA) e insulina (radioimunoensaio).<br />
Resultado<br />
A quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ração ingerida não foi diferente entre os grupos (C= 2,7±0,3g; Ba=2,8±0,1g, Ol=3,0±0,2g,<br />
Gi=3,1±0,1g e Ca=3,1±0,2g), porém a eficiência alimentar do grupo Ba foi maior <strong>em</strong> comparação com os<br />
outros grupos (C=5,5x103±1,0g/Kcal; Ba=9,0x103±1,3g/Kcal; Ol=5,3x103±1,1g/Kcal; Gi=4,3x103±1,1g/Kcal<br />
e Ca=5,4x103±1,1g/Kcal) (p
Investigar <strong>em</strong> ratos <strong>de</strong> meia-ida<strong>de</strong> os efeitos da ingestão crônica <strong>de</strong> aguar<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> cana-<strong>de</strong>-açúcar sobre<br />
alguns parâmetros bioquímicos.<br />
Materiais e métodos<br />
Foram utilizados 40 ratos Wistar <strong>de</strong> ambos os gêneros, com 12 meses <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>. Os animais foram divididos<br />
aleatoriamente <strong>em</strong> 4 grupos <strong>de</strong> 10, <strong>de</strong> acordo com o tratamento: água-controle (GC) / (N = 20), sendo GCF<br />
– grupo controle <strong>de</strong> fêmeas e GCM – grupo controle <strong>de</strong> machos, constituído por 10 ratos fêmeas e machos<br />
respectivamente; e os dois outros grupos GA – grupo aguar<strong>de</strong>nte, sendo GAF – grupo aguar<strong>de</strong>nte fêmea e<br />
GAM - grupo aguar<strong>de</strong>nte com N = 10 cada um. Todos os grupos foram alimentados, <strong>de</strong> forma exclusiva,<br />
com uma mistura composta pelos seguintes alimentos regionais: feijão carioquinha (Phaseolus vulgaris L),<br />
arroz polido (Oriza sativa L.), farinha <strong>de</strong> mandioca (Manihot esculenta crantz), frango <strong>de</strong> granja ( Gallus<br />
galináceo) e óleo <strong>de</strong> soja. Os ratos receberam as fontes <strong>de</strong> líquidos (água e/ou aguar<strong>de</strong>nte) e a mistura<br />
alimentar ambos sobre sist<strong>em</strong>a <strong>de</strong> livre acesso, durante todo o período experimental. Ao final das 5<br />
s<strong>em</strong>anas, sob anestesia, os animais foram submetidos a punção cardíaca, para retirada das amostras <strong>de</strong><br />
sangue <strong>de</strong>stinadas às dosagens bioquímicas (glicose - GLIC, colesterol - CT, HDL-C, CT/HDL,VLDL, LDL-C,<br />
TG e albumina). Utilizamos no tratamento estatístico dos dados, os seguintes testes: t-Stu<strong>de</strong>nt com<br />
variâncias iguais e <strong>de</strong>siguais ou Mann-Whitney, com nível <strong>de</strong> significância <strong>de</strong> p
(PO) com boa condição clinica ate o PO 7 – PO10, na piora do quadro clinico o animal foi sacrificado e<br />
realizado a necropsia com estudo do anatomo patológico do enxerto. Observando-se inícios <strong>de</strong> rejeição<br />
macroscópica e microscopia no enxerto intestinal estudo. A sobrevida média foi <strong>de</strong> 10 dias.<br />
Conclusão<br />
O transplante intestinal evolui da estratégia experimental para alternativa viável no tratamento da Falência<br />
Intestinal; as dificulda<strong>de</strong>s técnicas encontradas no mo<strong>de</strong>lo suíno são s<strong>em</strong>elhantes a clinica sendo ótimo<br />
mo<strong>de</strong>lo para treino e refinamento técnico das equipes medica<br />
Unitermos<br />
Transplante Intestinal, Suíno, Aspecto Técnico<br />
IC97 - AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-SECRETÓRIA EM RATOS (MODELO DE LIGADURA DO<br />
PILORO) E DA MOTILIDADE INTESTINAL EM CAMUNDONGOS (MODELO DE TRÂNSITO<br />
INTESTINAL)<br />
Autores: Possenti A; Carvalho JE; Maya K; Jacobucci HB; Rech D; Vanelli CP<br />
Instituição: CPQBA - Universida<strong>de</strong> Estadual <strong>de</strong> Campinas<br />
Objetivos<br />
Avaliar a participação da secreção ácida gástrica na ativida<strong>de</strong> antiulcerogênica através da utilização <strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong>los experimentais <strong>de</strong> ligadura <strong>de</strong> piloro, <strong>em</strong> ratos, e motilida<strong>de</strong> intestinal, <strong>em</strong> camundongos.<br />
Materiais e métodos<br />
A pesquisa foi feito no CPQBA, Unicamp. Foram utilizados ratos e camundongos machos, das linhagens<br />
Wistar e Swiss, com peso corporal entre 200 e 250g e 20 e 25g, respectivamente. Após jejum <strong>de</strong> 24 horas<br />
os ratos foram anestesiados por meio <strong>de</strong> inalação <strong>de</strong> éter etílico. Após tricotomia e incisão da pare<strong>de</strong><br />
abdominal, realizou-se a ligadura do piloro com linha cirúrgica <strong>de</strong> algodão. Após a ligadura, cada grupo <strong>de</strong><br />
animais recebeu, por via intraduo<strong>de</strong>nal, o tratamento correspon<strong>de</strong>nte: solução salina (2mL/kg), como<br />
controle negativo, cimetidina (100mg/kg), como controle positivo e um produto fermentado a base <strong>de</strong> soja e<br />
trigo, na dose <strong>de</strong> 2000mg/kg, fornecido pela <strong>em</strong>presa Aferbio Bioalimentos LTDA. O abdômen foi suturado e<br />
após 24 horas, os ratos foram sacrificados e o abdômen foi reaberto para retirada do estômago.<br />
Determinou-se o volume e a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> íons H+ por titulação com solução <strong>de</strong> hidróxido <strong>de</strong> sódio 0,1N. A<br />
avaliação da ação do produto testado sobre a motilida<strong>de</strong> intestinal <strong>de</strong> camundongos foi conduzida jejum <strong>de</strong><br />
12 horas quando cada grupo recebeu, por via oral, o tratamento correspon<strong>de</strong>nte: solução salina (10mL/kg)<br />
como controle negativo, atropina (3mg/kg) como controle positivo e o produto fermentado na dose <strong>de</strong><br />
2000mg/kg <strong>de</strong> peso corporal. Após 1 hora da administração, os animais receberam 0,1ml <strong>de</strong> uma<br />
suspensão <strong>de</strong> carvão ativado (2%, v.o.). Os animais foram sacrificados, seus intestinos foram retirados e o<br />
percurso do marcador foi medido. A medida do trânsito intestinal foi expressa pelo porcentag<strong>em</strong> do<br />
<strong>de</strong>slocamento do carvão ativado <strong>em</strong> relação ao comprimento total do intestino <strong>de</strong>lgado, consi<strong>de</strong>rado <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
o piloro até o ceco.<br />
Resultado<br />
O produto testado não foi capaz <strong>de</strong> reduzir a concentração hidrogeniônica, enquanto que a cimetidina,<br />
droga <strong>de</strong> referência, produziu uma diminuição <strong>de</strong> 50%. Os resultados suger<strong>em</strong> que a ativida<strong>de</strong><br />
antiulcerogênica <strong>de</strong>ste produto, já verificada <strong>em</strong> testes anteriores, não envolve mecansmo anti-secretor. Os<br />
movimentos peristálticos são fisiologicamente controlados pela interação do neurotransmissor acetilcolina<br />
com seu respectivo receptor muscarínico do subtipo M3. A redução <strong>de</strong>sta motilida<strong>de</strong> po<strong>de</strong>ria surgerir um<br />
efeito anticolinérgico e anti-secretor. Não foi verificada alteração na motilida<strong>de</strong> intestinal dos animais,<br />
enquanto que a atropina, droga <strong>de</strong> referência, produziu uma diminuição <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 40% da motilida<strong>de</strong><br />
intestinal.<br />
Conclusão<br />
Com base nos dados obtidos nos experimentos para avaliação da ativida<strong>de</strong> anti-secretora dos ativos do<br />
fermentado testado, é possível que não interfiram nos mecanismos que controlam a secreção gástrica,<br />
estando provavelmente relacionado com a citoproteção da mucosa, através do aumento da produção <strong>de</strong><br />
muco gastroprotetor.<br />
Unitermos<br />
Secreção gástrica, alimento fermentado, motilida<strong>de</strong>, ratos, camundongos
IC98 - POSICIONAMENTO DE TUBOS INTRA-GÁSTRICOS ATRAVÉS DA CORRELAÇÃO ENTRE AS<br />
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E A BIOMETRIA EXTERNA COM O COMPRIMENTO ESOFÁGICO<br />
Autores: Beck ARM; Costa Pinto EAL; Freiras MIP<br />
Instituição: Unicamp Universida<strong>de</strong> Estadual <strong>de</strong> Campinas<br />
Objetivos<br />
INTRODUÇÃO E OBJETIVO: Procedimentos <strong>de</strong> inserção <strong>de</strong> tubos intragástricos são utilizados diariamente<br />
<strong>em</strong> pediatria. Estimativas <strong>de</strong> valores <strong>de</strong> correlação entre medidas externas e a distância da arcada <strong>de</strong>ntária<br />
superior e a transição esofagogástrica (ADS x TEG) são <strong>de</strong>sejáveis para garantir o a<strong>de</strong>quado<br />
posicionamento dos tubos. Beckstrand et al. (1990), consi<strong>de</strong>ra que a medida do esôfago e a melhor para o<br />
posicionamento do tubo intragástricos <strong>de</strong> acordo com três aspectos: O primeiro é que a variabida<strong>de</strong> do<br />
tamanho, forma e posição do estômago que inviabiliza a utilização <strong>de</strong> pontos <strong>de</strong> referência intragástricos; O<br />
segundo é que a flutuação da configuração do estômago é tão gran<strong>de</strong> que alguns pesquisadores<br />
<strong>de</strong>clararam que não é razoável atribuir uma forma <strong>de</strong>finitiva para o estômago ou para <strong>de</strong>screver alterações<br />
que ocorr<strong>em</strong> com o crescimento (Cl<strong>em</strong>ente, 1985, Lowrey, 1986) Assim, qualquer medida relativamente fixa<br />
externa será pobre para predizer uma distâncias alvo no estômago Beckstrand et al. (1990 e 2007).Um<br />
terceiro probl<strong>em</strong>a é que n<strong>em</strong> todos concordam que os poros da sonda <strong>de</strong>veriam ser colocados <strong>de</strong>ntro do<br />
estômago.Estes fatos levam a um probl<strong>em</strong>a metodológico para <strong>de</strong>signar um critério para avaliar inserção da<br />
sonda. Uma solução para o probl<strong>em</strong>a é utilizar a distância entre a boca ou nariz e esfíncter esofágico<br />
inferior como o critério para medir a inserção do tubo, <strong>em</strong> virtu<strong>de</strong> <strong>de</strong>sta estrutura ser rígida, o que permite<br />
uma medida mais efetiva. Portanto, neste estudo utilizamos também os critérios do comprimento esofágico<br />
para posicionar a sonda no estômago, por consi<strong>de</strong>rar estes mais confiáveis e precisos. O objetivo <strong>de</strong>sse<br />
estudo foi i<strong>de</strong>ntificar os índices <strong>de</strong> correlação entre medidas externas com a medida real do segmento ADS-<br />
TEG, tomadas <strong>em</strong> 153 crianças brasileiras, na faixa etária <strong>de</strong> 2 a 12 anos.<br />
Materiais e métodos<br />
MÉTODO: O estudo foi transversal, prospectivo e analítico. A medida ADS x TEG, obtida por endoscopia<br />
digestiva alta, foi correlacionada a medidas <strong>de</strong> biometria externa: ADS x subnasal; subnasal x tragus; tragus<br />
x apêndice xifói<strong>de</strong>, apêndice xifói<strong>de</strong> x umbigo; subnasal x apêndice xifói<strong>de</strong>. Os dados foram coletados no<br />
período <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2006 a janeiro <strong>de</strong> 2008.<br />
Resultado<br />
RESULTADOS: Os maiores valores <strong>de</strong> regressão linear da distância ADS x TEG foram obtidos quando<br />
confrontados com o valor da altura e do comprimento do joelho, respectivamente, 0,90 e 0,87. Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong><br />
equações preditivas elaborados utilizando valores <strong>de</strong> altura e as medidas biométricas foram,<br />
respectivamente, 0,83 e 0,82. Houve 100% <strong>de</strong> correlação entre valores obtidos com as equações<br />
<strong>de</strong>senvolvidas nesse estudo e equações internacionais.<br />
Conclusão<br />
CONCLUSÃO: A medida da altura é o melhor valor entre as medidas antropométricas e biométricas<br />
externas para fins preditivos na prática clínica para posicionamento <strong>de</strong> tubos gástricos.<br />
Unitermos<br />
tubos nasogástricos, tubos enterais, tubos <strong>de</strong> alimentação, crianças<br />
IC99 - INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM PACIENTES COM DOENÇA DE ALZHEIMER: O QUE<br />
FAZER?<br />
Autores: Pivi GAK; Silva RV; Juliano Y; Novo NF; Brant CQ; Bertolucci PHF<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> São Paulo/Escola Paulista <strong>de</strong> Medicina<br />
Objetivos<br />
Avaliar se a educação e supl<strong>em</strong>entação nutricional são formas eficazes <strong>de</strong> intervenção na melhora do<br />
estado nutricional <strong>de</strong> pacientes com doença <strong>de</strong> Alzheimer.<br />
Materiais e métodos<br />
Estudado prospectivo e randomizado, que contou com a duração <strong>de</strong> 6 meses, on<strong>de</strong> participaram 78<br />
pacientes com ida<strong>de</strong> mínima <strong>de</strong> 65 anos e hipótese diagnóstica <strong>de</strong> DA sendo 25 homens, n = 25 (32,1%) e<br />
53 mulheres, n = 53 (67,9%). Estes pacientes foram divididos <strong>em</strong> 3 grupos: Grupo Controle (n=27),
monitorados <strong>em</strong> relação ao estado nutricional; Grupo Educação (n=25) que participaram do programa <strong>de</strong><br />
intervenção nutricional, <strong>de</strong>senvolvido mediante as principais dúvidas dos cuidadores <strong>em</strong> relação a<br />
alimentação e Grupo Supl<strong>em</strong>ento (n=26) que receberam duas doses diária <strong>de</strong> supl<strong>em</strong>ento calórico protéico,<br />
por via oral, que contribui com 690 Kcal e 25,6 g <strong>de</strong> proteína. Todos foram avaliados pela aplicação da<br />
escala <strong>de</strong> nível social ABIPEME, grau <strong>de</strong> <strong>de</strong>pendência no momento da refeição, avaliação <strong>de</strong> dados<br />
antropométricos (peso, altura, IMC, PCT, CB e CMB e PCT) e bioquímicos (proteínas totais e albumina).<br />
Consi<strong>de</strong>rou-se o MEEM e o CDR como parâmetros <strong>de</strong> rastreio cognitivo e <strong>de</strong> estadiamento da doença. A<br />
análise estatística foi realizada através do teste <strong>de</strong> variância <strong>de</strong> Kruskal-Wallis para comparar as variáveis<br />
antropométricas, bioquímicas, <strong>de</strong>mográficas e <strong>de</strong> estadiamento da doença e Teste do quiquadrado <strong>de</strong><br />
Siegel para estudar as possíveis associações entre os grupos e as variáveis estudadas. Foi fixado <strong>em</strong> 0,05<br />
o nível <strong>de</strong> rejeição da hipótese <strong>de</strong> nulida<strong>de</strong>.<br />
Resultado<br />
O grupo Supl<strong>em</strong>ento apresentou melhora significativa dos dados antropométicos <strong>de</strong> peso (H calc=22,12,<br />
p=1x/s<strong>em</strong>ana) foi <strong>de</strong> apenas 11,4% (95%IC 8,1–15,7) e 13,3% (95%IC 9,7–17,9),<br />
respectivamente. Apenas 10,5% (95%IC 7,2–15,0) referiram prática <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong> física >3x/s<strong>em</strong>ana. Não<br />
houve correlação entre PA e consumo alimentar (p>0,05) ou ativida<strong>de</strong> física (p>0,05).<br />
Conclusão<br />
O consumo <strong>de</strong> frutas e verduras não apresentou impacto sobre os níveis pressóricos, o que segundo o<br />
estudo Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), po<strong>de</strong>ria levar a um efeito protetor contra a HAS.<br />
De forma similar, o baixo consumo <strong>de</strong> alimentos potencialmente ricos <strong>em</strong> sódio (salgadinhos e <strong>em</strong>butidos)<br />
não provocou nenhum efeito nos valores <strong>de</strong> PA na população estudada. A ausência <strong>de</strong> correlação entre a<br />
ativida<strong>de</strong> física e a HAS, observada <strong>em</strong> nossa casuística, foi um achado que se contrapõe aos dados<br />
reportados <strong>em</strong> outros estudos. Entretanto, <strong>de</strong>ve-se levar <strong>em</strong> conta que esse potencial efeito protetor não
agiria <strong>de</strong> forma isolada na etiopatogenia da HAS, uma vez que se trata <strong>de</strong> um fenômeno que compreen<strong>de</strong><br />
uma complexa re<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminantes causais.<br />
Unitermos<br />
hipertensão arterial, idosos, consumo alimentar, ativida<strong>de</strong> física<br />
<strong>IC1</strong>01 - INFLUÊNCIA DO LANCHE ESCOLAR NO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE UMA<br />
ESCOLA PRIVADA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, MG<br />
Autores: Domingos ALG; Fajardo, VC; Freitas, SN<br />
Instituição: Universida<strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Ouro Preto<br />
Objetivos<br />
Avaliar a associação entre o estado nutricional e o lanche escolar <strong>de</strong> alunos <strong>de</strong> uma escola privada do<br />
município <strong>de</strong> Ouro Preto, MG.<br />
Materiais e métodos<br />
Estudo transversal foi realizado com 254 indivíduos <strong>de</strong> ambos os sexos, matriculados entre o maternal e a<br />
4º série do ensino fundamental <strong>de</strong> uma escola privada <strong>de</strong> Ouro Preto-MG, porém somente 87 alunos da 3º e<br />
4º séries respon<strong>de</strong>ram o questionário <strong>de</strong> freqüência alimentar. A ida<strong>de</strong> dos entrevistados variou <strong>de</strong> 5,8 a<br />
11,3 anos, com média <strong>de</strong> 8,6 anos. O peso corporal foi aferido por meio <strong>de</strong> balança digital portátil e a<br />
estatura com estadiômetro <strong>de</strong> plataforma, escala <strong>de</strong> 0,1 cm, com os alunos <strong>em</strong> posição ortostática. A partir<br />
<strong>de</strong>ssas medidas foi calculado o índice <strong>de</strong> massa corpórea (IMC), adotando-se para a classificação o<br />
Percentil (P) do IMC por ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> acordo com o padrão <strong>de</strong> referência da World Health Organization, sendo<br />
<strong>de</strong>finido como baixo peso o P