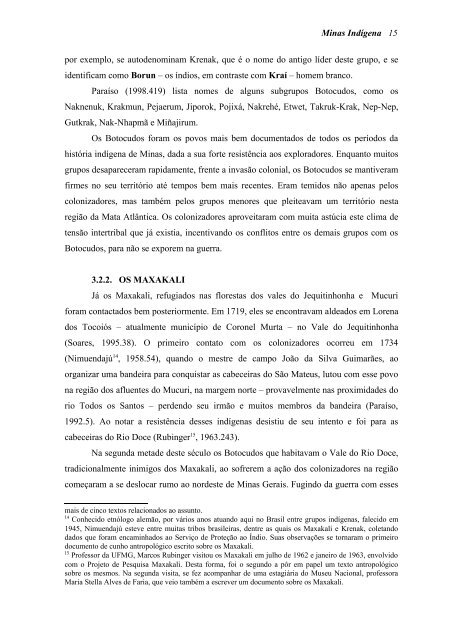SEGUNDA PARTE Minas Indígena - Instituto ANTROPOS
SEGUNDA PARTE Minas Indígena - Instituto ANTROPOS
SEGUNDA PARTE Minas Indígena - Instituto ANTROPOS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Minas</strong> <strong>Indígena</strong><br />
por exemplo, se autodenominam Krenak, que é o nome do antigo líder deste grupo, e se<br />
identificam como Borun – os índios, em contraste com Kraí – homem branco.<br />
Paraíso (1998.419) lista nomes de alguns subgrupos Botocudos, como os<br />
Naknenuk, Krakmun, Pejaerum, Jiporok, Pojixá, Nakrehé, Etwet, Takruk-Krak, Nep-Nep,<br />
Gutkrak, Nak-Nhapmã e Miñajirum.<br />
Os Botocudos foram os povos mais bem documentados de todos os períodos da<br />
história indígena de <strong>Minas</strong>, dada a sua forte resistência aos exploradores. Enquanto muitos<br />
grupos desapareceram rapidamente, frente a invasão colonial, os Botocudos se mantiveram<br />
firmes no seu território até tempos bem mais recentes. Eram temidos não apenas pelos<br />
colonizadores, mas também pelos grupos menores que pleiteavam um território nesta<br />
região da Mata Atlântica. Os colonizadores aproveitaram com muita astúcia este clima de<br />
tensão intertribal que já existia, incentivando os conflitos entre os demais grupos com os<br />
Botocudos, para não se exporem na guerra.<br />
3.2.2. OS MAXAKALI<br />
Já os Maxakali, refugiados nas florestas dos vales do Jequitinhonha e Mucuri<br />
foram contactados bem posteriormente. Em 1719, eles se encontravam aldeados em Lorena<br />
dos Tocoiós – atualmente município de Coronel Murta – no Vale do Jequitinhonha<br />
(Soares, 1995.38). O primeiro contato com os colonizadores ocorreu em 1734<br />
(Nimuendajú 14 , 1958.54), quando o mestre de campo João da Silva Guimarães, ao<br />
organizar uma bandeira para conquistar as cabeceiras do São Mateus, lutou com esse povo<br />
na região dos afluentes do Mucuri, na margem norte – provavelmente nas proximidades do<br />
rio Todos os Santos – perdendo seu irmão e muitos membros da bandeira (Paraíso,<br />
1992.5). Ao notar a resistência desses indígenas desistiu de seu intento e foi para as<br />
cabeceiras do Rio Doce (Rubinger 15 , 1963.243).<br />
Na segunda metade deste século os Botocudos que habitavam o Vale do Rio Doce,<br />
tradicionalmente inimigos dos Maxakali, ao sofrerem a ação dos colonizadores na região<br />
começaram a se deslocar rumo ao nordeste de <strong>Minas</strong> Gerais. Fugindo da guerra com esses<br />
mais de cinco textos relacionados ao assunto.<br />
14 Conhecido etnólogo alemão, por vários anos atuando aqui no Brasil entre grupos indígenas, falecido em<br />
1945, Nimuendajú esteve entre muitas tribos brasileiras, dentre as quais os Maxakali e Krenak, coletando<br />
dados que foram encaminhados ao Serviço de Proteção ao Índio. Suas observações se tornaram o primeiro<br />
documento de cunho antropológico escrito sobre os Maxakali.<br />
15 Professor da UFMG, Marcos Rubinger visitou os Maxakali em julho de 1962 e janeiro de 1963, envolvido<br />
com o Projeto de Pesquisa Maxakali. Desta forma, foi o segundo a pôr em papel um texto antropológico<br />
sobre os mesmos. Na segunda visita, se fez acompanhar de uma estagiária do Museu Nacional, professora<br />
Maria Stella Alves de Faria, que veio também a escrever um documento sobre os Maxakali.<br />
15