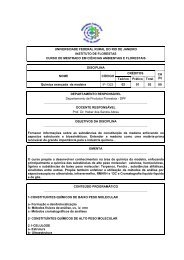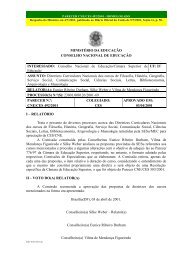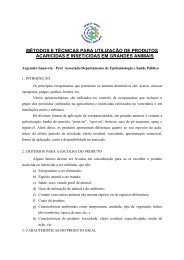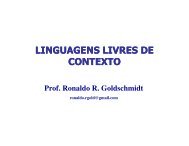Faça aqui o download do texto na integra em pdf. - R1 - UFRRJ
Faça aqui o download do texto na integra em pdf. - R1 - UFRRJ
Faça aqui o download do texto na integra em pdf. - R1 - UFRRJ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
principalmente aquelas criadas pela Igreja Católica desde sua chegada ao Brasil. Estes<br />
espaços institucio<strong>na</strong>is da Igreja, volta<strong>do</strong>s à caridade e à assistência social, r<strong>em</strong>ontam à<br />
época <strong>do</strong> Brasil Colônia e ao estabelecimento de Irmandades, Casas de Misericórdia e<br />
outras entidades dedicadas ao auxílio aos pobres e necessita<strong>do</strong>s. Como informa BUENO<br />
(1978), até 1890, quan<strong>do</strong> foi promulga<strong>do</strong> um decreto que estabelecia a separação entre a<br />
Igreja e o Esta<strong>do</strong> no Brasil, a ação social destas instituições era mantida com recursos<br />
públicos. Com a diversificação das suas fontes de fi<strong>na</strong>nciamento, desde aquela época<br />
t<strong>em</strong> se desenvolvi<strong>do</strong> a cultura institucio<strong>na</strong>l das diversas associações e organizações<br />
voluntárias que norteiam sua ação a partir <strong>do</strong>s valores defendi<strong>do</strong>s pela ética cristã, ou<br />
seja, servir ao próximo, especialmente aos pobres e desfavoreci<strong>do</strong>s, prestan<strong>do</strong>-lhes<br />
assistência e, por vezes, acesso aos serviços educacio<strong>na</strong>is basea<strong>do</strong>s <strong>na</strong>queles valores.<br />
Na década de 1930 começaram a surgir organizações voluntárias de caráter<br />
laico, vinculadas ao setor priva<strong>do</strong> e ao <strong>em</strong>ergente <strong>em</strong>presaria<strong>do</strong>, <strong>em</strong> uma conjuntura <strong>na</strong><br />
qual o assistencialismo tor<strong>na</strong>va-se uma importante estratégia política <strong>do</strong> governo<br />
Getúlio Vargas (FERNANDES, 1994). Na época, surgiram várias entidades beneficentes e<br />
filantrópicas, favorecidas por novos instrumentos legais que facilitavam a transferência<br />
de recursos públicos para instituições privadas de caridade. CARRION (2000) argumenta<br />
que desde aquele perío<strong>do</strong> até os anos 60 o Esta<strong>do</strong> e a Igreja dividiram a condução de<br />
obras assistenciais marcadamente pater<strong>na</strong>listas, avessas ao questio<strong>na</strong>mento <strong>do</strong>s fatores<br />
sociais que causavam as situações de carência e de necessidade que, por sua vez,<br />
provocavam a sua ação.<br />
As instituições tradicio<strong>na</strong>is de caridade, como os abrigos e patro<strong>na</strong>tos para crianças<br />
aban<strong>do</strong><strong>na</strong>das, i<strong>do</strong>sos, indigentes porta<strong>do</strong>res de deficiências físicas e mentais, e as atividades<br />
de distribuição de alimentos e roupas, inspiraram-se nos sentimentos de compaixão,<br />
misericórdia, caridade, filantropia e no sentimento de urgência que o clamor <strong>do</strong>s miseráveis<br />
requer. Embora passíveis de críticas pelo caráter pater<strong>na</strong>lista, puramente assistencialista e<br />
gera<strong>do</strong>r de dependência de suas ações, tais entidades atuam no campo da <strong>em</strong>ergência social.<br />
Impotentes diante da dimensão da miséria no país, encontram-se, porém, profundamente<br />
ligadas aos interesses imediatos da população. Essa inserção social, aliada às vinculações<br />
institucio<strong>na</strong>is, com igrejas e patronos <strong>do</strong> setor priva<strong>do</strong>, e a seu baixo des<strong>em</strong>penho <strong>na</strong><br />
politização e publicização <strong>do</strong>s conflitos sociais, garante-lhes o acesso aos recursos públicos<br />
e uma função supl<strong>em</strong>entar às políticas gover<strong>na</strong>mentais (OLIVEIRA NETO, 1991,<br />
p.137).<br />
A conjuntura latino-america<strong>na</strong> <strong>do</strong> pós-guerra evidenciava a forte influência <strong>do</strong><br />
expansionismo ideológico norte-americano sobre to<strong>do</strong> o continente. Aquele era o<br />
con<strong>texto</strong> da Guerra Fria, <strong>do</strong> confronto político e ideológico entre as duas superpotências<br />
que <strong>em</strong>ergiram da Segunda Guerra Mundial: os Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s e a União Soviética. A<br />
ameaça <strong>do</strong> “comunismo inter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l” justificava, para os norte-americanos,<br />
interferências no poder <strong>do</strong>s Esta<strong>do</strong>s Nacio<strong>na</strong>is que resistiss<strong>em</strong> à <strong>integra</strong>ção ao mun<strong>do</strong><br />
capitalista (RODRIGUES, 1994). Em um mun<strong>do</strong> polariza<strong>do</strong> por disputas geopolíticas, os<br />
norte-americanos defendiam a rápida expansão das supostas benesses <strong>do</strong><br />
desenvolvimento econômico aos países da América Lati<strong>na</strong>. As suas sociedades,<br />
pre<strong>do</strong>mi<strong>na</strong>nt<strong>em</strong>ente rurais, eram tidas como potenciais ameaças à contenção da<br />
expansão soviética no continente, principalmente após a revolução cuba<strong>na</strong> de 1959. Às<br />
<strong>na</strong>ções ricas e desenvolvidas, apregoavam os norte-americanos, caberia fornecer os<br />
capitais – econômico e cultural – necessários para que aqueles países conseguiss<strong>em</strong><br />
superar sua, assim diagnosticada, condição de atraso <strong>em</strong> relação ao Primeiro Mun<strong>do</strong>.<br />
29