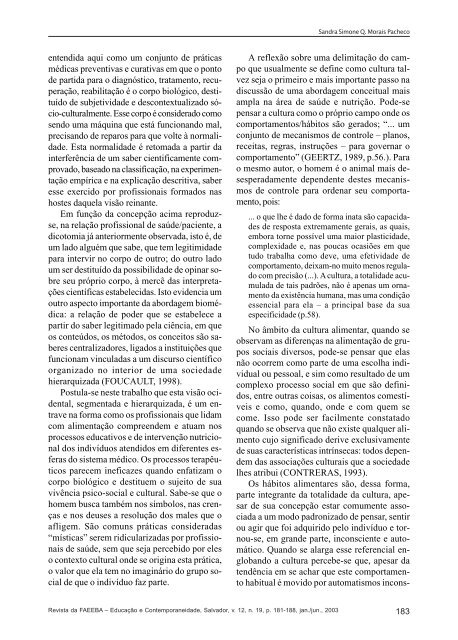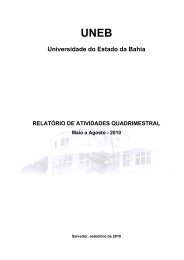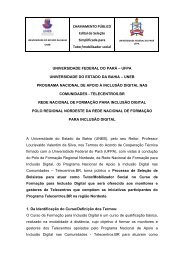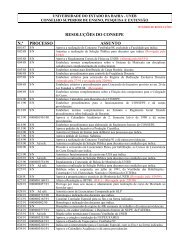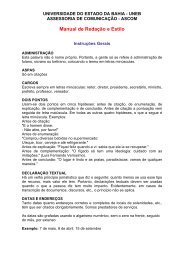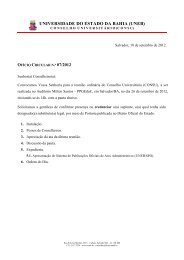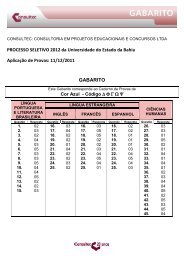Edição Nº 19 - Uneb
Edição Nº 19 - Uneb
Edição Nº 19 - Uneb
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sandra Simone Q. Morais Pacheco<br />
entendida aqui como um conjunto de práticas<br />
médicas preventivas e curativas em que o ponto<br />
de partida para o diagnóstico, tratamento, recuperação,<br />
reabilitação é o corpo biológico, destituído<br />
de subjetividade e descontextualizado sócio-culturalmente.<br />
Esse corpo é considerado como<br />
sendo uma máquina que está funcionando mal,<br />
precisando de reparos para que volte à normalidade.<br />
Esta normalidade é retomada a partir da<br />
interferência de um saber cientificamente comprovado,<br />
baseado na classificação, na experimentação<br />
empírica e na explicação descritiva, saber<br />
esse exercido por profissionais formados nas<br />
hostes daquela visão reinante.<br />
Em função da concepção acima reproduzse,<br />
na relação profissional de saúde/paciente, a<br />
dicotomia já anteriormente observada, isto é, de<br />
um lado alguém que sabe, que tem legitimidade<br />
para intervir no corpo de outro; do outro lado<br />
um ser destituído da possibilidade de opinar sobre<br />
seu próprio corpo, à mercê das interpretações<br />
científicas estabelecidas. Isto evidencia um<br />
outro aspecto importante da abordagem biomédica:<br />
a relação de poder que se estabelece a<br />
partir do saber legitimado pela ciência, em que<br />
os conteúdos, os métodos, os conceitos são saberes<br />
centralizadores, ligados a instituições que<br />
funcionam vinculadas a um discurso científico<br />
organizado no interior de uma sociedade<br />
hierarquizada (FOUCAULT, <strong>19</strong>98).<br />
Postula-se neste trabalho que esta visão ocidental,<br />
segmentada e hierarquizada, é um entrave<br />
na forma como os profissionais que lidam<br />
com alimentação compreendem e atuam nos<br />
processos educativos e de intervenção nutricional<br />
dos indivíduos atendidos em diferentes esferas<br />
do sistema médico. Os processos terapêuticos<br />
parecem ineficazes quando enfatizam o<br />
corpo biológico e destituem o sujeito de sua<br />
vivência psico-social e cultural. Sabe-se que o<br />
homem busca também nos símbolos, nas crenças<br />
e nos deuses a resolução dos males que o<br />
afligem. São comuns práticas consideradas<br />
“místicas” serem ridicularizadas por profissionais<br />
de saúde, sem que seja percebido por eles<br />
o contexto cultural onde se origina esta prática,<br />
o valor que ela tem no imaginário do grupo social<br />
de que o indivíduo faz parte.<br />
A reflexão sobre uma delimitação do campo<br />
que usualmente se define como cultura talvez<br />
seja o primeiro e mais importante passo na<br />
discussão de uma abordagem conceitual mais<br />
ampla na área de saúde e nutrição. Pode-se<br />
pensar a cultura como o próprio campo onde os<br />
comportamentos/hábitos são gerados; “... um<br />
conjunto de mecanismos de controle – planos,<br />
receitas, regras, instruções – para governar o<br />
comportamento” (GEERTZ, <strong>19</strong>89, p.56.). Para<br />
o mesmo autor, o homem é o animal mais desesperadamente<br />
dependente destes mecanismos<br />
de controle para ordenar seu comportamento,<br />
pois:<br />
... o que lhe é dado de forma inata são capacidades<br />
de resposta extremamente gerais, as quais,<br />
embora torne possível uma maior plasticidade,<br />
complexidade e, nas poucas ocasiões em que<br />
tudo trabalha como deve, uma efetividade de<br />
comportamento, deixam-no muito menos regulado<br />
com precisão (...). A cultura, a totalidade acumulada<br />
de tais padrões, não é apenas um ornamento<br />
da existência humana, mas uma condição<br />
essencial para ela – a principal base da sua<br />
especificidade (p.58).<br />
No âmbito da cultura alimentar, quando se<br />
observam as diferenças na alimentação de grupos<br />
sociais diversos, pode-se pensar que elas<br />
não ocorrem como parte de uma escolha individual<br />
ou pessoal, e sim como resultado de um<br />
complexo processo social em que são definidos,<br />
entre outras coisas, os alimentos comestíveis<br />
e como, quando, onde e com quem se<br />
come. Isso pode ser facilmente constatado<br />
quando se observa que não existe qualquer alimento<br />
cujo significado derive exclusivamente<br />
de suas características intrínsecas: todos dependem<br />
das associações culturais que a sociedade<br />
lhes atribui (CONTRERAS, <strong>19</strong>93).<br />
Os hábitos alimentares são, dessa forma,<br />
parte integrante da totalidade da cultura, apesar<br />
de sua concepção estar comumente associada<br />
a um modo padronizado de pensar, sentir<br />
ou agir que foi adquirido pelo indivíduo e tornou-se,<br />
em grande parte, inconsciente e automático.<br />
Quando se alarga esse referencial englobando<br />
a cultura percebe-se que, apesar da<br />
tendência em se achar que este comportamento<br />
habitual é movido por automatismos incons-<br />
Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 12, n. <strong>19</strong>, p. 181-188, jan./jun., 2003<br />
183