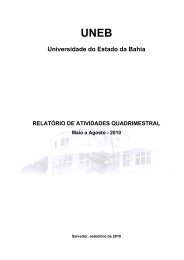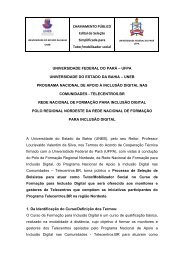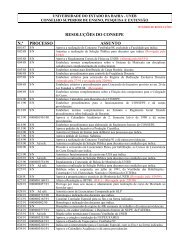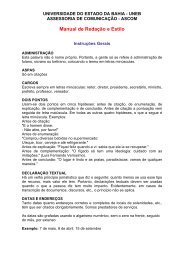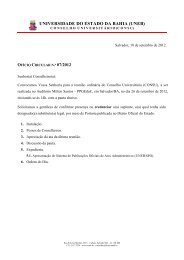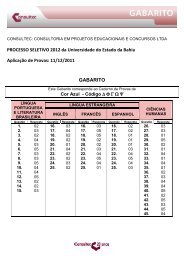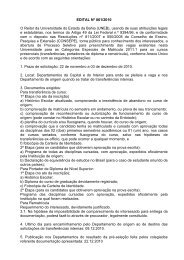Edição Nº 19 - Uneb
Edição Nº 19 - Uneb
Edição Nº 19 - Uneb
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Jaci Maria Ferraz de Menezes<br />
geiros que haviam entrado no território nacional<br />
antes do dia 15 de novembro de 1889, data<br />
da proclamação da república, salvo expressa<br />
manifestação em contrário.<br />
d) convocadas eleições gerais para a Assembléia<br />
Nacional Constituinte, estabelece-se como<br />
critério único para a cidadania ativa o saber ler<br />
e escrever (embora se mantenha também a<br />
exclusão dos mendigos, dos religiosos e dos<br />
“praças de pré” – soldados rasos). Os estrangeiros<br />
objeto da naturalização acima referida<br />
podiam participar da eleição desde que cumprissem<br />
essas mesmas condições. É bom lembrar<br />
que a exclusão dos analfabetos da cidadania<br />
ativa não começa com a República e, sim,<br />
com a Lei Saraiva, em 1881.<br />
Estava, então, em discussão, ao lado da<br />
formatação do Novo Estado Brasileiro, a questão<br />
da formação da nova nação brasileira, e sua<br />
participação no “concerto das nações civilizadas”.<br />
Ao mesmo tempo, reafirmava-se a “natureza e<br />
vocação agrícola do Brasil” – e, portanto, a sua<br />
manutenção dentro do papel de país agro-exportador<br />
de produtos primários, com o café<br />
liderando a produção (embora outros produtos<br />
também entrassem na pauta, como o cacau). A<br />
criação de gado entrava como atividade secundária.<br />
As tentativas de implantação de uma<br />
indústria nacional só vão ganhar força na década<br />
de trinta do século 20, em outro momento de<br />
exceção. No nordeste brasileiro, usineiros de<br />
açúcar seguem sendo os comandantes da economia<br />
e política locais. Quem decide quais os<br />
participantes desta nação? Quem eram os novos<br />
“homens bons” que iriam decidir sobre o destino<br />
dela?<br />
Nesta discussão sobre a nova nação brasileira,<br />
o que de fato estava em jogo era a decisão<br />
sobre os partícipes da cidadania ativa: quem<br />
decidia os rumos do país, já que não havia uma<br />
cabeça coroada que decidisse, em última instância,<br />
pela nação, ela própria constituída, se<br />
não formalmente (porque a Constituição do Império<br />
não se referia à instituição da escravidão),<br />
mas na prática, por herança da legislação colonial,<br />
por indivíduos que eram senhores ou escravos<br />
intermediados por uma terceira categoria,<br />
os libertos, 2 que tinham um status legal<br />
e formal diverso dos homens livres.<br />
Além disso, já não havia a Família Imperial,<br />
nem uma aristocracia (digamos que a nobreza<br />
local sempre foi um tanto ou quanto insólita) e<br />
tampouco existiam escravos. Seriam, entretanto,<br />
todos “homens livres”? Implantada a Liberdade,<br />
passamos a viver o reino da Igualdade?<br />
Diante da imensa maioria formada por homensde-cor,<br />
ex-escravos ou seus descendentes,<br />
como se comportaram as elites dirigentes, formadas<br />
por donos de terras, ex-donos de escravos<br />
ou por letrados, muitas vezes a seu serviço?<br />
Como se realiza a sua inclusão em nação e<br />
cidadanias brasileiras?<br />
2<br />
Manuela Carneiro da Cunha, em seu livro “Negros, estrangeiros”<br />
(<strong>19</strong>85), faz um estudo sobre os libertos na<br />
sociedade brasileira, como elementos intrínsecos à ordem<br />
escravocrata, na qual estava embutido o espaço em que,<br />
via violência e opressão (os mecanismos de controle), se<br />
moviam os libertos. A ordem escravocrata, face ao grande<br />
número de escravos, tinha a sua segurança diretamente<br />
dependente da satisfação da população livre de cor, que<br />
inclusive podia ou não ter interesses diferentes dos escravos.<br />
Os libertos que, por sua vez, criavam múltiplas formas<br />
de solidariedade entre si tinham suas relações com o<br />
mundo dos brancos reguladas institucionalmente, e muito<br />
na dependência da forma pela qual alcançavam a libertação<br />
- os caminhos da alforria que, na maioria das vezes,<br />
era comprada por pecúlio próprio, formado por trabalho,<br />
empréstimo tomado à junta de alforria, ao canto ou à<br />
irmandade da qual fazia parte. No entanto, apesar de paga,<br />
a alforria era apresentada sempre como uma dádiva do<br />
senhor, sempre vista como uma questão privada, na qual<br />
o Estado não devia intervir (e só o fez, como vimos, a<br />
partir de 1871), por fazer parte do direito de propriedade.<br />
Tampouco a Igreja tinha o direito de intervir. Assim<br />
apresentada, a alforria tinha como contraface a criação de<br />
laços morais entre patrono e liberto, que passava a dever<br />
“gratidão” e uma espécie de vassalagem, ou de subordinação<br />
política extra-econômica. A ingratidão podia, inclusive,<br />
servir de motivo para a rescisão da alforria. Segundo a<br />
autora (p.48), “A esperança de manumissão é central ao<br />
sistema escravista e complementar aos castigos e à violência<br />
física usados. Era construída de tal modo que ela<br />
passava pela dependência pessoal do senhor ou eventualmente<br />
de outro senhor. Aqui estaria o fundamento do<br />
sistema de subordinação que se mantém pós-alforria”.<br />
Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 12, n. <strong>19</strong>, p. <strong>19</strong>-40, jan./jun., 2003<br />
21