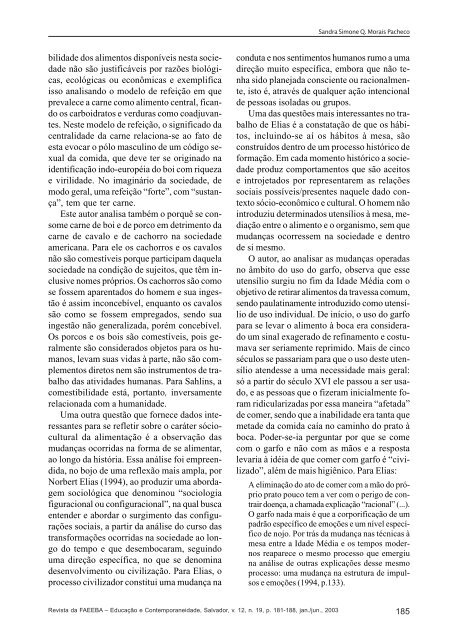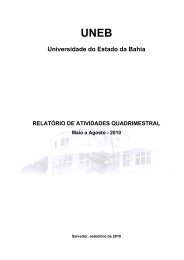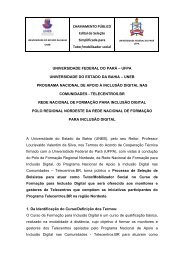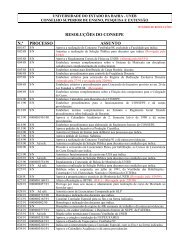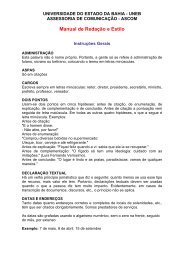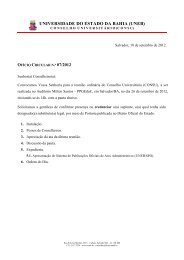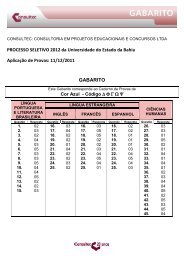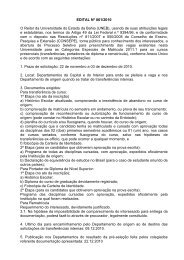Edição Nº 19 - Uneb
Edição Nº 19 - Uneb
Edição Nº 19 - Uneb
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sandra Simone Q. Morais Pacheco<br />
bilidade dos alimentos disponíveis nesta sociedade<br />
não são justificáveis por razões biológicas,<br />
ecológicas ou econômicas e exemplifica<br />
isso analisando o modelo de refeição em que<br />
prevalece a carne como alimento central, ficando<br />
os carboidratos e verduras como coadjuvantes.<br />
Neste modelo de refeição, o significado da<br />
centralidade da carne relaciona-se ao fato de<br />
esta evocar o pólo masculino de um código sexual<br />
da comida, que deve ter se originado na<br />
identificação indo-européia do boi com riqueza<br />
e virilidade. No imaginário da sociedade, de<br />
modo geral, uma refeição “forte”, com “sustança”,<br />
tem que ter carne.<br />
Este autor analisa também o porquê se consome<br />
carne de boi e de porco em detrimento da<br />
carne de cavalo e de cachorro na sociedade<br />
americana. Para ele os cachorros e os cavalos<br />
não são comestíveis porque participam daquela<br />
sociedade na condição de sujeitos, que têm inclusive<br />
nomes próprios. Os cachorros são como<br />
se fossem aparentados do homem e sua ingestão<br />
é assim inconcebível, enquanto os cavalos<br />
são como se fossem empregados, sendo sua<br />
ingestão não generalizada, porém concebível.<br />
Os porcos e os bois são comestíveis, pois geralmente<br />
são considerados objetos para os humanos,<br />
levam suas vidas à parte, não são complementos<br />
diretos nem são instrumentos de trabalho<br />
das atividades humanas. Para Sahlins, a<br />
comestibilidade está, portanto, inversamente<br />
relacionada com a humanidade.<br />
Uma outra questão que fornece dados interessantes<br />
para se refletir sobre o caráter sóciocultural<br />
da alimentação é a observação das<br />
mudanças ocorridas na forma de se alimentar,<br />
ao longo da história. Essa análise foi empreendida,<br />
no bojo de uma reflexão mais ampla, por<br />
Norbert Elias (<strong>19</strong>94), ao produzir uma abordagem<br />
sociológica que denominou “sociologia<br />
figuracional ou configuracional”, na qual busca<br />
entender e abordar o surgimento das configurações<br />
sociais, a partir da análise do curso das<br />
transformações ocorridas na sociedade ao longo<br />
do tempo e que desembocaram, seguindo<br />
uma direção específica, no que se denomina<br />
desenvolvimento ou civilização. Para Elias, o<br />
processo civilizador constitui uma mudança na<br />
conduta e nos sentimentos humanos rumo a uma<br />
direção muito específica, embora que não tenha<br />
sido planejada consciente ou racionalmente,<br />
isto é, através de qualquer ação intencional<br />
de pessoas isoladas ou grupos.<br />
Uma das questões mais interessantes no trabalho<br />
de Elias é a constatação de que os hábitos,<br />
incluindo-se aí os hábitos à mesa, são<br />
construídos dentro de um processo histórico de<br />
formação. Em cada momento histórico a sociedade<br />
produz comportamentos que são aceitos<br />
e introjetados por representarem as relações<br />
sociais possíveis/presentes naquele dado contexto<br />
sócio-econômico e cultural. O homem não<br />
introduziu determinados utensílios à mesa, mediação<br />
entre o alimento e o organismo, sem que<br />
mudanças ocorressem na sociedade e dentro<br />
de si mesmo.<br />
O autor, ao analisar as mudanças operadas<br />
no âmbito do uso do garfo, observa que esse<br />
utensílio surgiu no fim da Idade Média com o<br />
objetivo de retirar alimentos da travessa comum,<br />
sendo paulatinamente introduzido como utensílio<br />
de uso individual. De início, o uso do garfo<br />
para se levar o alimento à boca era considerado<br />
um sinal exagerado de refinamento e costumava<br />
ser seriamente reprimido. Mais de cinco<br />
séculos se passariam para que o uso deste utensílio<br />
atendesse a uma necessidade mais geral:<br />
só a partir do século XVI ele passou a ser usado,<br />
e as pessoas que o fizeram inicialmente foram<br />
ridicularizadas por essa maneira “afetada”<br />
de comer, sendo que a inabilidade era tanta que<br />
metade da comida caía no caminho do prato à<br />
boca. Poder-se-ia perguntar por que se come<br />
com o garfo e não com as mãos e a resposta<br />
levaria à idéia de que comer com garfo é “civilizado”,<br />
além de mais higiênico. Para Elias:<br />
A eliminação do ato de comer com a mão do próprio<br />
prato pouco tem a ver com o perigo de contrair<br />
doença, a chamada explicação “racional” (...).<br />
O garfo nada mais é que a corporificação de um<br />
padrão específico de emoções e um nível específico<br />
de nojo. Por trás da mudança nas técnicas à<br />
mesa entre a Idade Média e os tempos modernos<br />
reaparece o mesmo processo que emergiu<br />
na análise de outras explicações desse mesmo<br />
processo: uma mudança na estrutura de impulsos<br />
e emoções (<strong>19</strong>94, p.133).<br />
Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 12, n. <strong>19</strong>, p. 181-188, jan./jun., 2003<br />
185