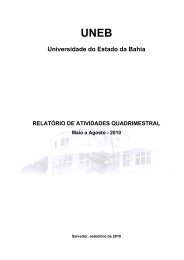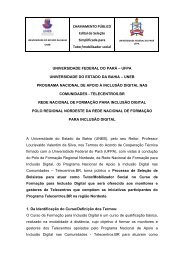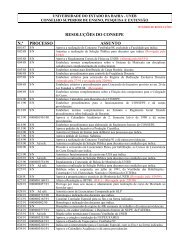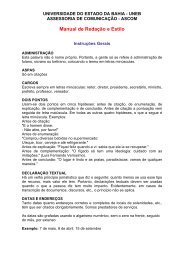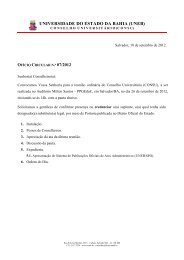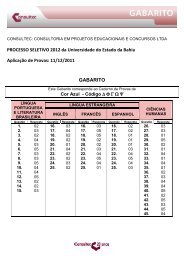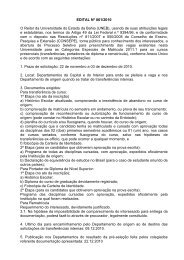Edição Nº 19 - Uneb
Edição Nº 19 - Uneb
Edição Nº 19 - Uneb
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Yara Dulce B. de Ataíde; Edmilson de Sena Morais<br />
vador. Esta instituição, dentre outras propostas,<br />
além da assistência médica social, promove<br />
ações educativas com o objetivo de estimular o<br />
desenvolvimento da consciência ecológica, o<br />
exercício da cidadania e a elevação da autoestima,<br />
convergindo essas atividades no sentido<br />
de resgatar a identidade local, social, étnica,<br />
histórica e cultural da comunidade de entorno.<br />
Esse Centro instituiu o Curso de Corte e<br />
Costura Étnica, numa perspectiva sócio-político-cultural<br />
que faz parte de um desdobramento<br />
mais amplo do seu projeto político-social. Sua<br />
perspectiva é viabilizar a inclusão social de sujeitos<br />
de uma área que sofre problemas estruturais<br />
de habitação, moradia, assistência médico-sanitária<br />
e outros, presentes nos bairros periféricos<br />
das grandes metrópoles. Nesse contexto,<br />
foi percebida a necessidade de possibilitar<br />
a esses sujeitos, de maioria afro-descendente,<br />
uma reflexão a respeito da sua identidade<br />
étnico-cultural, no sentido de contribuir para a<br />
construção do referencial próprio desses sujeitos<br />
étnico-sociais enquanto cidadãos da periferia<br />
de Salvador.<br />
Antonio Risério (<strong>19</strong>88) considera Salvador<br />
uma cidade luso-banto-jeje-nagô pela sua configuração<br />
matricial étnica africana presente no<br />
cotidiano, nas falas, nos gestos, nos rituais, no<br />
colorido dos trajes e nas gentes que formam<br />
seu povo. Por isso, Salvador é considerada a<br />
segunda maior cidade de contingente negro,<br />
depois da Nigéria. Entretanto, percebemos que<br />
Risério eliminou o aborígine dessa configuração,<br />
apesar do elemento índio ter sido completamente<br />
dizimado em áreas das grandes metrópoles<br />
coloniais. Mesmo assim, Darcy Ribeiro,<br />
em seu livro O Povo Brasileiro considera<br />
que o útero brasileiro foi indígena.<br />
Segundo Ribeiro (<strong>19</strong>95), os primeiros contingentes<br />
africanos trazidos como escravos para a<br />
Bahia e outras áreas, posteriormente inseridas<br />
na primeira economia colonial – que foi a cultura<br />
da cana-de-açúcar – foram masculinos, e existem<br />
evidências de que muitos colonizadores usaram<br />
as índias escravizadas, resgatadas dos massacres,<br />
para a reprodução do braço escravo.<br />
Darcy Ribeiro (<strong>19</strong>95), referindo-se à etnia<br />
brasileira, considera o mameluco como o verdadeiro<br />
brasileiro. Na sua concepção, o africano<br />
entra em segunda instância, não negando,<br />
contudo, sua grande contribuição étnico-cultural<br />
na formação do povo brasileiro. Outrossim,<br />
vale reforçar que o processo de miscigenação<br />
foi compulsório em alguns momentos, mas foi<br />
espontâneo em outros, como a presença de indígenas<br />
nos quilombos de Palmares e, conseqüentemente,<br />
em muitos dos milhares de quilombos<br />
que se formaram ao longo da luta contra<br />
a escravidão. Em contrapartida, havia africanos<br />
convivendo em aldeias indígenas. Podemos<br />
chamar esse fenômeno de a “solidariedade<br />
coexistência dos oprimidos”.<br />
Não podemos perder de vista que a presença<br />
indígena não permanece apenas nos elementos<br />
da nossa cultura material, mas a expectativa<br />
de vida desses povos propiciaram a sobrevivência<br />
de outros tantos que aqui chegaram, africanos<br />
e europeus. Como “donos da terra”, passaram<br />
seus conhecimentos tecnológicos e medicinais,<br />
táticas de sobrevivência nas matas tropicais<br />
e um modo de viver próprio que foi assimilado<br />
pelos estrangeiros. Além disso, trazemos<br />
em nossos traços fisionômicos a herança genética<br />
do nativo ancestral.<br />
Por conta disso, a expressão de Risério lusobantu-jêje-nago<br />
deveria conter, também, uma<br />
referencia ao aborígine, também nosso ancestral,<br />
que as comunidades de terreiro reverenciam<br />
chamando-o “caboclo”. Dessa maneira,<br />
propomos incluir na sua denominação um outro<br />
elemento, o tupi. Na realidade, somos um povo<br />
luso-tupi-bantu-jêje-nagô, pluralizado continuamente<br />
pelas mais diversas culturas que migraram<br />
para o nosso país, ao longo da nossa<br />
história, e continuam cada vez mais migrando e<br />
reformulando valores ético-estéticos e sociais.<br />
2. Identidade: processo histórico<br />
das interações sociais<br />
A contemporaneidade se caracteriza como<br />
uma fase de acirramento das contradições sociais<br />
e de confrontos étnico-culturais. Esses<br />
fenômenos desnudaram a face oculta e espúria<br />
da hegemonia eurocentrista e obrigaram todos<br />
a reverem privilégios, conceitos e preconceitos<br />
Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 12, n. <strong>19</strong>, p. 81-98, jan./jun., 2003<br />
87