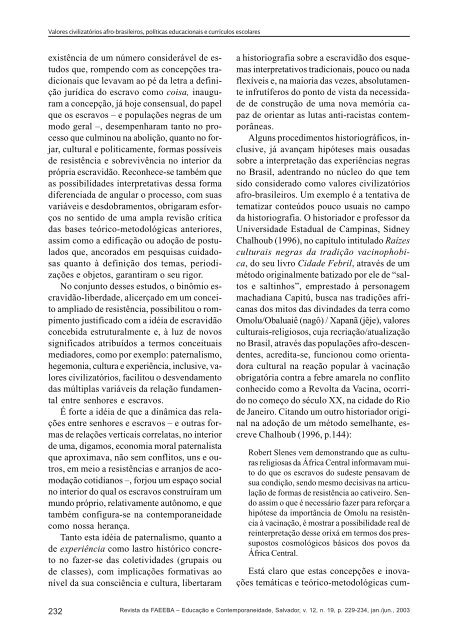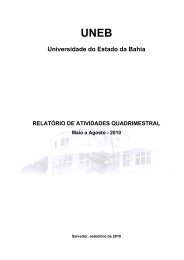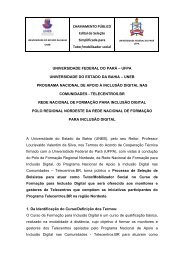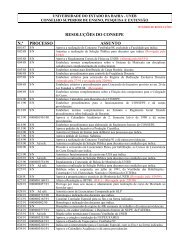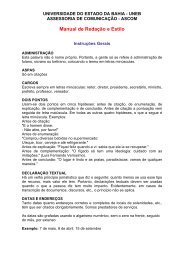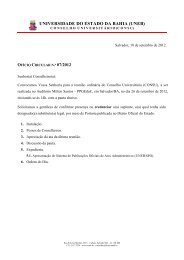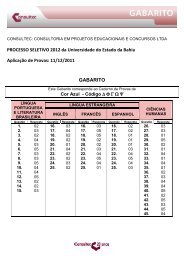Edição Nº 19 - Uneb
Edição Nº 19 - Uneb
Edição Nº 19 - Uneb
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Valores civilizatórios afro-brasileiros, políticas educacionais e currículos escolares<br />
existência de um número considerável de estudos<br />
que, rompendo com as concepções tradicionais<br />
que levavam ao pé da letra a definição<br />
jurídica do escravo como coisa, inauguram<br />
a concepção, já hoje consensual, do papel<br />
que os escravos – e populações negras de um<br />
modo geral –, desempenharam tanto no processo<br />
que culminou na abolição, quanto no forjar,<br />
cultural e politicamente, formas possíveis<br />
de resistência e sobrevivência no interior da<br />
própria escravidão. Reconhece-se também que<br />
as possibilidades interpretativas dessa forma<br />
diferenciada de angular o processo, com suas<br />
variáveis e desdobramentos, obrigaram esforços<br />
no sentido de uma ampla revisão crítica<br />
das bases teórico-metodológicas anteriores,<br />
assim como a edificação ou adoção de postulados<br />
que, ancorados em pesquisas cuidadosas<br />
quanto à definição dos temas, periodizações<br />
e objetos, garantiram o seu rigor.<br />
No conjunto desses estudos, o binômio escravidão-liberdade,<br />
alicerçado em um conceito<br />
ampliado de resistência, possibilitou o rompimento<br />
justificado com a idéia de escravidão<br />
concebida estruturalmente e, à luz de novos<br />
significados atribuídos a termos conceituais<br />
mediadores, como por exemplo: paternalismo,<br />
hegemonia, cultura e experiência, inclusive, valores<br />
civilizatórios, facilitou o desvendamento<br />
das múltiplas variáveis da relação fundamental<br />
entre senhores e escravos.<br />
É forte a idéia de que a dinâmica das relações<br />
entre senhores e escravos – e outras formas<br />
de relações verticais correlatas, no interior<br />
de uma, digamos, economia moral paternalista<br />
que aproximava, não sem conflitos, uns e outros,<br />
em meio a resistências e arranjos de acomodação<br />
cotidianos –, forjou um espaço social<br />
no interior do qual os escravos construíram um<br />
mundo próprio, relativamente autônomo, e que<br />
também configura-se na contemporaneidade<br />
como nossa herança.<br />
Tanto esta idéia de paternalismo, quanto a<br />
de experiência como lastro histórico concreto<br />
no fazer-se das coletividades (grupais ou<br />
de classes), com implicações formativas ao<br />
nível da sua consciência e cultura, libertaram<br />
a historiografia sobre a escravidão dos esquemas<br />
interpretativos tradicionais, pouco ou nada<br />
flexíveis e, na maioria das vezes, absolutamente<br />
infrutíferos do ponto de vista da necessidade<br />
de construção de uma nova memória capaz<br />
de orientar as lutas anti-racistas contemporâneas.<br />
Alguns procedimentos historiográficos, inclusive,<br />
já avançam hipóteses mais ousadas<br />
sobre a interpretação das experiências negras<br />
no Brasil, adentrando no núcleo do que tem<br />
sido considerado como valores civilizatórios<br />
afro-brasileiros. Um exemplo é a tentativa de<br />
tematizar conteúdos pouco usuais no campo<br />
da historiografia. O historiador e professor da<br />
Universidade Estadual de Campinas, Sidney<br />
Chalhoub (<strong>19</strong>96), no capítulo intitulado Raízes<br />
culturais negras da tradição vacinophobica,<br />
do seu livro Cidade Febril, através de um<br />
método originalmente batizado por ele de “saltos<br />
e saltinhos”, emprestado à personagem<br />
machadiana Capitú, busca nas tradições africanas<br />
dos mitos das divindades da terra como<br />
Omolu/Obaluaiê (nagô) / Xapanã (jêje), valores<br />
culturais-religiosos, cuja recriação/atualização<br />
no Brasil, através das populações afro-descendentes,<br />
acredita-se, funcionou como orientadora<br />
cultural na reação popular à vacinação<br />
obrigatória contra a febre amarela no conflito<br />
conhecido como a Revolta da Vacina, ocorrido<br />
no começo do século XX, na cidade do Rio<br />
de Janeiro. Citando um outro historiador original<br />
na adoção de um método semelhante, escreve<br />
Chalhoub (<strong>19</strong>96, p.144):<br />
Robert Slenes vem demonstrando que as culturas<br />
religiosas da África Central informavam muito<br />
do que os escravos do sudeste pensavam de<br />
sua condição, sendo mesmo decisivas na articulação<br />
de formas de resistência ao cativeiro. Sendo<br />
assim o que é necessário fazer para reforçar a<br />
hipótese da importância de Omolu na resistência<br />
à vacinação, é mostrar a possibilidade real de<br />
reinterpretação desse orixá em termos dos pressupostos<br />
cosmológicos básicos dos povos da<br />
África Central.<br />
Está claro que estas concepções e inovações<br />
temáticas e teórico-metodológicas cum-<br />
232 Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 12, n. <strong>19</strong>, p. 229-234, jan./jun., 2003