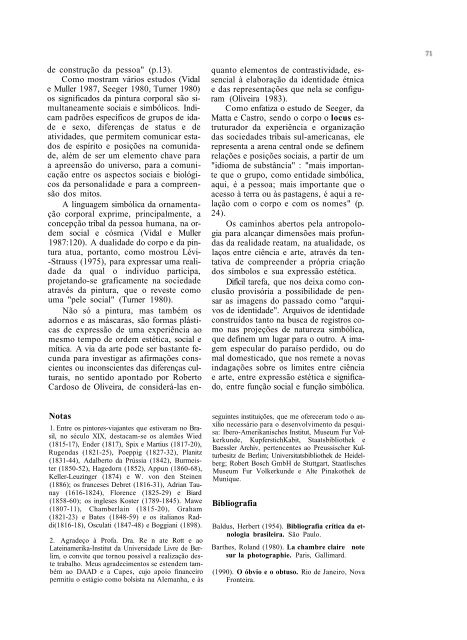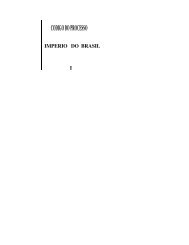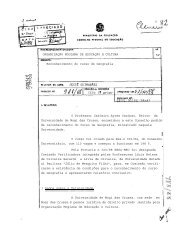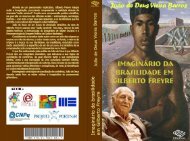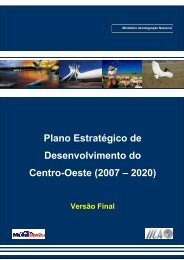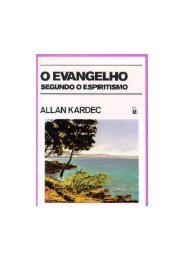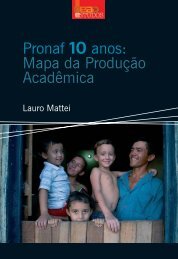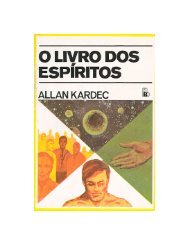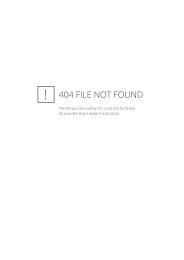de construção da pessoa" (p.13).Como mostram vários estu<strong>do</strong>s (Vidale Muller 1987, Seeger 1980, Turner 1980)os significa<strong>do</strong>s da pintura corporal são simultaneamentesociais e simbólicos. Indicampadrões específicos de grupos de idadee sexo, diferenças de status e deatividades, que permitem comunicar esta<strong>do</strong>sde espírito e posições na comunidade,além de ser um elemento chave paraa apreensão <strong>do</strong> universo, para a comunicaçãoentre os aspectos sociais e biológicosda personalidade e para a compreensão<strong>do</strong>s mitos.A linguagem simbólica da ornamentaçãocorporal exprime, principalmente, aconcepção tribal da pessoa humana, na ordemsocial e cósmica (Vidal e Muller1987:120). A dualidade <strong>do</strong> corpo e da pinturaatua, portanto, como mostrou Lévi--Strauss (1975), para expressar uma realidadeda qual o indivíduo participa,projetan<strong>do</strong>-se graficamente na sociedadeatravés da pintura, que o reveste comouma "pele social" (Turner 1980).Não só a pintura, mas também osa<strong>do</strong>r<strong>no</strong>s e as máscaras, são formas plásticasde expressão de uma experiência aomesmo tempo de ordem estética, social emítica. A via da arte pode ser bastante fecundapara investigar as afirmações conscientesou inconscientes das diferenças culturais,<strong>no</strong> senti<strong>do</strong> aponta<strong>do</strong> por RobertoCar<strong>do</strong>so de Oliveira, de considerá-las enquantoelementos de contrastividade, essencialà elaboração da identidade étnicae das representações que nela se configuram(Oliveira 1983).Como enfatiza o estu<strong>do</strong> de Seeger, daMatta e Castro, sen<strong>do</strong> o corpo o locus estrutura<strong>do</strong>rda experiência e organizaçãodas sociedades tribais sul-americanas, elerepresenta a arena central onde se definemrelações e posições sociais, a partir de um"idioma de substância" : "mais importanteque o grupo, como entidade simbólica,aqui, é a pessoa; mais importante que oacesso à terra ou às pastagens, é aqui a relaçãocom o corpo e com os <strong>no</strong>mes" (p.24).Os caminhos abertos pela antropologiapara alcançar dimensões mais profundasda realidade reatam, na atualidade, oslaços entre ciência e arte, através da tentativade compreender a própria criação<strong>do</strong>s símbolos e sua expressão estética.Difícil tarefa, que <strong>no</strong>s deixa como conclusãoprovisória a possibilidade de pensaras imagens <strong>do</strong> passa<strong>do</strong> como "arquivosde identidade". Arquivos de identidadeconstruí<strong>do</strong>s tanto na busca de registros comonas projeções de natureza simbólica,que definem um lugar para o outro. A imagemespecular <strong>do</strong> paraíso perdi<strong>do</strong>, ou <strong>do</strong>mal <strong>do</strong>mestica<strong>do</strong>, que <strong>no</strong>s remete a <strong>no</strong>vasindagações sobre os limites entre ciênciae arte, entre expressão estética e significa<strong>do</strong>,entre função social e função simbólica.Notas1. Entre os pintores-viajantes que estiveram <strong>no</strong> <strong>Brasil</strong>,<strong>no</strong> século XIX, destacam-se os alemães Wied(1815-17), Ender (1817), Spix e Martius (1817-20),Rugendas (1821-25), Poeppig (1827-32), Planitz(1831-44), Adalberto da Prússia (1842), Burmeister(1850-52), Hage<strong>do</strong>rn (1852), Appun (1860-68),Keller-Leuzinger (1874) e W. von den Steinen(1886); os franceses Debret (1816-31), Adrian Taunay(1616-1824), Florence (1825-29) e Biard(1858-60); os ingleses Koster (1789-1845). Mawe(1807-11), Chamberlain (1815-20), Graham(1821-23) e Bates (1848-59) e os italia<strong>no</strong>s Raddi(1816-18),Osculati (1847-48) e Boggiani (1898).2. Agradeço à Profa. Dra. Re n ate Rott e aoLateinamerika-Institut da Universidade Livre de Berlim,o convite que tor<strong>no</strong>u possível a realização destetrabalho. Meus agradecimentos se estendem tambémao DAAD e a Capes, cujo apoio financeiropermitiu o estágio como bolsista na Alemanha, e àsseguintes instituições, que me ofereceram to<strong>do</strong> o auxílionecessário para o desenvolvimento da pesquisa:Ibero-Amerikanisches Institut, Museum Fur Volkerkunde,KupferstichKabit, Staatsbibliothek eBaessler Archiv, pertencentes ao Preussischer Kulturbesitzde Berlim; Universitatsbibliothek de Heidelberg;Robert Bosch GmbH de Stuttgart, StaatlischesMuseum Fur Volkerkunde e Alte Pinakothek deMunique.BibliografiaBaldus, Herbert (1954). Bibliografia crítica da et<strong>no</strong>logiabrasileira. São Paulo.Barthes, Roland (1980). La chambre claire <strong>no</strong>tesur la photographie. Paris, Gallimard.(1990). O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro, NovaFronteira.
Beck, Han<strong>no</strong>. (1978). "A arte descobre um continente".Artistas alemães na América Latina.Berlim, Instituto Ibero-America<strong>no</strong>.Benjamin, Walter (1975). "A obra de arte na épocade suas técnicas de reprodução" Textosescolhi<strong>do</strong>s. Coleção Os Pensa<strong>do</strong>res, São Paulo,Abril Cultural.(1985). "Pequena história da fotografia". Obras escolhidasMagia e Técnica. Arte e Política, 4? edição,São Paulo, <strong>Brasil</strong>iense.Bourdieu, Pierre et alli (1985). Un art moyen Essaisur les usages sociaux de la photographie.Paris, Minuit.Cavalcanti, M. Laura (coord.) (1988). "Os estu<strong>do</strong>sde folclore <strong>no</strong> <strong>Brasil</strong>", XII Encontro Anual daANPOCS. Águas de São Pedro.Courtine, J.J. e Haroche, Claudine (1988). "O homemperscruta<strong>do</strong> - semiologia e antropologiapolítica da expressão e da fisio<strong>no</strong>mia <strong>do</strong> séculoXVII ao século XIX". Sujeito e Texto. SérieCader<strong>no</strong>s PUC-31, São Paulo, Educ.Gomes Jr., Guilherme Simões (1992). "A Hermenêuticacultural de Clifford Geertz". RevistaMargem. PUC/São Paulo, n.l, março, Educ,págs. 37-46.Hartmann, Thekla (1975). A contribuição da ico<strong>no</strong>grafiapara o conhecimento <strong>do</strong>s índios brasileiros<strong>do</strong> século XIX. Coleção Museu Paulista,Série de Et<strong>no</strong>logia, v.l, São Paulo, USPKate, Herman Ten (1910). "Sur quesques peintreset<strong>no</strong>graphesdans I' Amérique du Sud". UAntropologie.T. XXII 1911.Laplantine, François. (1988). Aprender Antropologia.São Paulo, <strong>Brasil</strong>iense.Leite, Miriam Moreira. (1988). "A fotografia e as ciênciashumanas". BIB, Rio de Janeiro, n.25, págs.83-90.Lévi-Strauss. (1985). Raça e História. Coleção OsPensa<strong>do</strong>res, 2a. edição, São Paulo, Abril Cultural.(1975). Antropologia estrutural, v.l., Rio de Janeiro,Tempo <strong>Brasil</strong>eiro.Loschner, Renate. (1978). "A representação artísticada América Latina <strong>no</strong> século XIX sob a influênciade Alexander von Humboldt". ArtistasAlemães na América Latina. Berlim,Instituto Ibero-America<strong>no</strong>.Ortiz, Renato. (1985). Cultura popular: românticose folcloristas. São Paulo, PUC.Martius, Cari F.P (1867). O Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> direito entreos autóctones <strong>do</strong> <strong>Brasil</strong>. São Paulo,EDUSP, 1982.Oliveira, Roberto Car<strong>do</strong>so. (1983). Enigmas e soluções.Exercícios de et<strong>no</strong>logia e de crítica.Rio de Janeiro, Tempo <strong>Brasil</strong>eiro.Orlandi, Eni P (1990). Terra à vista. Discurso <strong>do</strong>confronto: velho e <strong>no</strong>vo mun<strong>do</strong>. São Paulo,Cortez.Porto Alegre, Maria Sylvia. (1989). "O <strong>Brasil</strong> descobreos sertões. A expedição científica de 1859ao Ceará", Ciências Sociais Hoje. Vértice/ANPOCS.Queiroz, M.Isaura Pereira de (1988). "Viajantes, séculoXIX: negras, escravas e livres <strong>no</strong> Rio deJaneiro". Revista <strong>do</strong> IEB n.28.Ribeiro, Darcy (editor) (1987). Suma et<strong>no</strong>lógicabrasileira. Arte índia, v.3, Rio de Janeiro.Schwarcz, Lilia K.M. (1988). A Era <strong>do</strong>s museus <strong>no</strong><strong>Brasil</strong>: 1870 -1930. Série História e CiênciasSociais, n.6, IDESP, São Paulo.Seeger, A., Matta.Roberto da e Castro, Eduar<strong>do</strong> V(1987) "A construção da pessoa nas sociedadesindígenas brasileiras".Sociedades indígenase indigenismo <strong>no</strong> <strong>Brasil</strong>. Rio de Janeiro,UFRJ.Sussekind, Flora. (1990). O <strong>Brasil</strong> não é longe daqui.São Paulo, Companhia das Letras.Turner, Terence. The social skin. in: Chefas, J.& Levwin,R. (ed.) Not work alone. Survey of activitiessuperfluous to survival. Lon<strong>do</strong>n, TempleSmith, págs. 112-42.Vidal, Lux e Muller, Regina A.P "Pintura e a<strong>do</strong>r<strong>no</strong>scorporais", in Suma et<strong>no</strong>lógica brasileira.op. cit.
- Page 2 and 3:
ÍNDIOS NO BRASIL
- Page 4 and 5:
"índios no Brasil" é uma publica
- Page 6 and 7:
ÍNDIOS NO BRASILCom a chegada das
- Page 8 and 9:
ÍNDICEOS ÍNDIOS E A SECRETARIA MU
- Page 10 and 11:
A Severo Gomes,amigo dos índios
- Page 12 and 13:
500 Anos - Caminhos da Memória,Tri
- Page 14 and 15:
As sociedades indígenas no Brasil
- Page 16 and 17:
elaboradas nesse processo de contat
- Page 18 and 19:
índio Xavante fala -durante ainaug
- Page 20 and 21:
De todos esses critérios o que sob
- Page 22 and 23:
A nominação,iniciação e morte d
- Page 24 and 25:
conhecidas e estão sendo investiga
- Page 26 and 27:
Crianças participamda conversa com
- Page 28 and 29: questão indígena no Brasil, mimeo
- Page 30 and 31: Primeira reunião detrabalho daComi
- Page 32 and 33: O presidente daFUNAI, SidneyPossuel
- Page 34 and 35: Marcos Terena.Orlando Baré eKarai-
- Page 36 and 37: cipais entidades e especialistas, o
- Page 38 and 39: Cartas brasileiras:visão c revisã
- Page 40 and 41: tos sobre a terra brasileira. Algun
- Page 42 and 43: llustTação do livro"Vida do após
- Page 44 and 45: totalmente, esta gente vai estabele
- Page 46 and 47: A lógica das imagens e os habitant
- Page 48 and 49: Coabitam no mesmo quadro diversasor
- Page 50 and 51: se modo, o índio passa a ser mostr
- Page 52 and 53: corda, quando desejam lhe tirar a b
- Page 54 and 55: movimentação dos índios é enfim
- Page 56 and 57: nação da parte do corpo-alimento
- Page 58 and 59: Caminha relata em sua carta ao rei
- Page 60 and 61: Atualmente existemapenas 6exemplare
- Page 62 and 63: Era hábito no reinado de Dom João
- Page 64 and 65: Mais de 3.000artefatos dos fndiosBo
- Page 66 and 67: Imagem e representação do índion
- Page 68 and 69: um determinado saber cultural e seu
- Page 70 and 71: entre os quais, além de curiosos d
- Page 72 and 73: corrente tema das "descobertas", pr
- Page 74 and 75: do versões mais distanciadas da re
- Page 76 and 77: de dos habitantes da terra, cenas g
- Page 80 and 81: DIVERSIDADE CULTURAL DAS SOCIEDADES
- Page 82 and 83: Na mitologia dosíndios Desana, aav
- Page 84 and 85: vive-se. Na morte, a ruptura quase
- Page 86 and 87: seres humanos, plantas e animais, c
- Page 88 and 89: versificadas as imagens que dão co
- Page 90 and 91: de outras expressões humanas, comp
- Page 92 and 93: Motivos ukuktop:a) Kotkotoró uputp
- Page 94 and 95: Motivos da metade"vermelha"1 - Clã
- Page 96 and 97: Motivos da metade"branco"7- Clã Bu
- Page 98 and 99: Línguas indígenas no Brasilcontem
- Page 100 and 101: Os estudos e conclusões sobre o In
- Page 102: das 21 línguas Karib, o maior núm
- Page 108 and 109: Mato Grosso, também isoladas dentr
- Page 110 and 111: O escravo índio, esse desconhecido
- Page 112 and 113: aliás ocorrido seis anos antes. Se
- Page 114 and 115: vilegiando a composição de expedi
- Page 116 and 117: da pelo índio no esquema produtivo
- Page 118 and 119: "índia Guaranicivilizada a caminho
- Page 120 and 121: piorar o trabalho nativo. O resulta
- Page 122 and 123: De fato, no início do século XVII
- Page 124 and 125: vos da terra: "O Estado [do Maranh
- Page 126 and 127: De arredio a isolado:perspectivas d
- Page 128 and 129:
laciosa a ideia do isolamento. Sabe
- Page 130 and 131:
ceram do mapa. Mas é preciso ter c
- Page 132 and 133:
ços que nos parecem genuinamente "
- Page 134 and 135:
tos ou indivíduos do grupo. A comp
- Page 136 and 137:
Sair do isolamento: uma políticade
- Page 138 and 139:
4. Ver o estudo de Farage sobre a i
- Page 140 and 141:
As artes da vida do indígena brasi
- Page 142 and 143:
do o cuidado o combustível para o
- Page 144 and 145:
fuso um movimento de rotação. (Cf
- Page 146 and 147:
são atualmente os índios Kaapor e
- Page 148 and 149:
índios Waiãpidurante o ritual do"
- Page 150 and 151:
Os índios e suas relações com a
- Page 152 and 153:
vos. Dois autores compartilham dest
- Page 154 and 155:
A construção simbólica da nature
- Page 156 and 157:
um xamã e de sua relação com o d
- Page 158 and 159:
O direito envergonhado:o direito e
- Page 160 and 161:
Brasil" 4 , descarta a possibilidad
- Page 162 and 163:
Manuela Carneiro da Cunha, em brilh
- Page 164 and 165:
Ailton Krenak pintaseu rosto durant
- Page 166 and 167:
voltura das terras públicas e das
- Page 168 and 169:
civilização, garantem aos "infest
- Page 170 and 171:
nista oficial, praticamente sem int
- Page 172 and 173:
os direitos originários sobre as t
- Page 174 and 175:
"Homem Camacan-Mongoio" e "MulherCa
- Page 176 and 177:
O amor trágico e infeliz de uma í
- Page 178 and 179:
No início dos anos 40, Cândido Po
- Page 182 and 183:
ÍNDIOS DO PRESENTE E DO FUTURO
- Page 184 and 185:
O índio e a modernidadeWashingtonN
- Page 186 and 187:
A ignorância inicial desse sistema
- Page 188 and 189:
pécies como partes integrantes das
- Page 190 and 191:
Já no neolítico, diz ele, estava
- Page 192 and 193:
para os índios, era boa para o tea
- Page 194 and 195:
preconceitos na relação entre "ci
- Page 196 and 197:
As terras indígenas no BrasilLux B
- Page 198 and 199:
índios assistem avotação do cap
- Page 200 and 201:
pulação do país (o Brasil conta
- Page 202 and 203:
tidades, tomaram a iniciativa de pr
- Page 204 and 205:
Extensão das terras do país: 850
- Page 206 and 207:
fesas frente a estas investidas pre
- Page 208 and 209:
"Xeto, marromba, xeto!" -a represen
- Page 210 and 211:
De cor morena, seu porte, em geral,
- Page 212 and 213:
idas e charutos, a alegria das dan
- Page 214 and 215:
Caboclos dançamno terreiro llê Ax
- Page 216 and 217:
ê, em Pirituba, São Paulo) guarda
- Page 218 and 219:
5. "Fazer no santo" significa um co
- Page 220 and 221:
Amazónia, Amazónia:não os abando
- Page 222 and 223:
Entre os dois tipos de invasores es
- Page 224 and 225:
oeste de Mato Grosso. Regina Valad
- Page 226 and 227:
que sejam postos em perigo os direi
- Page 228 and 229:
A retirada ilegal demadeiras em ár
- Page 230 and 231:
Imprensa e questão indígena:rela
- Page 232 and 233:
um simples cantor como Sting pareci
- Page 234 and 235:
CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO ÍNDIOS NO
- Page 236 and 237:
Albert Eckhout (1610- 1665)"O pinto
- Page 238 and 239:
Livro: WALLACE, Alfred Russel. Anar
- Page 240 and 241:
7. Apiacás com ornamentos, 1828,aq
- Page 242 and 243:
2. Chef de Gouaycourous partantpour
- Page 244 and 245:
19. índias, desenho a nanquim bico
- Page 246 and 247:
Pedro II aceitou com prazer a dedic
- Page 248 and 249:
2. Comei-vos uns aos outros, grafit
- Page 250 and 251:
cias indígenas, acompanhados de al
- Page 252:
Sala dos Mantos Tupinambá1000 cruz
- Page 256 and 257:
Reprodução de uma casa de farinha
- Page 258 and 259:
Fotografias de índios ampliadas ab
- Page 260 and 261:
índios da aldeia Morro da Saudade
- Page 262 and 263:
no e cosmógrafo do rei, em 1555. F
- Page 264 and 265:
te, Canela, Yanomami, Wayana-Apalai
- Page 266 and 267:
to: Isaac Amorim Filho), Pataxo Hã
- Page 268 and 269:
os mortos, com os animais, com os i
- Page 270 and 271:
Padrinho tocando trompete e garotoi
- Page 272 and 273:
Classificação das aves: o etnocon
- Page 274 and 275:
formação. Na transposição dos r
- Page 276 and 277:
Promulgada em 05 de outubro de1988,
- Page 278 and 279:
Garimpo cm áreas indígenas: ocaso
- Page 280 and 281:
"O Museu do Centro Maguta é import
- Page 282 and 283:
Bonecos Waiãpi e Bororó: Anésia
- Page 284 and 285:
SOBRE OS AUTORESAna Maria de M. Bel
- Page 286 and 287:
evistas especializadas e jornais.
- Page 288:
Mudjetíre. Asurini do Xingu e Para